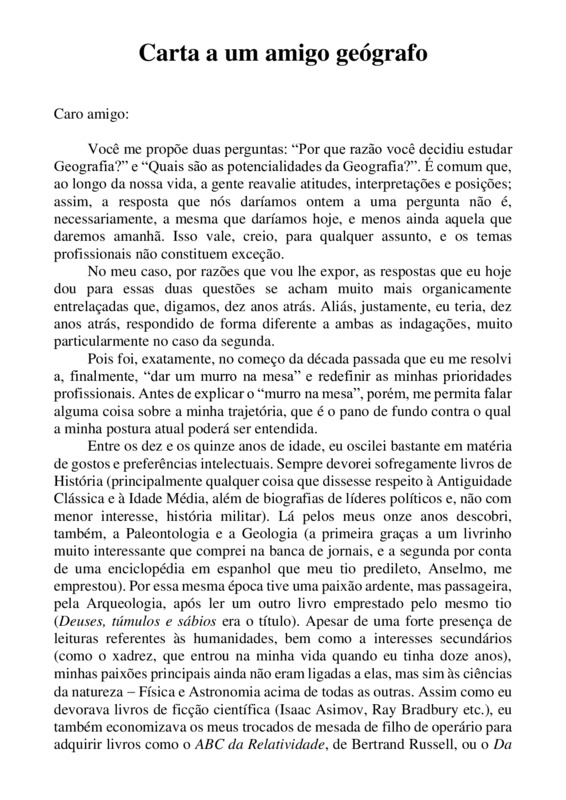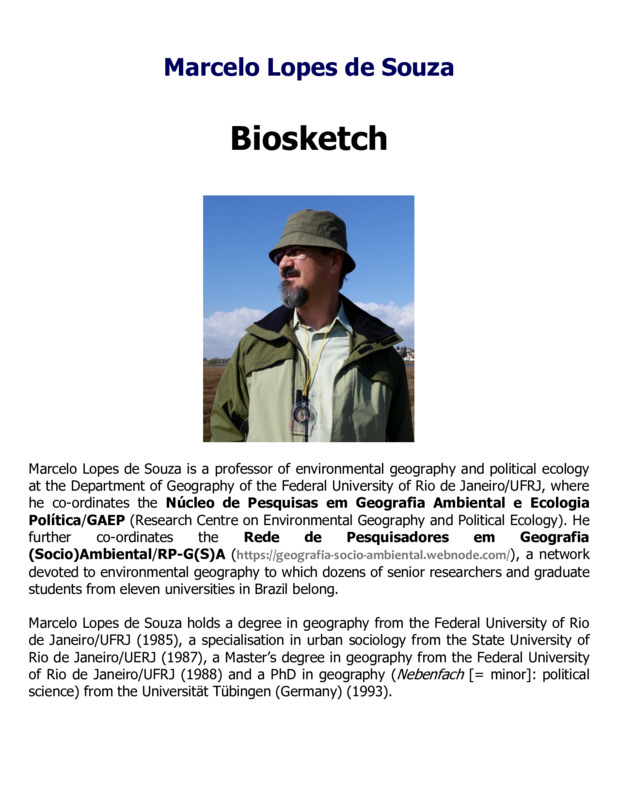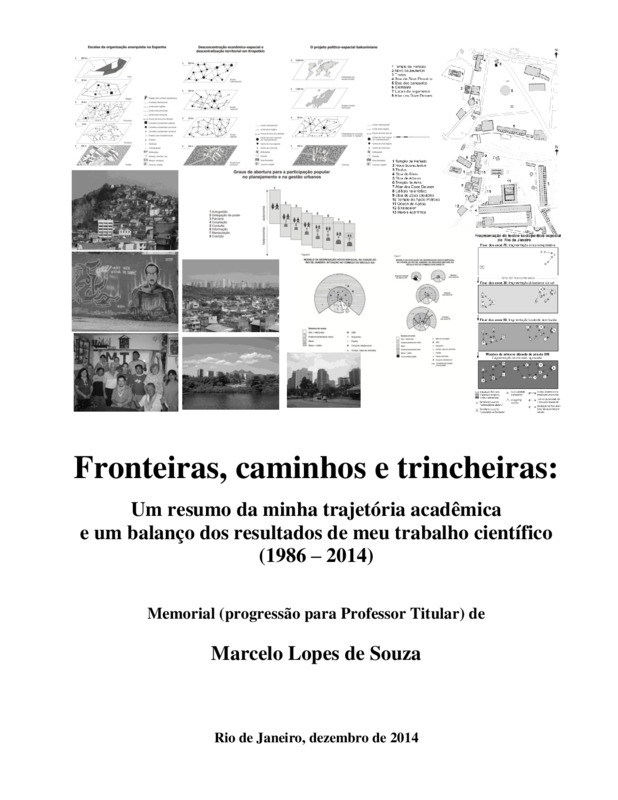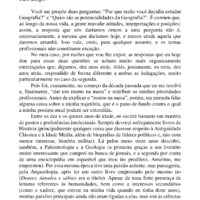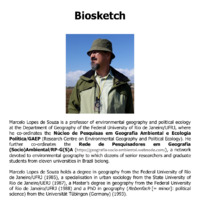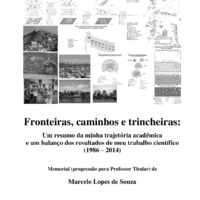-
Título
-
MARCELO JOSE LOPES DE SOUZA
-
Nome Completo
-
MARCELO JOSE LOPES DE SOUZA
-
História de Vida
-
FRONTEIRAS, CAMINHOS E TRINCHEIRAS:
UM RESUMO DA MINHA TRAJETÓRIA ACADÊMICA
E UM BALANÇO DOS RESULTADOS DE MEU TRABALHO CIENTÍFICO
(1986 – 2014)
Marcelo Lopes de Souza
(Rio de Janeiro, dezembro de 2014)
Fronteiras, caminhos e trincheiras:
Um resumo da minha trajetória acadêmica
e um balanço dos resultados de meu trabalho científico
(1986 – 2014)
"Não quero acabar o dia de hoje sem escrever que tenho os olhos cansados, acaso doentes, e não sei se continuarei este diário de fatos, impressões e ideias. Talvez seja melhor parar. (...) Qual! Não posso interromper o Memorial; aqui me tenho outra vez com a pena na mão. Em verdade, dá certo gosto deitar ao papel coisas que querem sair da cabeça, por via da memória ou da reflexão.
Machado de Assis, Memorial de Aires"
PRÓLOGO
Mesmo para alguém que, como eu, tem por costume refletir sistemática e criticamente sobre o seu próprio trabalho com as preocupações de 1) monitorar a coerência e o acerto das escolhas e 2) evitar cometer novamente eventuais erros do passado, fazer um balanço da própria carreira não há se ser um exercício trivial e isento de riscos. É sobejamente conhecido que autores são, frequentemente, juízes muito imperfeitos de suas próprias obras. Não é incomum que isto ou aquilo seja superestimado, ou que, às vezes, justamente por acautelar-se em demasia diante do espectro do narcisismo (ou seja, deste que parece ser um lamentável atributo da maioria dos intelectuais), termine-se por subestimar essa ou aquela realização. Isso sem falar nas lacunas ou omissões, nos exageros involuntários, nos erros de avaliação e em outros pecados e pecadilhos. Porém, é esta a tarefa que se me impõe, e dela tentarei me desincumbir da forma mais honesta que me for possível. Para evitar, precisamente, superestimar ou subestimar o alcance e a utilidade de certas atividades e ideias, busquei ser parcimonioso no que se refere ao julgamento da qualidade das minhas contribuições. Isso, aliás, é totalmente condizente com o significado maior da ciência: se o que importa é a produção de um conhecimento que seja, ao fim e ao cabo, reconhecido coletivamente como válido e quiçá como útil, o que conta é o julgamento alheio dos pares, dos estudantes e do público em geral, e não tanto o juízo que possa dele fazer o próprio autor. Nas páginas que se seguem, procurei realizar o difícil exercício de submeter a um escrutínio crítico aquilo que fiz e tenho feito, mas sem incursionar demasiado, embalado seja por vaidade, seja por modéstia, no terreno da valoração das contribuições.
A ressalva anterior não me impede e nem mesmo me exime, contudo, de fazer uma autocrítica e de proceder a juízos de valor sobre o meu caminhar. Na verdade, é isso que se espera e exige de um memorial. A propósito disso, uma das coisas que, por uma questão de lógica e “cronologia”, e mesmo por razões pedagógicas não é à toa que se trata de algo que incorporei, já há anos, ao repertório das coisas que repito incansavelmente para os meus orientandos, merece, já agora, ser lembrada, é que, independentemente dos erros e dos acertos, é necessário apostar, e apostar sempre, na combinação de pertinácia (não desistir diante de obstáculos, por maiores que sejam!) e paciência (tão necessária a um pesquisador brasileiro...). Essas são, talvez acima de todas as outras, as qualidades que um cientista precisa cultivar. Essas têm sido, desde a adolescência, as qualidades que tenho perseguido. E a isso se pode, também, acrescentar a minha convicção sobre a necessidade de planejamento e preparação: não se lançar em uma empreitada, seja a redação de um volumoso livro ou a de um simples artigo, se os pressupostos para a produção de um trabalho consistente ainda não tiverem sido satisfeitos.
Não se trata isso, evidentemente, de qualquer “receita de sucesso”, daquelas que abundam nos chamados livros de “autoajuda”. O que aqui desejo frisar é, por assim dizer, uma intencionalidade ou disposição básica; e, mais que isso, uma espécie de “método [de trabalho]” (no sentido amplo e etimológico: méthodos [gr.] = caminho para se atingir um fim). Nunca esqueci da recomendação de Marx, resumida por ele no prefácio da segunda edição (alemã) de O Capital: em meio a uma distinção entre o método de exposição e o método de investigação, frisava ele a importância de, antes de pôr-se a (tentar) apresentar o movimento da realidade, buscar apropriar-se, o mais pormenorizadamente possível, do material (o conhecimento) que viabiliza uma tal exposição, ou ao menos uma exposição coerente e convincente. Ou, como ele aconselhou alhures: antes de escrever, leia tudo o que for necessário, leia tudo o que lhe for possível ler sobre o assunto em questão. Em uma época como a nossa, em que vários fatores conspiram para estimular a pressa e trazer à luz, em congressos e publicações, trabalhos em que se desconhece grande parte da literatura especializada, tais palavras de Marx podem soar extemporâneas, anacrônicas. Mas lutar para defender a perenidade desse ensinamento corresponde, a meu ver, a combater um bom combate.
Nem é preciso dizer que tentar assimilar essas qualidades nem sempre evitou problemas ou decisões das quais eu me arrependeria. Afinal, o erro é inerente à ciência e, mais amplamente, à vida e à condição humana, como advertia Sêneca: errare humanum est. Apesar disso, busquei, sempre, não esquecer, também, da famosa ressalva atribuída a S. Bernardo, segundo a qual “persistir no erro é diabólico” (perseverare autem diabolicum)... Espero assim, pelo menos, ter errado muito menos do que poderia ter errado se tivesse dado menos atenção à necessidade de cultivar valores e hábitos como pertinácia, paciência (esta, no meu caso, às vezes em dose menor do que deveria ter sido o caso) e planejamento + preparação. Antes que pareça, porém, que estou a magnificar quaisquer atributos pessoais, no estilo de um enaltecimento de decisões individuais, cumpre deixar claro que sei muito bem que, muito mais que “tomar decisões”, fui, acima de tudo, modelado por circunstâncias da minha vida, para o bem e para o mal. Sem pertinácia e sem planejamento + preparação, provavelmente um filho de operário (tecelão) talvez nem sequer chegasse a uma graduação na UFRJ, a prestigiosa e reverenciada “Federal”, no começo dos anos 1980. E, sem paciência, talvez as condições de estudo em um lar em constante estado de tensão e conflito tivessem me levado não para os livros, mas sim para os mesmos descaminhos trilhados por vários coleguinhas dos tempos de infância e adolescência, na periferia e, depois, no subúrbio do Rio de Janeiro. A decisão pelos livros, no sentido de uma decisão soberana, madura e consciente, veio mais tarde, não nos primeiros anos da década de 70; por essa época, a leitura era, isso sim, um porto seguro, um refúgio, um alívio. E, cada vez mais, um prazer indescritível.
É válido, talvez, observar, como mais uma nota um pouco mais pessoal seja-me permitido isso em um memorial, que levar a sério o supracitado ensinamento de Marx, com o qual topei em 1982 (“antes de escrever, leia tudo o que for necessário”), exigiu de mim uma grande dose de disciplina. Isso, que soa óbvio, uma vez que se aplica a qualquer um, é, talvez, particularmente válido no meu caso, já que, no plano das relações interpessoais extra-acadêmicas, volta e meia agi impulsivamente, na juventude e também depois. É por isso curioso, para mim mesmo, que, em meu trabalho científico, eu tenha conseguido, já relativamente cedo, pôr em prática objetivos como ponderação e paciência. (Uma vez mais: não quero, com isso, de modo algum sugerir que, graças a essa assimilação, inicialmente uma simples intuição, alcancei sempre resultados corretos. Isso, insisto, deixo, por razões éticas e até de etiqueta, para outros avaliarem. O que me parece é que, pelo menos, aprendi cedo a incorporar algumas premissas do trabalho científico, e não creio que isso seja desimportante.) Hoje em dia, ao lançar um olhar retrospectivo sobre a minha carreira, é inevitável que eu a veja entrelaçada com outros aspectos da minha vida. E é inevitável a constatação de que teria sido muito bom se eu tivesse sempre sabido ou conseguido, também em minha vida pessoal, assimilar e aplicar, consequentemente, as virtudes da ponderação e da paciência...
A despeito dos dissabores que um temperamento apaixonado e arrebatado me possa ter trazido em meus anos de juventude temperamento esse perfeitamente capaz, mas geralmente apenas na solidão de uma biblioteca, e diante do bloco de notas ou do computador, de deixar-se amansar, consegui não permitir que, ao menos no ambiente de convívio profissional, divergências de qualquer espécie me afastassem da possibilidade de aprender. Com efeito, desfrutei da companhia e dos ensinamentos de alguns dos melhores pesquisadores e professores da minha época de formação.
Orlando Valverde, no belíssimo prefácio da coletânea Capítulos de Geografia Tropical e do Brasil, da autoria de seu mestre Leo Waibel, relembra que, em determinada ocasião, um intrigante tentara atiçar Waibel contra um de seus assistentes (ao que tudo indica, o próprio Orlando), diante do que o geógrafo alemão, incisivamente, assim reagiu: “a mim não interessam as ideias políticas dele, mas sim as suas ideias científicas” (VALVERDE, 1979:15). Quando li esse prefácio, eu ainda nem sequer havia entrado para o curso de graduação. (1) Mesmo assim, nessa época, eu era um adolescente que já cultivava, por influência paterna (mais indireta até que direta, devido a temores compreensíveis durante o Regime Militar), o contato com a literatura política de esquerda, de modo que, por um lado, qualquer separação rígida entre as “ideias científicas” e as “ideias políticas” me soaria artificial. Por outro lado, e apesar disso, a frase de Waibel (verdadeira admoestação), citada naquele contexto por alguém como Orlando Valverde, geógrafo que não se furtou, especialmente a partir de uma determinada época de sua vida, a engajar-se publicamente por diversas causas, fez muito sentido para mim. Mais que isso: me marcou profundamente. No mesmo prefácio, aliás, podem ser encontradas duas outras frases, estas da lavra do próprio Orlando, que nos ensinam: “[a] personalidade do sábio é indivisível. O homem de ciência não pode ser dissociado do homem de caráter.” (VALVERDE, 1979:13). Para mim, duas coisas ficaram indelevelmente impregnadas em meu espírito, acredito que a partir do momento em que li essas linhas: o imperativo da tolerância, buscando aprender com aqueles que, mesmo professando, às vezes, valores outros, diferentes dos meus, teriam algo ou mesmo muito a me ensinar; o imperativo do respeito pela coerência de uma trajetória, muito especialmente quando embebida em um espírito humanista. Às vezes, quando me flagro agindo ou inclinado a agir de um modo que se situa ou ameaça situar-se aquém desse padrão de comportamento, as palavras de Orlando no prefácio do livro de Waibel vêm à minha cabeça e me lembram daquilo que jamais deveria esquecer, apesar das tentações que se nos oferecem em um mundo acadêmico tão deformado pelo burocratismo e, cada vez mais, pela mercantilização do conhecimento. Manter Orlando próximo a mim, mesmo depois de o destino o roubar de nós em 2006, continua a ser uma das circunstâncias que me permitem confessar, não sem uma pontinha de orgulho: me arrependo de umas tantas coisas, desde o início de minha vida acadêmica e até agora; mas, felizmente, não me envergonho de nada. Tentar não desapontar um mestre tão querido e essencial, mesmo após ele se ter convertido em memória, permanece sendo um incentivo e um norte.
Além do próprio Orlando Valverde, tive a fortuna de desfrutar, como assistente, orientando e/ou aluno, da presença e das palavras, e destacadamente dos conselhos e das críticas, de alguns dos profissionais mais admiráveis que um geógrafo brasileiro poderia ter tido a honra de conhecer pessoalmente. Por dever de justiça, três precisam ser lembrados com o devido relevo: Roberto Lobato Corrêa, Mauricio de Almeida Abreu e Lia Osório Machado. Muito embora em 1983, durante o meu segundo ano na graduação, eu já tivesse “me bandeado para a Geografia Urbana”, como carinhosamente (e de maneira um pouquinho doída) me dizia, de tempos em tempos, Orlando, a influência intelectual e moral de Roberto Lobato e Mauricio Abreu sobre mim, que se concretizou a partir da segunda metade da década de 80, é algo que jamais poderia ser enfatizado o suficiente. Maurício Abreu, após fazer acerbas e, conforme reconheci quase de pronto, justíssimas críticas ao meu estilo de escrever, às vezes um tanto hermético, possivelmente ficou surpreso quando, por isso mesmo, eu lhe perguntei, poucos dias depois da defesa da minha monografia de bacharelado, se ele aceitaria ser o meu orientador de mestrado. Lembro-me, até hoje, da conversa que tivemos, e como ele, após aceitar de imediato o meu pedido, fez-me alguns elogios e deu-me alguns conselhos que nunca esquecerei. As duras e certeiras palavras de Maurício Abreu dono de uma prosa límpida, elegante, praticamente sem igual na Geografia brasileira dos dias de hoje forçaram o amadurecimento de meu estilo. Catalisaram, por assim dizer, a sua lapidação, o seu burilamento. Isso sem contar a importância que, para muito além disso, a consistência da obra de meu ex-orientador de mestrado sempre teve para mim, como fonte de inspiração em matéria não só de ideias, mas também de exemplo emblemático de dignidade acadêmica.
Mas, não menos relevante foi a influência da obra e da personalidade de Roberto Lobato Corrêa. A integridade intelectual de Roberto Lobato; a sua capacidade de expor sistematicamente as ideias; o apreço simultâneo pelo labor teórico e pelo trabalho empírico; a sua disciplina de trabalho, a começar pela exposição em sala de aula: tudo isso, posso dizer sem exagero, sempre me causou enorme e duradoura impressão. De Roberto Lobato não fui orientando, com o fui de Maurício Abreu, mas sim “somente” aluno (durante o curso de mestrado); tive, por outro lado, a felicidade de dividir a mesma sala com ele durante toda a segunda metade da década de 90, e graças a isso pude, intensivamente, no quotidiano, direta (por meio de conselhos e sábias dicas) ou indiretamente (pela observação de seus hábitos de trabalho), aprender muitas coisas.
Por fim, Lia Osório Machado. Fui bolsista de iniciação científica, sob a sua supervisão (mas vinculado a um projeto de pesquisa coordenado por Bertha Becker), em 1982. Para um rapazola de 18 anos de idade, com ideias às vezes extravagantes na cabeça e sonhos de se tornar um pesquisador respeitado, o encontro com Lia Machado foi um turning point. É muito difícil, na realidade, falar de Lia Machado, ainda hoje, com mais razão que emoção, tamanha a admiração que sempre nutri por ela. Tornamo-nos amigos praticamente de imediato, ou por outra: cientificamente, ela “me adotou”, coisa que muito me envaidecia. Talvez tenha envaidecido até demais, e por conta disso houve uma fase de distanciamento, felizmente superada, no início dos anos 1990, por uma nova fase de amizade já então em um patamar muito superior, graças ao amadurecimento do antigo pupilo. Lia Machado “fez a minha cabeça”, talvez antes de mais nada por suas ímpares coragem e sinceridade intelectuais, qualidades que costumam ser atemorizantes e intimidadoras em alguém tão incrivelmente perspicaz e brilhante como ela. Contudo, como aprendi muito cedo a conhecer e apreciar o lado que alguns teimam em não enxergar direito a busca por ajudar e ser construtiva e o entusiasmo e mesmo o carinho ao tentar ajudar a encaminhar a carreira de um jovem pesquisador ou uma jovem pesquisadora, nunca me senti intimidado, mas sim, sempre, gratificado. Gratificado e honrado.
Se digo tudo isso, se presto tais tributos e reconheço as minhas dívidas (e, obviamente, outras tantas poderiam ser mencionadas.) (2), é por um incontornável dever de justiça. Duplamente, aliás. Não somente naquele sentido mais trivial, aquele que se refere ao dever de agradecer a quem devemos algo. Não é só de gratidão que se trata aqui, mas também de realismo e, quase me arriscaria a dizer, de cautela. O leitor há de perceber que me empenhei para construir uma trajetória que fosse, acima de tudo ou pelo menos, coerente. Independentemente de o quanto acertei ao longo dela, acredito que, em si mesmo, esse objetivo de não perder a coerência, orientado pela intransigência de princípios e pela firmeza de propósitos, foi e tem sido, no geral, alcançado. Em decorrência disso, a satisfação que deriva de uma certa sensação de vir cumprindo com aquilo que vejo como a minha obrigação pode, aqui e acolá, ser confundido com o cabotinismo de quem exagera ou se delicia em demasia com o próprio papel. Nada me amofinaria mais que isso, pois uma tal interpretação da minha trajetória e do meu papel não passa pela minha cabeça. Por convicção até (político-)filosófica, bem sei que o indivíduo, tomado isoladamente, tem pouco ou nenhum significado real. Cada um de nós só existe, com tais e quais virtudes, e com tais e quais misérias, em um ambiente social determinado, que nos define e nos imprime as marcas de uma socialização condicionante. À luz disso, forçoso é, a começar por mim mesmo, ao lançar um olhar retrospectivo sobre como construí e o que fiz de minha vida profissional, constatar que, para cada obstáculo, para cada vicissitude, sempre ou quase sempre apareceu, em minha vida, um fator atenuante ou neutralizador: da minha mãe, que tudo fez e tudo suportou para me propiciar um lar, até os meus principais mestres e mentores na universidade, contei com apoios fundamentais. Por isso, deixando de lado todos os outros fatores e todas as outras escalas, de uma coisa tenho certeza: eu não poderia, agora, ao olhar para trás, ter a mesma sensação de ter trilhado um caminho profissional de que me orgulho, se não tivesse tido o privilégio de conviver com Orlando Valverde, Mauricio de Almeida Abreu, Roberto Lobato Corrêa e Lia Osório Machado. Quaisquer que sejam as minhas qualidades na suposição de que de fato existam e não sejam mero autoengano elas se apequenam ou, pelo menos, se relativizam ao serem considerados os ombros dos gigantes sobre os quais eu me apoiei e continuo a me apoiar.
INTRODUÇÃO: CIÊNCIAS E FILOSOFIA, TEORIA E EMPIRIA
O presente balanço cobre um período de quase três décadas. Não começo pelo ano de 1986 pela mera formalidade de ser ele o meu primeiro ano depois de concluído o curso de graduação, mas sim por ser o ano em que iniciei a minha pesquisa de dissertação de mestrado a qual foi a minha primeira empreitada científica de fôlego, tendo deitado raízes cujas pontas até hoje podem ser vistas em meu trabalho.
Antes de passar em revista e avaliar criticamente o que fiz ao longo de quase três décadas, cumpre explicitar alguns pressupostos interpretativos subjacentes ao presente memorial. Na realidade, essas premissas me guiaram desde a juventude, e colaboraram para a formação de minha estratégia de trabalho e carreira.
As ciências se distinguem da Filosofia porque, enquanto as primeiras são escravas de um esforço de exame sistemático da realidade empírica (ainda que, nem seria preciso dizer, sempre com um lastro teórico e a preocupação de retroalimentar a teoria!), a segunda está em seu elemento natural ao especular, mais ou menos livremente, sobre as “razões últimas” de ações e decisões “razões últimas” de natureza ética ou política, por exemplo, e que usualmente não se prestam ao jogo de “demonstrações” e exibição de “evidências” que a ciência tem como apanágio. É claro que a interrogação filosófica não pode, simplesmente, ignorar a empiria, o mundo da experiência sensível, tendo, inclusive, muito frequentemente, de levar em conta os resultados da ciência. Sua tarefa, porém, é, por assim dizer, mais abstrata que a da ciência: trata-se de propor as questões que deveriam orientar os próprios cientistas enquanto homens e mulheres de pensamento, nos planos ontológico, epistemológico, ético e político. As ciências nos auxiliam, de diferentes maneiras, a explicar e compreender como as coisas “são” e como “vieram a ser o que são” (ainda que, como sabemos, trate-se de um “ser” que é largamente “construído”, interpretado); nos ajudam, ademais, nas tarefas de desafiar e mudar o que “é”, tornando-o em algo diferente. A Filosofia, de sua parte, propõe as perguntas a propósito do sentido profundo das coisas, e, nesse sentido e dessa forma, também é, por excelência e quase que por definição, desafiadora.
No que concerne especificamente à produção teórica por parte dos cientistas sociais, entre os quais grande parcela dos geógrafos almeja se ver incluída a despeito da inconfundível singularidade da Geografia (3) pode-se dizer que há três níveis de elaboração: 1) O nível das “macroteorias”. São elas grandes construções, referentes a fenômenos macrossociais, grandes escalas geográficas (global ou, de todo modo, internacional) e longa duração. São vastos edifícios interpretativos da dinâmica social ou sócio-espacial, possuindo, ao mesmo tempo, fortíssimas e diretas implicações metodológicas, do materialismo histórico marxista à “teoria da estruturação” giddensiana. Em parte com muita razão, mas em grande parte com exagero e niilismo, “macroteorias” (em particular aquelas denominadas “grandes relatos emancipatórios”, como o materialismo histórico e a psicanálise) foram postas sob suspeição no auge da “onda pós-moderna” nas ciências sociais e na Filosofia, em nome de um “minimalismo teórico” vulnerável ao empirismo e pouco afeito a dar atenção aos condicionamentos estruturais de alcance mais geral ou mesmo global. Na realidade, as “macroteorias” são, geralmente, criaturas intelectuais nitidamente “híbridas”, verdadeiras construções-ponte entre o plano teórico científico e o plano metateórico, situado este último na esfera da Filosofia. É comum que uma “macroteoria” seja, ao mesmo tempo, uma espécie de bússola para a pesquisa, um resultado do acúmulo de discussões teóricas, uma visão de mundo e uma elaboração filosófica (nos terrenos político-filosófico, ético, ontológico ou epistemológico, e não raro em todos eles). Não é à toa que “macroteorias” representam, por excelência, o casamento das ciências com a Filosofia.
2) O nível das “teorias de alcance médio”, ou “mesoteorias”. São teorias menos ambiciosas, que procuram dar conta de fenômenos mais circunscritos no tempo e no espaço como, por exemplo, a Teoria das Localidades Centrais, de Walter Christaller, ou a orientação teórica referente às transformações no “modo de regulação” e no “regime de acumulação” no transcurso da transição do “fordismo” para o “pós-fordismo”, desenvolvida pelos economistas críticos vinculados à chamada “Teoria da Regulação”. (4)
3) O nível das teorias bastante específicas, ou “microteorias”. São teorias que, sem jamais esquecer do geral como contexto de referência, buscam dar conta pormenorizadamente de fenômenos particulares. Elas procuram dar conta de processos específicos observáveis no interior de um tipo bem delimitado de formação sócio-espacial, como por exemplo as peculiaridades da “(hiper)precarização do mundo do trabalho” nos países capitalistas semiperiféricos contemporâneos.
Os três níveis deveriam dialogar com a Filosofia, embora isso seja mais evidente, como eu postulei acima, naquele das “macroteorias” ou macroexplicações sobre a sociedade e o espaço. É comum que os dois outros níveis incorporem e reverberem questões metateóricas, tendo uma “macroteoria” como plano de mediação.
Os três níveis também precisam, decerto, alimentar-se empiricamente, embora isso seja tão mais nítido quanto menor for o grau de generalidade explicativa e interpretativa. “Macroteorias”, em geral, se valem da empiria já digerida no âmbito de “teorias de alcance médio” e “microteorias”.(5)
Em meu trabalho como pesquisador, tenho buscado, dentro de minhas limitações, oferecer algumas contribuições, por acanhadas que sejam, concernentes aos três níveis supramencionados. No entanto, é uma questão de sabedoria e prudência reconhecer que, quanto mais abstrato e abrangente é o esforço teórico, mais experiência se exige do pesquisador (para dizer o mínimo), de sorte que, no que diz respeito ao nível das “macroteorias”, minha intenção tem sido, no fundo, não mais que a de “desdobrar” e complementar um determinado arcabouço metateórico já existente (a abordagem filosófica da “autonomia”, conforme explicarei bem mais à frente). Tal “desdobramento” e tal complementação se traduzem em uma colaboração para tornar o dito arcabouço mais “operacional”, de acordo com as necessidades da pesquisa científica, e com base em uma decidida valorização da espacialidade, dele ausente em sua formulação inicial. O tipo de contribuição que tenciono e penso ter condições de oferecer, por conseguinte, não corresponde esclareça-se, para evitar mal-entendidos, a qualquer pretensão de pioneirismo no plano das macroexplicações sociais; na verdade, qualquer eventual traço de originalidade, se isso se puder conceder, será uma decorrência da tentativa de entrecruzar esforços preexistentes com um esforço analítico de longo prazo, fundamentado em investigações empíricas que, ao mesmo tempo em que nutrem minha reflexão teórica, servem de “campo de provas” para conceitos e formas de interpretação. Tenho, não posso e nem quero negar, uma paixão pela Filosofia que vem da adolescência. Se isso não me autoriza a ver-me como um “filósofo” e muito menos, evidentemente, a reivindicar qualquer contribuição original nesse terreno! , ao menos tem garantido que, no meu caso, investigação científica e interrogação filosófica caminhem sempre de mãos dadas, união cuja importância foi muito persuasivamente ressaltada por Cornelius Castoriadis (CASTORIADIS, 1978).
Meus caminhos me têm levado a transgredir, decidida e convictamente, vários tipos de fronteiras, em alguns casos para questioná-las frontalmente (as fronteiras entre as diversas ciências sociais, que reputo como extremamente artificiais), em outros para tentar relativizá-las e torná-las mais porosas (a fronteira entre o labor científico e a interrogação filosófica e a fronteira entre o conhecimento científico e o “local knowledge” dos atores sociais imersos em seus “mundos da vida” [Lebenswelten]). No que se refere à dicotomia Geografia Física/Geografia Humana, nem sei se a palavra a ser usada seria “fronteira”; a mim me parece que se está diante, há tempos, isso sim, de um deplorável abismo, em face do qual tenho me empenhado pela (re)construção de pontes algo que a uns tantos soa como um exercício quixotescamente inútil. Advogar essas transgressões constitui, ao mesmo tempo, uma das principais trincheiras que, desde cedo, mediante a minha própria prática e o meu estilo de trabalho, tentei ajudar a cavar.
O PAPEL E A DIMENSÃO ESPACIAL DOS ATIVISMOS URBANOS:
MEUS PRIMEIROS PASSOS
Realizei, na segunda metade dos anos 80, estudos empíricos e reflexões teóricas sobre ativismos urbanos, ao mesmo tempo em que aprofundava o meu contato com as contribuições de numerosos geógrafos e correntes do pensamento geográfico (Élisée Reclus, Paul Vidal de La Blache, Jean Brunhes, Leo Waibel, Carl Sauer, Richard Hartshorne, Max. Sorre e outros geógrafos “clássicos”; alguns escritos representativos da Geografia quantitativa; David Harvey, Edward Soja, Milton Santos e outros representantes da radical geography; Yi-Fu Tuan e Edward Relph como principais expoentes da humanistic geography; e assim sucessivamente), consolidava e ampliava a minha cultura filosófica e ampliava o universo de minhas leituras sobre a teoria das ciências sociais em geral. No tocante à Filosofia, se minhas leituras de antes dessa época já haviam incluído Platão e Aristóteles, Maquiavel, Thomas Morus, Campanella, Descartes, Kant, Bacon, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx e boa parte dos clássicos do marxismo, Nietzsche e Schopenhauer, além de bastante coisa especificamente sobre Filosofia da Ciência (por exemplo, diversos livros do epistemólogo brasileiro Hilton Japiassu, que foi meu professor na graduação), na segunda metade da década de 80 estenderam-se, sobretudo, na direção de uma complementação das minhas leituras sobre o marxismo (Lukács, Althusser, Escola de Frankfurt, K. Korsch, João Bernardo e outros), de um contato sistemático com os principais autores anarquistas do século XIX e seus escritos filosóficos e políticos (Proudhon, Bakunin, Kropotkin e Reclus, entre outros), de um envolvimento com as obras de Hannah Arendt, Michel Foucault e Félix Guattari e, finalmente, de um estudo sistemático da obra de Cornelius Castoriadis (autor que, mais que qualquer outro, viria a me influenciar duradouramente, e com cujas ideias eu começara a me envolver em meados de 1984). No que concerne à teoria das ciências sociais, dediquei-me, no período em questão, a estudar sistematicamente Sociologia (o que me levou, inclusive, a realizar um curso de especialização em Sociologia Urbana entre 1986 e 1987) e, secundariamente, a complementar as minhas leituras no terreno da Economia, já iniciadas durante a graduação.
Para além de algumas propostas terminológicas e conceituais que depois, nos anos 90 e mais tarde, eu procurei refinar (como a diferença conceitual entre ativismo social e movimento social), o principal produto desse período foi a reflexão em torno da reificação do urbano, pedra angular de minha interpretação da força e da fraqueza dos ativismos urbanos contemporâneos (vide a minha dissertação de mestrado, intitulada O que pode o ativismo de bairro? Reflexões sobre as limitações e potencialidades do ativismo de bairro à luz de um pensamento autonomista). Em que consiste essa reificação?
Como explorei melhor posteriormente (vide A6) (6), a reificação do urbano constitui, a meu ver, a chave para a compreensão da dificuldade primária de tantos e tantos ativismos urbanos das últimas décadas. Essa dificuldade assume algumas vezes (não muitas), perante os próprios ativistas, as características de um enigma a ser decifrado: o que ocasiona e porque é tão difícil vencer a persistente separação de frentes de combate como infraestrutura urbana e habitação, trabalho e renda, ecologia, gênero, etnia e outras mais? O ensimesmamento dessas frentes de combate não é apenas um fator de enfraquecimento “estático”, pela rarefação das chances de fecundação recíproca. No fundo, trata-se de ter de lidar com o problema do constante (res)surgimento de contradições: o militante ambientalista que, diante de uma favela, revela pouca sensibilidade social e reprocha aos posseiros urbanos por desmatarem uma encosta, culpabilizando-os simplisticamente; a intelectual feminista de classe média que oprime sua empregada fenotipicamente afrodescendente e favelada; o rapper de periferia que denuncia o racismo e a violência policial, mas que reproduz o machismo e a homofobia em suas letras e em seu comportamento; o trabalhador “de esquerda” que espanca a mulher e abusa da filha.
Ao que parece, tudo conspira para que o espaço geográfico socialmente produzido seja, pelos atores, captado apenas em sua imediatez material, como um “dado”, como “coisa”. Em vez de ser apreendido holisticamente pelos sujeitos históricos, em vez de ser percebido na integralidade e na riquíssima dinâmica da sua produção, o espaço é apreendido parcelarizadamente. Atores diferentes, desempenhando papéis distintos, gravitam em torno de identidades propensas à compartimentação: da esfera do consumo e da reprodução da força de trabalho extraem-se o “consumidor” e o morador; da esfera da produção retira-se o trabalhador assalariado; na arena político-ideológico da proteção ambiental, tem-se o ambientalista; a problemática de gênero suscita as feministas; a seara da etnia compete ao militante afrodescendente ou indígena, e a seus equivalentes em outros países. Ora, uma tal apreensão parcelarizada do espaço e da problemática engendrada pela instituição total da sociedade antes embaraça que propicia o diálogo, o entrosamento e a sinergia de numerosos esforços específicos. A reificação do urbano converte a maneira de apropriação cognitiva do espaço em uma formidável barreira para a tomada de consciência e para a práxis emancipatória.
Ao caducar a centralidade de uma identidade “proletária”, substituída, no transcorrer do século XX e em decorrência da derrota histórica do movimento operário e das transformações paralelas e subsequentes do capitalismo, por identidades e protagonismos múltiplos, seriíssimas implicações tiveram lugar. Percebido fenomenicamente antes como um produto, sem que a essência de seu multifacetado processo de produção seja apreendida, o espaço urbano é “coisificado”, e a própria totalidade concreta do social (relações sociais e espaço) é reificada. Grupos distintos estabelecem com o espaço laços não apenas distintos, mas amplamente desconectados entre si no plano político, dando ensejo à aparição de conflitos entre atores que, “objetivamente”, teriam interesse em ajudar-se mutuamente e unir forças.
Os esforços de compreensão contidos em minha dissertação de mestrado foram, por assim dizer, o início de minha busca de contribuição para uma “teoria de alcance médio”, ou para aquilo que os alemães chamam de Theorieansatz (vide nota 4 e, adicionalmente, também a nota 5), referente ao papel e à dimensão espacial dos ativismos sociais urbanos no mundo contemporâneo. Foi, portanto, já nos anos 80, graças à minha dissertação de mestrado, que despertou-se em mim o interesse pela “geograficidade” (para usar uma expressão que, de maneiras diferentes, fora já empregada pelos geógrafos Éric DARDEL [1990] e Yves LACOSTE [1988]) dos ativismos sociais, assunto que eu iria continuar explorando pelas décadas seguintes, e até hoje (vide, por exemplo, B14, B16, C18 e C23). Na sua essência, perceber e valorizar essa dimensão espacial (ou “geograficidade”) se refere à capacidade de discernir e investigar diversas coisas, notadamente: as relações entre os espaços enquanto espaços vividos e percebidos, dotados de carga simbólica (“lugares”), e as identidades das “pessoas comuns” (isto é, não-ativistas de qualquer organização), muitas vezes “identidades espaciais” em sentido forte; a identidade dos ativistas e ativismos enquanto tais (muitas vezes um ativismo tem sua identidade, e portanto o perfil de sua agenda, condicionada por uma referência forte e direta ao espaço); a maneira como o espaço é decodificado e instrumentalizado de modo a servir de referencial organizacional (territórios, redes, politics of scale etc.); a maneira como o substrato espacial (ou seja, o espaço em sua materialidade) e seus problemas sintetizam ou referenciam as demandas e a agenda de cada ativismo (carências e deficiências de infra-estrutura técnica e social, “déficit habitacional”, dificuldades de acesso a equipamentos de consumo coletivo, degradação ambiental, conflitos de uso do solo, especulação imobiliária etc.). Infelizmente, a maior parte dos não-geógrafos de formação (sociólogos e cientistas políticos) envolvidos com a temática dos ativismos sociais sempre deu pouca ou nula importância ao espaço geográfico. Se considerarmos três “níveis de acuidade analítica” no tocante ao papel do espaço nível 1: o espaço é reduzido a um mero quadro de referência; nível 2: dá-se atenção à “lógica” locacional e à organização espacial em sua vinculação com as relações sociais (ou seja, às causas e ao sentido de determinados processos/práticas terem lugar em determinados espaços e não em outros); nível 3: examinam-se os condicionamentos e as influências do espaço sobre as práticas sociais , pode-se dizer, tranquilamente, que os estudos assinados por esses não-geógrafos geralmente transitaram, via de regra, pelo nível 1, às vezes tocando o nível 2, como ressaltei em B14. O nível 3 tem permanecido quase que inexplorado, e é aí que entra ou pode entrar a contribuição específica de uma perspectiva que assume um compromisso claro de valorização da dimensão espacial da sociedade, que é o papel que se espera dos geógrafos de formação. (7)
ESTICANDO UM POUCO MAIS O PESCOÇO:
REFLEXÕES SOBRE A DIMENSÃO ESPACIAL DA SOCIEDADE
Na mesma época, na segunda metade dos anos 80, dei um passo que, como avalio hoje, foi temerário. Sempre entusiasmado pela reflexão teórica e sem medo do pensamento abstrato (palavra que praticamente nunca tomei em seu sentido pejorativo), achei que, para o bem da minha própria formação, deveria empreender leituras e estudos sistemáticos sobre o papel do espaço social (em geral), isto é, sobre a relevância, para as relações sociais, do espaço geográfico socialmente incorporado e produzido. Meu esforço nessa direção deixou-se fertilizar, a exemplo daquela teorização “de alcance médio” acima referida, pelo pensamento “autonomista”, especialmente pela obra filosófica de Cornelius Castoriadis (ver CASTORIADIS, 1975, 1983, 1985, 1986, 1990 e 1996, entre outros trabalhos) obra essa que constitui, na minha interpretação, uma complexa, sofisticada e erudita (e, não raro, incômoda) atualização do pensamento libertário. O resultado disso foi a minha primeira incursão no plano das “macroteorizações”, tendo como produto o ensaio “Espaciologia”: Uma objeção (C1), publicado na revista Terra Livre.
Grosso modo, eu insistia, nesse ensaio, indiretamente inspirado em autores como Cornelius Castoriadis e Maurice Merleau-Ponty, e mais diretamente por Henri Lefebvre, que o espaço social é, entendido como o espaço geográfico produzido pelas relações sociais, é, sem dúvida, expressão dessas relações, mas sendo também, em contrapartida, as próprias relações sociais (e, nesses marcos, o processo de socialização dos indivíduos) condicionadas pela espacialidade mesma. Na verdade, como é sabido, algo semelhante já vinha sendo sugerido, em um nível às vezes bastante sofisticado, por vários outros geógrafos, decerto que infinitamente mais importantes que um jovem mestrando, tais como Edward Soja (assumidamente inspirado por Lefebvre) e Milton Santos (em cuja obra Lefebvre aparece, ao olhar do leitor atento, e no que tange ao plano teórico mais geral, como uma referência mais que essencial). De minha parte, eu insisti em sublinhar que as relações sociais nunca operam fora do espaço e sem se referenciar pelo espaço (mesmo quando não o transformam materialmente), de modo que, mesmo sendo possível falar de práticas espaciais (no sentido de práticas diretamente espaciais ou espacializadas, em que o espaço possui forte e direta relevância simbólico-identitária e/ou como referencial direto de organização política e/ou como conjunto de recursos elencados em uma agenda de demandas), os processos sociais jamais são “anespaciais”, tanto quanto não são anistóricos. Da mesma maneira, ao condicionar as relações sociais, alguns condicionamentos, mesmo que mediados pelas próprias relações sociais, vistas historicamente (ou seja, não se trata de nenhum “fetichismo espacial”), podem ser muito mais fortes, diretos e evidentes que outros, o que não elimina o fato de que a influência do espaço é, no mínimo em seu nível mais elementar, onipresente. Nesse ponto, eu me afastava, por exemplo, de David Harvey, que havia colaborado para restringir demasiadamente o alcance das influências da espacialidade sobre as relações sociais. Contudo, eu me afastava, também, de autores como Edward Soja e Milton Santos, os quais, no meu entendimento, ao buscarem prestigiar o espaço e a Geografia nos marcos de um certo marxismo estruturalista (mais explícito no caso de Soja que no de Santos), por meio da defesa de uma “instância” (ou “estrutura”) própria e de “leis próprias” para o espaço, ao lado das “instâncias” econômica, política e ideológica, ou ainda por meio de um paralelismo (que Soja buscou dialetizar) entre uma “esfera social” e uma “esfera espacial”, acabavam concorrendo para justificar, se não um “fetichismo espacial”, ao menos uma separação demasiado cartesiana entre espaço e relações sociais no meu entendimento, um traço positivista que “dialetização” alguma poderia corrigir plenamente. Muito embora Lefebvre tivesse sido alvo de fortes reservas por parte de David Harvey (já em Social Justice and the City, de 1973), o qual sempre viu o filósofo francês como alguém que teria exagerado desmesuradamente a importância da espacialidade, eu me arrisquei a dizer, em “Espaciologia”: Uma objeção, que o tipo de formalização de sabor estruturalista presente em Soja e Santos em fins dos anos 70 e nos anos 80 (vide SANTOS, 1978 e SOJA, 1980) não estava, na realidade, presente em Lefebvre (consulte-se, sobretudo, LEFEBVRE, 1981 [1974]), constituindo, na verdade, uma certa deformação. Dessa forma, em “Espaciologia”: Uma objeção eu levantava ressalvas, simultaneamente, a propósito de Harvey, por haver restringido excessivamente o alcance do poder de condicionamento da espacialidade, e a propósito de Soja e Santos, por terem, no meu entendimento, tornado insuportavelmente rígido o insight de Lefebvre acerca do papel do espaço.
Hoje, tendo chegado aos 47 anos, ao lançar um olhar retrospectivo sobre as intenções e ambições daquele jovem mestrando, chego a achar que minha ousadia, por si só, beirou a insolência. No entanto, a despeito de arrojado e um tanto presunçoso em suas críticas, o tom do mencionado texto não feriu a etiqueta acadêmica. Acima de tudo, creio que as ressalvas e os reparos que ali fiz foram, bem ou mal, fundamentados; nenhuma ideia é ali gratuita, e tampouco foi vazada em uma prosa descortês. (8) Seja lá como for, o fato é que ter escrito aquele texto constituiu um episódio marcante na minha trajetória, pois me treinei, de maneira mais sistemática, para meditar sobre questões de natureza teórico-conceitual, sempre cultivando uma saudável contextualização filosófica. O curioso (ou, pelo menos, é assim que vejo, atualmente), é que, apesar da ousadia do empreendimento, as ideias que esposo no artigo e os insights básicos ali contidos, ainda sustento-os todos: o espaço social é afirmado, ali, como uma dimensão da sociedade (e não como uma “estrutura”, um “[sub]sistema” ou uma “instância”, à moda estruturalista e funcionalista em voga nos anos 70 e ainda na década de 80); a sociedade concreta é compreendida como uma totalidade indivisível formada pelo espaço e pelas relações sociais que produzem aquele e lhe dão vida, sendo que a influência do espaço sobre os processos sociais se dá o tempo todo, ainda que com intensidades e mediações variáveis (não sendo, por isso, razoável restringir os condicionamentos do espaço a somente um tipo especial de práticas, as “práticas espaciais”, nas quais a espacialidade é, simplesmente, mais imediata, forte e visivelmente presente ou seja, as “práticas espaciais” possuem, sim, uma especificidade, mas não deixam de ser práticas sociais); a compreensão plena dos vínculos entre espaço e relações sociais exige um olhar multidimensional e não-positivista sobre as últimas, de modo a se considerar com a devida riqueza e sem separações formalistas e hierarquizações apriorísticas as dimensões do poder, da economia e da cultura. Hoje em dia, talvez tudo isso ou parte disso já seja aceito sem restrições por muitos geógrafos. Não era bem assim nos anos 80, e, apesar dos riscos que assumi e dos dissabores que a publicação do artigo me trouxe mal-entendidos, reações corporativistas, e por aí vai... não me arrependi, ao fim e ao cabo, de ter esticado o pescoço tanto assim, mesmo sem ter currículo suficiente para fazer certos comentários e levantar certas objeções com uma autoridade reconhecida como tal pelos pares. Só lamento que o artigo quase não tenha sido debatido na época, e talvez tenha sido punido antes por suas qualidades que por seus defeitos, tendo pago o preço de ser assinado por um iniciante em um país em que o debate científico, claudicante, ainda sofre, em certas áreas de conhecimento, sob o peso esmagador da “cultura da oralidade” (sem contar com o coronelismo acadêmico, fator de obscurantismo), o que dificulta, não raro, que até as obras de profissionais já consagrados sejam devidamente lidas, para não dizer apreciadas. Para a minha felicidade, porém, um punhado de leitores qualificados me deu, com o passar dos anos, estímulo e apoio, a começar pelo colega (e grande incentivador) Carlos Walter Porto Gonçalves, que, conforme tomei conhecimento, costuma, ainda hoje, usar o texto com seus alunos de pós-graduação.
Se escrever o texto foi uma coisa muito positiva para mim (publicá-lo, não necessariamente...), o manto de silêncio que cobriu “Espaciologia”: Uma objeção acabou tendo, também ele, um certo efeito benéfico. Aos vinte e poucos anos de idade, eu era um geógrafo com um apetite pantagruelicamente insaciável para a leitura, mas com uma restrita experiência de campo e, mais amplamente falando, de vida, como seria natural e esperável. Do ponto de vista da “extensão” da minha experiência de campo, talvez ela nem fosse tão desprezível assim, pois era, pelo menos, proporcional à minha idade. Tanto a minha monografia de bacharelado envolveu bastante trabalho de campo quanto mesmo a minha dissertação de mestrado, fundamentalmente teórica, não deixou de se alimentar de alguns trabalhos de campo “ancilares” e do meu papel como (aprendiz de) ativista de bairro. (E a isso se somaram os conselhos que recebi de Orlando Valverde acerca de como observar a paisagem para explicá-la, decodificá-la, em vez de lançar sobre ela um olhar “bovino” e resvalar para uma descrição banal.) Mas o ponto crucial é que eu não sabia trabalhar direito em campo; mesmo já formado e em meio ao mestrado, eu não tinha ainda muito traquejo em se tratando de estudo empírico. Não se tratava de desprezo, de jeito nenhum, mas sim de puro e simples despreparo, decorrente da escassez de boas oportunidades. E foi assim que, ao sofrer um certo revés, mais psicológico que real, como “prototeórico”, o rapaz que eu era decidiu que estava mais que na hora de aprender direitinho o que até então não havia aprendido. Seguindo o conselho de Orlando Valverde, optei por doutorar-me na Alemanha, onde poderia conjugar meu interesse pela teoria e pela Filosofia (e qual melhor lugar para beber nas boas fontes filosóficas que a Alemanha?, pensava eu então) com a minha necessidade de iniciar o meu tirocínio como alguém que sabe bem o que fazer também fora das bibliotecas e dos gabinetes de leitura. De certa forma, Gerd Kohlhepp, meu orientador no doutorado, salvou-me da sina de virar um autor “barroco” e hermético, incapaz de compreender e viver os vínculos entre teoria e empiria como uma dialética. Às vezes, confesso, eu titubeei, hesitei e até praguejei, tendo dificuldades, no início de meu doutoramento, de conviver com ensinamentos que, aos meus olhos, não passavam de empirismo. Estando eu certo ou errado, contudo, pelo menos eu soube assimilar tudo o que pude absorver sobre métodos e técnicas de observação e inquérito, amostragem, análise de discurso e coisas que tais. Espremido entre uma “tese” e a sua “antítese”, busquei extrair uma “síntese” que me satisfizesse. Mesmo sem ter sido muito influenciado, em outros terrenos, por meu orientador no doutorado, devo a Gerd Kohlhepp a orientação básica para que eu pudesse adquirir a capacidade de valorizar em profundidade e lidar operacionalmente com o trabalho de campo. (9)
Voltando, agora, ao Espaciologia”: Uma objeção, cabe ainda dizer que as incompletudes e imperfeições do texto (por exemplo, o fato de que eu ainda amarrava excessivamente o conceito de espaço social à sua materialidade) não me impedem, mais de vinte anos depois, de vislumbrar ali um conjunto de intuições e interpretações basicamente corretas (em parte datadas, mas em parte ainda atuais), em que pese a necessidade de correções, ampliações e, claro, aprofundamentos. Procedi, em trabalhos posteriores (textos da revista Território, capítulos do livro A prisão e a ágora [A6], e assim segue), a diversas revisões e retificações de minhas ideias de meados dos anos 80 acerca da natureza e do papel da dimensão espacial da sociedade. Uma retomada de fôlego e sistemática desse tema, sob a forma de um livro inteiramente dedicado ao assunto, é algo que ainda estou devendo a mim mesmo. Devo encarregar-me disso em uma obra que, se tudo correr como esperado, deverá vir à luz ainda nesta década, ou, quem sabe, no começo da próxima. O que importa é que não é sensato ter qualquer pressa. Disse certa vez Verdi ao jovem Carlos Gomes, com carinho mas em suave tom de censura, que o grande operista brasileiro estava “começando por onde a maioria termina” (cito de memória, mas garanto o sentido). Da minha parte, e trocando em miúdos, dada a magnitude da tarefa, é conveniente robustecer determinadas linhas de raciocínio e lapidar mais certas formulações. Terão se passado, então, mais de trinta anos desde a publicação de “Espaciologia”: uma objeção – o que parece ser um momento bastante propício para se analisar, com a experiência da maturidade, o quão bem certos insights de juventude resistiram (ou não) ao implacável teste do tempo. Enquanto o momento de um balanço mais ambicioso não chega, contento-me com investimentos limitados (em certos conceitos derivados, como território, “lugar” e paisagem, e na reavaliação sistemática da produção científica e filosófica publicada por outros, desde os anos 80, sobre a importância e o papel da espacialidade) e com refinamentos e mais refinamentos parciais, como os contidos em trabalhos como A6, A11, B1, B10, B15, B16, C10 e C20, além do livro que, no momento, estou elaborando (O espaço no pensamento e na práxis libertários), e sobre o qual discorrei, muito brevemente, mais para o final deste memorial.
OS ATIVISMOS URBANOS (E SUA “GEOGRAFICIDADE”)
NO MOMENTO DE SUA CRISE
A minha dissertação de mestrado versou sobre o ativismo de bairro em um momento (segunda metade da década de 1980) em que, no Rio de Janeiro e em muitas outras cidades brasileiras, eles já haviam iniciado uma trajetória descendente em matéria de capacidade de mobilização, prestígio sociopolítico e visibilidade pública. Isso eu já havia percebido perfeitamente na época, mas essa “decadência” ou “crise” viria a se tornar verdadeiramente patente mais para os fins da década, quando a minha dissertação estava sendo concluída ou já havia sido defendida. Não obstante, tais problemas jamais me sugeriram a conveniência de deixar de lado o tema; pelo contrário: era e ainda é minha convicção que, justamente nos momentos de “crise”, é essencial nos debruçarmos sobre o objeto, para nos interrogarmos sobre as razões dos insucessos e das dificuldades. Essa convicção não derivava somente de um posicionamento de natureza ética (desprezo por um certo oportunismo ou “vampirismo” que leva a que o interesse por um grupo, espaço ou movimento social se restrinja aos “momentos de glória” e de maior exposição midiática), mas também da consciência de que, cientificamente, é ao analisarmos os fracassos e os gargalos que podemos extrair algumas das lições teóricas e políticas mais importantes.
À luz disso, minha tese de doutorado (Armut, sozialräumliche Segregation und sozialer Konflikt in der Metropolitanregion von Rio de Janeiro. Ein Beitrag zur Analyse der „Stadtfrage” in Brasilien = Pobreza, segregação sócio-espacial e conflito social na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Uma contribuição para o estudo da “questão urbana” no Brasil [A1]) refletiu um interesse em perscrutar, sistematicamente, os fatores da perda de importância e das dificuldades do ativismo de bairro (ativismo favelado aí incluído) no Brasil. Fi-lo, contudo, dentro de um contexto bem abrangente, que foi o de uma preocupação com a análise da “questão urbana” no Brasil o que me fez, aliás, envolver-me com uma reflexão a respeito do próprio conceito de “questão urbana”, envolto em ambiguidades e marcado por contribuições teoricamente datadas, como o marxismo estruturalista em voga no início dos anos 70 (vide, para começar, o célebre livro de Manuel Castells, La question urbaine). Entendida por mim, em um plano bastante geral e abstrato, como o cadinho de tensões decorrente de uma percepção de certos “problemas urbanos objetivos” (déficit habitacional, segregação residencial, pobreza etc.) não de maneira fatalista ou mística, mas sim como expressões de injustiça social, daí derivando diferentes tipos de conflitos sociais, restava compreender como a “questão urbana” se realizava, concretamente, no Brasil do início da década de 90. Foi nesse momento que percebi que entender vários aspectos da dinâmica da produção do espaço urbano em metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo exigia, muito mais que levar em conta o papel dos ativismos sociais como agentes modeladores do espaço, considerar adequadamente o papel da criminalidade e da criminalidade violenta em especial os efeitos sócio-espaciais do tráfico de drogas de varejo. O prosseguimento desse interesse após o retorno ao Brasil, ao lado de uma retomada da reflexão a propósito dos fatores do ocaso do ativismo de bairro, desembocaram no livro O desafio metropolitano: Um estudo sobre a problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiras (A2), publicado em 2000 e agraciado, no ano seguinte, com o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira no Livro, na categoria Ciências Humanas e Educação. Em O desafio metropolitano, bem como em outros trabalhos, discuti detalhadamente as causas dessa crise, análises essas que tentarei sintetizar nos parágrafos seguintes.
Resumindo os argumentos expostos e desenvolvidos por mim em ocasiões anteriores (A2, Cap. 3 da Parte I; A6, Subcapítulo 4.2. da Parte II), há, por trás da crise, alguns fatores que são comuns aos bairros formais e às favelas, e outros que são peculiares às favelas; e há, ademais, alguns fatores que são nitidamente “datados”, ao passo que outros são mais constantes. Comece-se com os fatores da crise do ativismo de bairro da segunda metade da década de 80 que podem ser tidos como mais “datados”. São eles: a crise econômica, a migração de ativistas para partidos políticos de esquerda, a adaptação insuficiente e inadequada à conjuntura pós-regime militar e a decepção com os rumos da conjuntura política nacional após o fim do regime militar.
A crise econômica dos anos 80 obrigou muitos trabalhadores a terem mais de um emprego e a fazerem “bicos” para complementar a renda familiar, reduzindo ainda mais o tempo disponível para dedicar-se a atividades não-remuneradas como uma função na diretoria de uma associação de moradores. (Sobre a crise econômica dos anos 80, deve-se ainda dizer que ela, a partir da década seguinte, se transformou, mas não desapareceu: em vez de altas taxas de inflação como o principal fardo para os trabalhadores, altas taxas de desemprego na esteira da “reestruturação produtiva” e da adesão do país às políticas macroeconômicas de inspiração neoliberal.) Quanto à migração de ativistas para partidos políticos de esquerda, a referência é aos militantes que, após a legalização ou criação de partidos de esquerda, nos anos 80, passaram a dedicar-se mais aos partidos e menos aos ativismos, nos quais, em parte por falta de opção, buscaram abrigo e um espaço de atuação durante os anos da “distensão” e “abertura” do regime de 64.
O fator adaptação insuficiente e inadequada à conjuntura pós-regime militar remete à circunstância de que a multiplicação de canais participativos formais, a partir da segunda metade dos anos 80, exigiu uma capacidade, que muitas organizações de ativistas não conseguiram desenvolver, de combinar criativamente ações de protesto e auto-organização com diálogo institucional com o Estado. Por fim, a decepção com os rumos da conjuntura política nacional após o fim do regime militar teve a ver com a frustração derivada da morte de Tancredo Neves antes mesmo de sua posse na Presidência da República, e com a mediocridade do regime iniciado em 1985 sob José Sarney.
É bem verdade que, se a segunda metade dos anos 80 trouxe o debilitamento do ativismo de bairro, o desemprego e a escassez de moradia, nos anos 90, engendraram, sobretudo nas metrópoles, novos ativismos sociais, às vezes com fôlego de genuínos movimentos, com destaque para o ainda incipiente movimento dos sem-teto.
Entretanto, alguns velhos estorvos estão ainda aí, atravancando o caminho. Fatores que, embora tenham tido um peso na crise da “primeira geração” dos “novos ativismos (urbanos)”, representam um risco permanente e uma advertência também para a “segunda geração” que desponta no século XXI. Apenas para destacar alguns: burocratização das organizações; “caciquismo” e personalismo; autoritarismo das administrações municipais e, muitas vezes, os seus esforços de cooptação; a indiferença e o “comodismo” da base social; o “paroquialismo” e o “corporativismo territorial”, a “politofobia”.
A burocratização das organizações esteve associada, na virada dos anos 80 para os anos 90, ao problema da adaptação inadequada à conjuntura pós-regime militar, com a tentativa de algumas entidades, normalmente federações, de adotarem um “figurino ONG”, abandonando esforços de mobilização de massas em favor de um papel de discussão e co-implementação de políticas públicas estatais. A burocratização se estabelece quando uma organização de ativistas começa a funcionar como uma “repartição pública”, um apêndice do Estado, e, internamente, seus líderes se comportam como “funcionários” personalistas e “caciques”, afastando-se mais e mais da base social e comprometendo a força social do ativismo. Por falar em “caciques”: “caciquismo” e personalismo dizem respeito ao comportamento autoritário e egocêntrico de não poucos líderes de associações de moradores. Isso, aliás, ajuda a evidenciar as contradições de um ativismo que, mesmo tendo agasalhado práticas genuinamente democráticas, não esteve imune à reprodução, especialmente nas associações de base, da heteronomia predominante na sociedade e simbolizada pelo aparelho de Estado. Com autoritarismo das administrações municipais, de outra parte, se faz referência aos estragos provocados pela postura de não poucas administrações de ignorar os ativismos mais “espontâneos” e buscar esvaziá-los, seja reconhecendo legitimidade apenas nos políticos eleitos e em canais “participativos” oficiais, recusando interlocução com os ativismos, seja buscando “aparelhar” e controlar as entidades associativas. A cooptação de líderes e organizações, de sua parte, é uma postura muitas vezes ainda mais nociva que o autoritarismo, pois, se este pode, às vezes, suscitar resistência, a cooptação desmobiliza e desarma, e até mesmo desmoraliza, com consequências nefastas de longo prazo para a auto-organização da sociedade. Indiferença e “comodismo” da base social são outro problema, muitas vezes bastante relacionado com os anteriores: quando os ativistas “orgânicos” permanecem, durante um período de tempo excessivo, circunscritos a uma pequena minoria, que se renova muito pouco ou nada, dois riscos existem: o de uma “fadiga dos ativistas”, que se cansam de “carregar a organização nas costas”, e o de um estímulo adicional a fenômenos como “caciquismo”, burocratização e cooptação.
Quanto ao “paroquialismo” e o “corporativismo territorial”, deve-se dizer, antes de mais nada, que o corporativismo e a mentalidade que o ampara possuem, no Brasil e em outros países do mundo ibérico, uma longa tradição, para além do ambiente sindical. Essa mentalidade incentiva e nutre o “paroquialismo”, ou seja, os horizontes estreitos de exame de um problema e das condições de sua superação (reclamar do “desinteresse” do Estado pela rua, pelo loteamento ou pela favela em que se mora sem enxergar os determinantes mais profundos da tal da “falta de vontade política” e sem perceber a necessidade de articulações de luta em escala que vá além da microlocal), suscitando atitudes de aversão ou desconfiança à participação de indivíduos “estranhos” ao bairro (“bairrismo”) e dificultando parcerias. O espaço, que, como fator de aglutinação, como referência para a mobilização e a organização sociais, não necessariamente atrapalha, acaba, dependendo da predominância de formas ideológicas de se lidar com a territorialidade, sendo um embaraço para que se transcenda a luta de bairro rumo a uma luta a partir do bairro (o tema foi bastante explorado em minha dissertação de mestrado e, em seguida, tangenciado em C2; voltei a ele em A1 e A2, em meio a uma discussão sobre as causas da crise do ativismo de bairro, e, mais tarde, em um contexto bem mais amplo, em A6).
Por fim, a “politofobia”, que anda de mãos dadas com o paroquialismo e o corporativismo territorial, não se confunde com o apartidarismo, muitas vezes mais declarado que respeitado pelas associações de moradores ao longo das últimas décadas. Ela tem a ver, isso sim, com uma profunda “despolitização”, passando-se facilmente de uma desconfiança em relação aos políticos profissionais à rejeição pura e simples de temas tidos como “políticos”.
No que tange à crise dos ativismos urbanos, porém, o seu lado mais dramático não se encontra ou encontrou nos bairros comuns, da “cidade formal”, mas sim nas favelas. Sobre isso, discorrerei mais à frente, pois, muito embora se trate de tema que comecei a focalizar durante a pesquisa de minha tese de doutorado, e que foi sistematicamente focalizado em O desafio metropolitano.
A “MACROTEORIA ABERTA” DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ESPACIAL:
PRIMEIROS ESBOÇOS
Talvez o título desta seção soe pomposo, mas espero poder tranquilizar o leitor. Retomando o esclarecimento que fiz na Introdução, cabe grifar e repisar o seguinte ponto: não me proponho e jamais me propus a “criar” uma nova macroexplicação para a dinâmica social, “produção do espaço” aí incluída. Como pretendo mostrar, já encontrei os alicerces metateóricos (e também vários elementos propriamente teóricos) em larga medida lançados; e, a bem da verdade, nem mesmo com relação ao restante do edifício tenciono fornecer mais do que alguns tijolos. Para ser franco, vejo o meu papel basicamente como o de alguém que, a partir das necessidades de um pesquisador, “traduz” as contribuições (meta)teóricas mais gerais, que mencionarei a seguir, para o ambiente e as circunstâncias da investigação concreta e sistemática. Não obstante, também não abro mão de propor uma certa retificação do próprio material que encontrei, e precisamente graças à minha dupla condição de geógrafo e de brasileiro: é que o enfoque (meta)teórico que me tem servido de base e inspiração, a despeito de sua extraordinária potência, padece, em sua origem, de dois vícios, a negligência para com o espaço e um indisfarçável eurocentrismo. Porém, antes de entrar nesses assuntos, é conveniente situar o leitor em relação a como tudo isso se foi inserir em minha biografia acadêmica.
De um ângulo metateórico (político-filosófico e ético), iniciei o meu processo de afastamento do marxismo com o qual havia travado algum contato antes mesmo de entrar para a universidade já em 1984. Posso dizer que, em 1982, 1983 e boa parte de 1984, eu me considerava um marxista de algum tipo, ainda que heterodoxo: no plano intelectual, me identificava sobretudo com os autores menos dogmáticos do chamado “marxismo ocidental”, como Henri Lefebvre e a Escola de Frankfurt (só vim a descobrir os “renegados” Georg Lukács e Karel Kosik, assim como Edward Thompson e outros tantos, um pouco mais tarde, em meados dos anos 80); no plano prático-político, no entanto, ainda admirava Lenin, e cheguei a ter uma aproximação com o trotskismo e tinha uma boa interlocução com alguns militantes, muito embora não tenha propriamente militado em nenhuma organização. Além disso, “devorei”, durante dois anos e meio ou um pouco mais, boa parte dos clássicos do marxismo, a começar por Marx e Engels. Todavia, uma insatisfação crescente, tanto com aspectos propriamente intelectuais do materialismo histórico, tal como tipicamente entendido (economicismo, teleologismo etc.), quanto com aspectos da prática política do marxismo militante (o stalinismo, esse eu rejeitei de partida, mas também o trotskismo já me parecia, então, problemático), me levaram a ir redefinindo paulatinamente a minha identidade. A leitura sistemática da vida e obra de personagens do anarquismo clássico, iniciada por volta de 1984, não chegou a me empolgar, devido às insuficiências e à falta de densidade teórica da maior parte dos escritos; certos insights, como a denúncia, por Bakunin, do “autoritarismo” marxista, causaram-me, porém, duradoura impressão. Em algum momento de 1984 a ruptura estava completa, mas eu ainda não sabia exatamente o que colocar no lugar. Intuitivamente, eu sabia que, para mim, romper com o marxismo só poderia significar romper com ele “pela esquerda”, e jamais “pela direita”. Onde estava, contudo, a alternativa?... Ficar em uma espécie de “limbo” político-filosófico era uma possibilidade que me atormentava.
Conquanto eu tivesse comprado o livro A instituição imaginária da sociedade ainda em fins de 1983, posso dizer que só travei verdadeiramente contato com a obra filosófica de Cornelius Castoriadis cerca de um ano depois. Não tanto por ter achado o livro “difícil”: não foi bem esse o caso, ao menos não com respeito à primeira parte, em que o autor submete o marxismo a uma crítica implacável, e que li sem dificuldades. Para ser sincero, o que houve foi que hesitei em aceitar, de pronto, a rejeição do marxismo ali contida. Uma rejeição fundamentada, mas inquietante; semelhante, em tom, às denúncias e objeções trazidas pelo anarquismo clássico, mas expressa de modo muito mais profundo, complexo e erudito. O efeito inicial da leitura foi atordoante. Por isso, o livro nem chegou a ser lido por inteiro: após o primeiro contato, ficou ele descansando, por muito tempo, em minha estante, não tendo sido novamente tocado por muitos meses. No segundo semestre de 1984, porém, meu espírito estava preparado para apreciar uma mensagem tão desconcertante. A partir daí, todas as contribuições críticas de outros autores relativamente ao marxismo, ou pareceram-me superficiais (quanto aos ataques conservadores, nem sequer os menciono, embora nunca tenha me recusado a ler seus principais autores, como um Raymond Aron ou um Karl Popper, que reputo como leituras obrigatórias), ou, então, se me afiguravam como parciais ou meramente complementares em comparação com a monumental e original obra de Castoriadis (é o caso de autores que, a despeito disso, admiro muitíssimo e se tornaram muito importantes para mim, como E. Thompson, J. Bernardo, M. Foucault, C. Lefort, F. Guattari e outros mais). O projeto de autonomia, tal como discutido por Castoriadis, foi a chave com a qual passei a abrir ou tentar abrir várias portas, por minha conta e risco.
O “abrir portas” operou-se, contudo, de modo muito gradual. Hoje, olhando retrospectivamente, penso que o meu trabalho, no que nele há de mais característico, pode ser definido, inicialmente, como a incorporação do legado filosófico de Castoriadis, de acordo as minhas próprias necessidades e as minhas particularidades profissionais e histórico-espaciais (um cientista interessado na dimensão espacial da sociedade, nascido no Brasil em 1963). Por outro lado, desde o começo as minhas pretensões não se restringiam a algo tão passivo como uma pura “incorporação” daquele legado − e não somente porque eu sempre considerei contraditório com uma postura autonomista qualquer tipo de “veneração” acrítica ou “idolatria”, cabendo-me, portanto, usar do direito de discordar ou levantar ressalvas relativamente a Castoriadis sempre que achasse necessário. A questão é que, além disso, por mais que a obra filosófica de Castoriadis iluminasse o meu próprio trabalho, os meus interesses imediatos enquanto geógrafo de formação e pesquisador eram, forçosamente, distintos dos dele. Meu “projeto intelectual” (a expressão soa afetada, eu sei, mas com isso quero referir-me simplesmente aos objetivos de longo prazo de meu trabalho), assim, passava pelo desenvolvimento de uma abordagem não-marxista da mudança sócio-espacial (apesar de dialogar intensamente com autores marxistas fundamentais, como H. Lefebvre, M. Castells, D. Harvey e E. Soja, alguns deles bastante admirados por mim até hoje) (10), refletindo de uma maneira alternativa sobre os vínculos entre relações sociais e espaço. Uma tal empreitada, ainda que buscasse inspiração filosófica em Castoriadis, não poderia com ele dialogar diretamente: uma das principais lacunas da obra do autor greco-francês, como pude constatar desde cedo, é justamente a marginalíssima atenção dada por ele à dimensão espacial da sociedade. Essa tarefa se me apresentava sob medida para um geógrafo.
Um diálogo mais maduro com as ideias de Castoriadis, mais exigente e menos restrito a um mero “beber na fonte”, só começou para valer, em todo o caso, na década de 90. No Cap. 3 da Parte I de meu livro A prisão e a ágora: Reflexões sobre a democratização do planejamento e da gestão das cidades (A6) ofereci, pela primeira vez, quase um “inventário” daquilo que, a meu ver, são certas lacunas e deficiências da obra de Castoriadis (sem que isso, no entanto, implicasse ou implique negar a minha enorme dívida e a permanência de minha afinidade essencial com essa obra); refletir sobre essas lacunas e deficiências foi, de toda sorte, algo que foi sendo amadurecido ao longo da década de 90 e do começo da década seguinte. Antes disso, nos anos 80 e até o começo dos 90, eu não estava maduro para nem sequer para começar a enfrentar tais questões.
Data também desse período o início da “internalização teórica” da consciência de que as peculiaridades das circunstâncias histórico-geográficas em que um determinado autor escreve (sua língua, sua cultura, as vicissitudes e as potencialidades sociopolíticas de sua época...) não devem ser escamoteadas ou negadas; precisam, na verdade, ser assumidas e refletidas, caso não se queira que a busca de um significado “universal” para o próprio trabalho no campo das ciências sociais se circunscreva, no fundo, a uma imitação ou reprodução servil de ideias elaboradas em outros lugares e tempos, por autores embebidos em culturas e preocupações às vezes muito diferentes. Mas não foi ainda por essa época, e sim somente no decênio seguinte, que descobri e comecei a dar maior atenção a certos autores latino-americanos que iriam me instigar e inspirar, como o brasileiro Darcy Ribeiro (RIBEIRO, 1987 e 1995) no caso deste, uma “redescoberta”, pois já o havia estudado na década anterior , o argentino (radicado nos EUA) Walter Mignolo (MIGNOLO, 2003) e o uruguaio Raúl Zibechi (ZIBECHI, 1999, 2003, 2007 e 2008), profundamente empenhados em refletir sobre as potencialidades, sobre a complexidade e sobre os problemas cultural-identitários (Ribeiro e Mignolo) e sociopolíticos (Zibechi) das sociedades de nosso continente.
Não por qualquer espécie de “nacionalismo”, e sempre evitando cometer qualquer tipo de provincianismo teórico-conceitual, posso dizer, de todo modo, que, a partir desse instante, a consciência teórico-metodológica das particularidades de minha situação como pesquisador brasileiro e latino-americano, habitante de um país semiperiférico com características culturais específicas e em parte fascinantes, passou a estar muito mais presente em meu trabalho do que havia estado até então. É esse o momento, pode-se dizer, em que, no que tange à minha formação, sempre exposta a tensões entre vivências locais fortes e indeléveis (especialmente a minha infância e adolescência no Rio de Janeiro) e a experiência de “respirar os ares do mundo” (que começara, na minha imaginação, já com os livros, na década de 70, indo se concretizar com o meu doutorado na Alemanha, entre 1989 e 1993, e depois com experiências variadas em diversos países, na qualidade de pesquisador, professor, conferencista e expositor em congressos), a relação entre o “particular” e o “geral” se torna mais “equilibrada”, com um alimentando e fustigando intensamente o outro para provocar, no frigir dos ovos, a reposição constante da interrogação: “qual é, afinal, o meu papel como cientista?...”. Essa questão, devidamente contextualizada biográfica e histórico-culturalmente, está longe de ser trivial. Para mim, na verdade, ela tem sido motivo de angústia. Ao mesmo tempo em que somos socializados academicamente com base em uma exposição intensa a ideias europeias (e estadunidenses), seja no campo propriamente científico, seja no terreno filosófico, as achegas trazidas por intelectuais não-europeus costumam ser, com raras exceções, e pelo menos no que diz respeito à produção teórica, tacitamente subestimadas, secundarizadas. Mesmo em um país como o Brasil, e mesmo no âmbito do pensamento crítico, o mais comum é acabarmos acreditando que, de fato, o nosso papel é o de consumidores de reflexões de fôlego trazidas de fora, as quais possam nos ajudar a entender melhor a nossa própria realidade e a conduzir as nossas investigações empíricas. Os limites e os riscos de um exagero, quanto a isso, poucas vezes são seriamente discutidos, e até parece que problematizar essa situação teria, necessariamente, algo a ver com provincianismo ou desinteresse pelo diálogo com o Outro (Outro que, diga-se de passagem, quase nunca é um Outro mexicano, sul-africano ou peruano...). No longo prazo, introjeta-se uma imagem que, ao mesmo tempo que conserva uma certa divisão internacional do trabalho acadêmico “naturalizada” pela maioria dos pesquisadores europeus e estadunidenses, solapa a autoestima e aprisiona as potencialidades do pesquisador brasileiro (ou colombiano, chileno etc.). Não é acidental que “teoria” e “teórico” estejam, entre nós, quase que em vias de se consolidar como termos pejorativos ou suspeitos: ou são tomados como expressões de distanciamento da realidade ou, então, são vistos como dizendo respeito a coisas muito pretensiosas, além do nosso alcance.
Quanto à tarefa de contribuir um pouco para desenvolver uma abordagem libertária da mudança sócio-espacial, foi também apenas na década de 90 que, perseguindo a trilha entrevista em “Espaciologia”: Uma objeção, comecei a dar corpo a uma abordagem alternativa mais consistente. Essa abordagem, denominei-a “macroteoria aberta” do desenvolvimento sócio-espacial, designando por isso um enfoque basicamente procedural da mudança sócio-espacial, fundado metateoricamente sobre o princípio de autonomia (que constitui, no fundo, quase que o único conteúdo substantivo, histórica e culturalmente falando, desse arcabouço teórico). A rigor, essa “macroteoria aberta” é uma ferramenta para escavar e explorar as possibilidades de pensar os vínculos entre espaço geográfico e relações sociais, dentro de uma perspectiva de mudança para melhor (superação de obstáculos e gargalos), sem recorrer às usuais “muletas” das diversas teorias do desenvolvimento, mormente nos marcos da ideologia capitalista do desenvolvimento econômico: etnocentrismo (eurocentrismo), teleologismo e economicismo. Em vez de buscar definir um conteúdo específico para o “desenvolvimento”, como sói acontecer, a minha intenção tem sido a de propor, discutir e testar princípios e critérios tão abertos (mas também tão coerentes) quanto possível, de maneira que a definição do conteúdo da “mudança para melhor” seja deliberadamente reservado como um direito e uma tarefa dos próprios agentes sociais, e não do analista. Por dizer respeito à complementação de um enfoque metateórico já existente, a abordagem do desenvolvimento sócio-espacial inspirada na Filosofia castoriadiana da autonomia constitui, também ela, uma “macroteoria”, ou, pelo menos, um esboço de “macroteoria”; e, por ser basicamente procedural e não substantiva, pareceu-me merecer o adjetivo “aberta”. Essa opção por um enfoque procedural, sublinhe-se, é, na minha compreensão, a melhor saída para se livrar o debate em torno da mudança social (sócio-espacial) de seu usual ranço etnocêntrico, e, por tabela, igualmente de seus não muito menos usuais vícios do etapismo e do economicismo, que geralmente derivam do olhar eurocêntrico.
Esclareça-se, a esta altura, um pouco melhor: de que trata, afinal, o “desenvolvimento sócio-espacial”?
Vou me permitir resumir algumas considerações que teci em meu livro A prisão e a ágora (A6). Se se tomar o termo “desenvolvimento”, simplesmente, como um cômodo substituto da fórmula transformação social para melhor, propiciadora de melhor qualidade de vida e maior justiça social, sem presumir ser ela incapaz de ser redefinida em termos não-etnocêntricos, não-teleológicos e não-economicistas, abre-se a seguinte perspectiva diante dos nossos olhos: enquanto houver heteronomia, enquanto houver iniquidades, pobreza e injustiça, enquanto houver relações de rapina ambiental em larga escala (em detrimento de interesses difusos, mas particularmente em detrimento de determinados grupos e em benefício imediato de outros), fará sentido falar em implementar uma mudança para melhor na sociedade, rumo a mais autonomia individual (capacidade individual de decidir com conhecimento de causa e lucidamente, de perseguir a própria felicidade livre de opressão) e coletiva (existência de instituições garantidoras de um acesso realmente igualitário aos processos de tomada de decisão sobre os assuntos de interesse coletivo e autoinstituição lúcida da sociedade, em que o fundamento das “leis” não é metafísico, mas sim a vontade consciente dos homens e mulheres).
O projeto de autonomia, tal como descortinado por Cornelius Castoriadis, é, porém, um lastro metateórico, filosófico. Para ser tornado operacional, do ponto de vista da pesquisa e das necessidades de cientistas, e especialmente de geógrafos de formação, a interrogação filosófica que está aí embutida (o que é uma sociedade justa?) precisa ser desdobrada em parâmetros e em indicadores que lastreiem as análises de detalhe e o estudo de situações e processos concretos (de políticas públicas promovidas pelo Estado a dinâmicas de movimentos sociais). (11) O projeto de autonomia consiste em uma “refundação”/reinterpretação radical, por assim dizer, do projeto democrático, buscando inspiração na democracia direta da pólis grega clássica, ainda que sem ignorar-lhe os defeitos (notadamente a ausência de um elemento universalista, evidente diante da escravidão e da não-extensão às mulheres dos direitos de cidadania) e sem clamar, ingenuamente, por uma simples transposição de instituições da Antiguidade para um contexto sócio-espacial contemporâneo. Ao mesmo tempo, no meu entendimento, a discussão sobre a autonomia, no sentido castoriadiano, se inscreve, como eu já disse, na tradição mais ampla do pensamento libertário, atualizando-a.
O pensamento autonomista castoriadiano foi edificado no bojo de uma poderosa reflexão crítica tanto sobre o capitalismo e os limites da “democracia” representativa quanto sobre a pseudoalternativa do “socialismo” burocrático, visto como autoritário e, mesmo, tributário do imaginário capitalista em alguns aspectos essenciais. Ainda que a abordagem autonomista possa ser vista, em parte, como uma espécie de “herdeira moral” do anarquismo clássico (essa é a minha interpretação), em sua dupla oposição ao capitalismo e ao “comunismo autoritário”, seria, no entanto, incorreto tê-la na conta de uma simples variante anarquista: divergindo da tradição do anarquismo, redutora contumaz do poder e da política ao Estado, isto é, ao poder e à política estatais, compreende-se que uma sociedade sem poder algum não passa, conforme Castoriadis lembrou (CASTORIADIS, 1983), de uma “ficção incoerente”.
Faz-se mister esclarecer que não se trata de erigir a autonomia (que nada tem a ver com “autarquia” ou ensimesmamento econômico, político ou cultural, mas sim com as condições efetivas de exercício da liberdade, em diferentes escalas) em uma nova utopia em estilo racionalista. Não se trata de buscar um “paraíso terreno”, e muito menos de imaginar que a ultrapassagem da heteronomia seja um processo historicamente predeterminado ou inevitável. A autonomia, entendida muito simplificadamente como uma democracia autêntica e radical, é, ao mesmo tempo, um princípio ético-político e um critério de julgamento, e é essa segunda característica que lhe confere um sentido operacional: ou seja, os ganhos efetivos de autonomia são o critério que tenho utilizado no exame da utilidade social de situações e processos concretos, em substituição a critérios implícitos ou explícitos de corte liberal (que tendem a superestimar a liberdade individual, sendo muito fracos ou lenientes a propósito das condições de exercício da liberdade coletiva) ou marxista (que, em certa medida, fazem o inverso, além de serem complacentes, em significativa medida, com o poder heterônomo). Na qualidade de princípio e, principalmente, de critério de julgamento, a “geograficização” da autonomia remete, de imediato, a uma questão de escala: aumentos de autonomia em pequena escala (na esteira, por exemplo, de autossegregação), beneficiando grupos que, economicamente, existem às custas do trabalho e da opressão de outros, é, no fundo, uma autonomia que se alimenta de uma flagrante heteronomia em uma escala mais abrangente constituindo, portanto, uma pseudoautonomia, do ângulo da justiça social. Por fim: a autonomia, mesmo sendo, logicamente, uma meta (que é ou pode vir a ser assumida por vários grupos e movimentos e, hipoteticamente, por sociedades inteiras, dependendo de suas características culturais), não corresponde a um “estágio” alcançável de uma hora para outra. A superação da heteronomia é um processo longo, penoso, aberto à contingência e multifacetado (ganhos de autonomia aqui podem ser neutralizados com retrocessos heterônomos acolá) e não há promessa historicista alguma a assegurar a sua concretização. Como sempre, a história é criação e um processo aberto.
E quanto ao “desenvolvimento”? Mesmo sem pressupor ser razoável ou justo impor a “mudança para melhor”, como um valor, às mais diferentes culturas, o fato é que, nas sociedades ocidentais ou fortemente ocidentalizadas, esse valor (assim como a própria autonomia, ao menos como um valor latente) está, indubitavelmente, presente. (12). Hoje, praticamente o mundo todo situado fora das fronteiras do Ocidente (fronteiras essas não inteiramente consensuais), se acha ocidentalizado em alguma medida. A inocência foi perdida, quem sabe até mesmo para os ianomâmis ou pigmeus africanos remanescentes. Porém, a despeito do que induz a pensar a expressão, falar em “(sub)desenvolvimento” não deveria implicar achar que os países ditos “desenvolvidos” são perfeitos ou modelos a serem imitados. Para quase todos os efeitos, a heteronomia verificada em um país central e em um país semiperiférico ou periférico é mais uma questão de grau que de qualidade, por maior e mais chocante que seja a diferença, e o grau de heteronomia interno se correlaciona mal com o poderio econômico e militar. O que mais se assemelha a uma ruptura qualitativa se refere à posição geoeconômica e geopolítica dos países no cenário internacional: a oposição fundamental entre países centrais, de um lado capazes de, historicamente, exportar capital e drenar recursos dos demais países e até protagonizar intervenções militares para defender seus interesses, além de, mais recentemente, externalizar impactos ambientais “exportando entropia” (exportação de lixo químico, biológico ou nuclear, transferência de indústrias altamente poluidoras etc.) países periféricos, de outro. Os países semiperiféricos, a despeito das suas características intermediárias (“potências regionais”, já chamados países “subdesenvolvidos industrializados”), são, a exemplo dos periféricos, e em última análise, entidades subalternas no plano geopolítico e geoeconômico internacional. É bem verdade que, na base de uma mescla de fatores como a pressão de movimentos sociais internos (movimento operário) e, em muitos casos, os benefícios do “imperialismo”, os países centrais criaram condições para mitigar consideravelmente as desigualdades e a heteronomia internas. Contudo, se se entender o desenvolvimento sócio-espacial como um processo de superação de injustiças e conquista de autonomia, processo esse sem fim (término) delimitável, e se, além do mais, e empiricamente, não forem esquecidas as significativas (e, amiúde, crescentes) desigualdades que podem ser atualmente constatadas em muitos países centrais, a começar pelos EUA, então a distinção entre países “subdesenvolvidos” e “desenvolvidos” é, ainda que útil para caracterizar um certo tipo de contraste, muitíssimo pouco rigorosa, e pode acabar prestando um desserviço.
Contemplando-se a questão de um modo alternativo em relação às teorizações dos anos 50, 60 e 70 e, em grande medida, também diferentemente do ambíguo terreno do “desenvolvimento sustentável”, muito mais um slogan ideologicamente manipulável que um referencial teórico sólido, “desenvolvimento” não é conquistar “mais do mesmo” no interior do modelo social capitalista, isto é, mais crescimento e modernização tecnológica, mas sim, acima de tudo, enfrentar a heteronomia e conquistar mais e mais autonomia. E isso não pode ser feito sem a consideração complexa e densa da dimensão espacial, em suas várias facetas: como “natureza primeira” (processos naturais); como “natureza segunda” material, transformada pela sociedade em campo de cultivo, estrada, represa hidrelétrica, cidade...; como território, espaço delimitado por e partir de relações de poder; como “lugar” (place) dotado de significado e carga simbólica, espaço vivido em relação ao qual se desenvolvem identidades sócio-espaciais; e assim segue. Por conseguinte, cumpre reescrever a fórmula anteriormente empregada: o que importa não é, sendo rigoroso, uma “transformação social para melhor, propiciadora de melhor qualidade de vida e maior justiça social”, mas sim uma transformação para melhor das relações sociais e do espaço, propiciadora de melhor qualidade de vida e maior justiça social.
No passado, as teorias e abordagens do “desenvolvimento”, por vício disciplinar de origem (pois não eram oriundas da Geografia), ou negligenciavam o espaço geográfico, ou valorizavam-no muito parcelarmente, mutilando-o. O espaço era, o mais das vezes, reduzido a um espaço econômico ou, então, visto como “recursos naturais” e “meio ambiente”. (13) A reflexão geográfica sobre a mudança sócio-espacial (isto é, sobre o desenvolvimento) tem como apanágio, portanto, não apenas buscar evitar o economicismo, o etnocentrismo e o teleologismo (etapismo, historicismo), mas, obviamente, também o empenho na afirmação da espacialidade como um aspecto essencial do problema. De maneira mais indireta que direta, a Geografia vem dando, desde o século XIX, contribuições fantásticas para essa empreitada, e tenho procurado recuperar e valorizar essas contribuições. Uma delas, aliás, gostaria de ressaltar, por seu pioneirismo e sua afinidade ética e político-filosófica com o meu próprio trabalho: o projeto de Élisée Reclus, e especialmente do Reclus de L’Homme et la Terre (RECLUS, 1905-1908), de investigar a dialética entre uma natureza que condiciona a sociedade e uma sociedade que se apropria da natureza (material e simbolicamente: na verdade, a própria “natureza” é sempre uma ideia culturalmente mediada) e, para o bem e para o mal, a transforma. Esse projeto possui, acredito, um brilho ímpar e duradouro. É certo que a crença no “progresso” e o otimismo em relação ao avanço tecnológico, típicos de um autor do século XIX e nele compreensíveis, precisam, hoje, ser temperados, sem que necessariamente nos convertamos em pessimistas; e é lógico que, conceitual, teórica e metodologicamente, não faz mais sentido reproduzir o caminho trilhado por Reclus (o qual, ele próprio, estava sempre em movimento). Mas a ideia do homem como “a natureza tomando consciência de si mesma” (uma de suas muitas frases lapidares), reconsiderada à luz de uma época em que um modo de produção essencialmente antiecológico parece conduzir a humanidade à beira de uma catástrofe sem precedentes, na esteira de processos cada vez mais entrópicos em escala global, é a “deixa” para que os geógrafos refinem e otimizem a colaboração que podem prestar a um repensamento do mundo e suas perspectivas.
Sem embargo, a Geografia, apesar de privilegiadamente “vocacionada” para afirmar a importância do espaço como algo que não se restringe a um epifenômeno, e isso nos marcos de um tratamento holístico da espacialidade, se acha enredada em dúvidas que, até certo ponto, a minam e, se não a paralisam, pelo menos a tolhem. Compreender o espaço em suas múltiplas facetas, na esteira de uma concepção da apropriação e produção (econômica, simbólica e política) do espaço geográfico que faça justiça à imensa complexidade que reside na diversidade de fatores, relações e ambientes do espaço da “natureza primeira” (não no sentido de um espaço “intocado”, mas sim de processos geoecológicos), nos vínculos entre as facetas do espaço socialmente produzido (enquanto materialidade social, território, “lugar” etc.) e nos condicionamentos recíprocos entre natureza e sociedade, contudo, exige que se medite sobre o “contrato epistemológico” (por analogia à ideia de “contrato social”) que é inerente à Geografia, em suas relações internas. O “contrato epistemológico” que vigorou na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX, indiscutivelmente envelheceu. Submetidas a pressões por especialização e verticalização do conhecimento, e em uma época em que belas descrições de conjunto já não satisfaziam ao paladar científico, “Geografia Física” e “Geografia Humana” terminaram por, gradativamente, ter dificuldades para investir nos costuramentos horizontais. A isso acresce que, desejosa de ser aceita como um Saber Maior, ao lado de disciplinas nitidamente “nomotéticas” como a Economia ou a Sociologia, a Geografia Humana passou a recusar o hibridismo físico-humano de “ciência da Terra” em favor de um status como ciência social. Em tais circunstâncias, dois processos se foram desenrolando. De um lado, a velha “Geografia Física” no estilo de um Emmanuel de Martonne foi sendo, aos poucos, eclipsada por um conjunto de especialidades cada vez mais autônomas (Geomorfologia, Climatologia...); de outro, a “Geografia Humana”, que de Reclus e Ratzel a Orlando Valverde havia tido como uma de suas características a de estar solidamente assentada sobre uma base de informações trazida pela “Geografia Física”, passou a substituir a valorização do conhecimento de processos naturais pela construção e pelo aprimoramento de uma visão da natureza como algo cultural-simbolicamente construído e socialmente apropriado e, com isso, ganhou-se em senso crítico e visão humanística de conjunto, mas perdeu-se alguma coisa em matéria operacional, o que é uma pena. O potencial do discurso geográfico (e da sinergia teórica, conceitual e metodológica que se pode operar no interior do campo) o convida, o impele e quase que o predestina a jogar luz sobre temas espinhosos, na interface da sociedade com a “natureza”: das escorregadias noções de “sustentabilidade” e “desenvolvimento sustentável” à discussão dos processos de “externalização de custos ambientais” (e “exportação de entropia”) em várias escalas, passando pela “fabricação social” de “desastres naturais”. Faz-se mister, ou mesmo urgente, portanto, reconstruir, em bases novas, o “contrato epistemológico” que dá um rosto próprio à Geografia (conforme está implícito na nota 3), sob pena de, caso se fracasse, vir a Geografia a se tornar um saber cada vez mais apequenado, amesquinhado. Um saber que muitos julgarão supérfluo.
Apesar das várias exposições teórico-gerais da abordagem do desenvolvimento sócio-espacial (A3, A6, A11, B1, B5, B15, C8, C10, C11, C12, C13, C18, C19, C20 e C23, entre outros), bem como dos diversos projetos e muitos trabalhos empíricos e análises de temas específicos em que busquei tanto testá-la quanto retroalimentá-la e refiná-la (A2, A6, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B26, B27, C4, C5, C6, C7, C14, C15, C16, C17, C21, C22, C23, C24, C25, C27, C35, C36, C37, C38, D2, D3 e D4, entre outros), muito, muito mesmo ainda resta por fazer. De certo modo, acredito, há anos, que esse é quase que um “projeto de vida”... Socraticamente, quanto mais prossigo investigando, melhor percebo as lacunas que subsistem e a imensidão de coisas para ler, de autores com os quais dialogar, de abordagens para mencionar e de exemplos concretos para tomar contato e estudar. Posso, talvez, repetir as palavras de Riobaldo em Grande sertão: veredas: “[e]u quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa.” Só espero viver o suficiente (e ter energia suficiente) para poder avançar mais, convertendo desconfianças em conhecimento convincente.
PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PLANEJAMENTO E NA GESTÃO URBANOS PROMOVIDOS PELO ESTADO:
CONHECENDO POR DENTRO E... EXTRAINDO LIÇÕES
Pode-se dizer que, durante os anos 80, o meu interesse por “planejamento urbano” e “gestão urbana” era mínimo, quase nulo, e restringia-se a uma crítica e a
34
uma denúncia deles, vistos como expressões de práticas conservadoras ou mesmo reacionárias promovidas pelo Estado capitalista. Muito embora eu viesse acompanhando um pouco as discussões a respeito da “reforma urbana” desde meados daquela década, as quais culminaram com a elaboração da “Emenda Popular da Reforma Urbana”, submetida em 1987 ao Congresso Constituinte, minha mente ainda se achava por demais prisioneira de certos reducionismos e preconceitos, de modo que eu tendia a só valorizar, em matéria de contribuição para mudanças sócio-espaciais na direção de uma redução da heteronomia, as práticas dos movimentos sociais (ainda que elas de maneira alguma fossem encaradas sem um alto grau de exigência e mesmo uma certa dose de ceticismo, conquanto não no estilo em última análise desqualificador do “primeiro Castells”, aquele do La question urbaine). As práticas estatais, por outro lado, eram olhadas, quaisquer que fossem, com absoluta suspeição.
Pode-se talvez dizer, a meu favor, que a conjuntura política do período, anterior ao momento que, em 1989, viu nascer experiências muito interessantes (ainda que limitadas e ardilosas...) como o orçamento participativo de Porto Alegre, de fato não era nada estimulante. Seja como for, minha trajetória dos anos 80 me facultou uma poderosa “vacina” contra o “vírus” do reformismo complacente, “imunizando-me” contra a degenerescência um tanto quanto tecnocrática (“tecnocratismo de esquerda”, como venho provocando desde os anos 90) que passou a caracterizar o mainstream do pensamento sobre a “reforma urbana” no Brasil já a partir de fins dos anos 80.
Sem embargo, o refluxo e o enfraquecimento dos ativismos urbanos no Brasil, e mais amplamente a mediocridade política e o neoconservadorismo que, em escala global, tornaram-se hegemônicos ao longo da década de 80, me foram estimulando, juntamente com a “redemocratização” no Brasil e as possibilidades institucionais que isso permitiu (criação e multiplicação de instâncias participativas, de políticas públicas de caráter [re]distributivo etc.), a uma reflexão mais ponderada, embora de forma alguma complacente, a propósito do que se poderia (ou deveria) esperar (ou não esperar) do aparelho de Estado. Algo me dizia que, para além das leituras estruturais (planejamento urbano = Estado capitalista = exploração e opressão), em si mesmas um balizamento essencial, havia toda uma complexidade de situações e margens de manobra a explorar. Foi nessa época que “redescobri” a obra tardia de Nicos Poulantzas e sua reflexão sobre o Estado como uma “condensação de uma relação de forças” (POULANTZAS, 1985). Muito embora eu já tivesse rejeitado, desde meados da década de 80, a concepção de Estado do marxismo ortodoxo (que o reduzia a um “comitê executivo da burguesia”), a obra de Castoriadis, que se havia revelado decisivamente útil para mim em tantos outros aspectos, mostrou-se pouco útil no que se refere à tarefa de abraçar uma alternativa simultânea à concepção de Estado do liberalismo (“juiz neutro”, “árbitro pairando acima dos conflitos de classe”) e à visão marxista-leninista tradicional. Com Poulantzas isso foi possível, e uma “integração” do insight de Poulantzas ao arcabouço autonomista me permitiu, desde então, compreender melhor e tirar as devidas consequências, em um plano operacional, que o Estado, embora seja estruturalmente heterônomo (e, portanto tendencialmente sempre conservador), não é um “monólito”, um bloco sem fissuras ou contradições; conjunturas específicas, sob a forma de governos concretos, podem trazer consigo não somente uma potencialidade no que tange a ações diretamente desempenhadas pelo aparelho de Estado e que possam, dialeticamente (ou seja, contraditoriamente), apresentar uma positividade emancipatória, mas também oferecer para os movimentos sociais emancipatórios uma margem de manobra legal e institucional a ser inteligente e convenientemente explorada. Ao mesmo tempo, todavia, não me escapou que, em última análise, o Estado permaneceria sendo, sempre, uma instância de poder heterônoma e perigosa (risco de cooptação, por exemplo)...
Explorar as possibilidades oferecidas por políticas públicas, pela legislação formal e por instrumentos com forte potencial (re)distributivo e por esquemas de participação popular o chamado domínio da luta institucional (não-partidária) ao mesmo tempo em que não se deixava de lado a contribuição que os movimentos sociais poderiam oferecer e tinham já oferecido diretamente domínio da ação direta, foi a tarefa que me propus a enfrentar entre fins da década de 90 e meados do decênio seguinte. Esse período teve, por assim dizer, duas “fases”, que refletiram não somente meu maior amadurecimento analítico mas, também, uma estratégia de publicação.
Em uma primeira “fase” (que tem como “precursor” um texto por mim publicado já em 1993 nas Actas Latinoamericanas de Varsóvia, sobre as perspectivas e limitações da “reforma urbana” [C3]), o principal produto, o livro Mudar a cidade: Uma introdução crítica ao planejamento e gestão urbanos (A3), publicado em 2002, representou o meu esforço para submeter a escrutínio toda uma experiência acumulada de crítica do planejamento e da gestão promovidos pelo Estado e de desenho e implementação de instrumentos e políticas públicas de tipo “alternativo”, “progressista” e “participativo”. Experiências e instrumentos de planejamento e gestão urbanos participativos de diversos países, mas sobretudo do Brasil (com uma ênfase especial sobre tudo o que se discutira, desde os anos 80 e 90, sob as rubricas “reforma urbana”, “orçamentos participativos” e “novos planos diretores”), foram, nesse livro (mas também em inúmeros artigos, publicados mais ou menos na mesma época: p.ex. B11, B12, C12, C13, C14, C15, D3 e E4), identificados, esquadrinhados e avaliados. Em contraste com o período representado por minha dissertação de mestrado, o livro Mudar a cidade simboliza uma clara valorização, se bem que decididamente cautelosa e antiestadocêntrica, da luta institucional não-partidária (isto é, das possibilidades de aproveitamento de canais participativos institucionais por parte das organizações de ativistas), sob influência da conjuntura favorável que se estendeu da década de 90 (ou já desde fins da década anterior) até o começo da década seguinte. Durante vários anos, do finzinho da década de 90 até meados do decênio seguinte, estudei, sistematicamente, nos marcos de projetos de pesquisa que incluíram trabalhos de campo em cidades tão distintas quanto Porto Alegre e Recife, as potencialidades, limitações e contradições de vários instrumentos de planejamento geralmente tidos como progressistas e de diversas institucionalidades participativas (conselhos gestores, orçamentos participativos etc.), com o fito de formar um juízo mais sólido sobre o assunto.
Em uma segunda “fase”, cuja principal expressão é o livro A prisão e a agora (A6), aprofundou-se a discussão dos limites do esquemas de planejamento e gestão urbanos participativos patrocinados pelo aparelho de Estado, ao mesmo tempo em que o papel dos movimentos sociais teve sua análise complementada e refinada em alguns pontos importantes (voltarei a isso mais adiante). Fica mais nítido, nessa segunda “fase”, aquilo que, desde o começo, era a minha principal motivação para submeter a escrutínio os instrumentos, estratégias e rotinas de planejamento e gestão urbanos: explorar a questão das potencialidades, das limitações e dos riscos (por exemplo, dos riscos de cooptação), para os movimentos sociais, do envolvimento com a luta institucional (negociações com e pressões sobre o aparelho de Estado, apoio a canais e instâncias participativos oficiais, acesso a fundos públicos, acompanhamento ativo de processos legislativos e geração de expectativas concernentes ao potencial distributivo de instrumentos e políticas públicas), compreendida como um complemento taticamente conveniente ou necessário (em certas circunstâncias) da ação direta. Devido à grande atenção dedicada, no livro Mudar a cidade, a instrumentos de planejamento e rotinas de gestão a serem implementados pelo Estado (ainda que sob pressão e influência da sociedade civil, bem entendido), esse livro padece de um certo “desequilíbrio”, coisa que já não ocorre com A prisão e a ágora.
A CRIMINALIDADE VIOLENTA COMO DESAFIO
PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ESPACIAL NAS CIDADES
Conforme eu já expliquei anteriormente, meu interesse pela criminalidade violenta, como uma forma de compreender certos aspectos fundamentais da produção do espaço urbano do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras, começou durante a pesquisa de minha tese de doutorado. Esse interesse, conforme também já tive oportunidade de mencionar, teve continuidade logo após o meu retorno ao Brasil. Formalmente, dediquei um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq ao estudo dos efeitos sócio-espacialmente desestruturadores/reestruturadores do tráfico de drogas nas cidades brasileiras, sendo o produto principal dessa atividade de pesquisa o livro O desafio metropolitano.
Ao longo da década de 90 investi em uma abordagem e propus um conceito, a que denominei fragmentação do tecido sociopolítico-espacial da cidade, que reunia, em um todo analítico e explicativo integrado, o exame da formação de enclaves territoriais ilegais controlados pelo tráfico de drogas de varejo, a autossegregação em “condomínios exclusivos” e a “decadência” dos espaços públicos. Não se tratava, aí, de atualizar ou renovar as reflexões sobre a segregação residencial no Rio de Janeiro que eu realizara no início dos anos 90, mas de ir além da segregação enquanto conceito e realidade sócio-espacial. Com efeito, a referida fragmentação do tecido sociopolítico-espacial, conquanto se assente sobre a segregação residencial (e sobre vários outros problemas, que exigem, inclusive, a consideração de processos operando em escala global), a ela não se restringe e com ela não se confunde, como venho argumentando em artigos publicados em periódicos, coletâneas e anais de congressos desde os anos 90 e, também, em vários livros. A segregação residencial existe e existiu desde sempre, em qualquer cidade inscrita em uma sociedade de classes, na qual existam assimetrias e desigualdades estruturais. A fragmentação do tecido sociopolítico-espacial, de sua parte, é um fenômeno mais específico, que, por assim dizer, se superpõe a uma segregação já existente e a agrava (ou agrava alguns de seus aspectos, como a estigmatização sócio-espacial).
No que toca aos livros relacionados com a temática, a O desafio metropolitano seguiu-se, em 2006, A prisão e a ágora: Reflexões sobre a democratização do planejamento e da gestão das cidades. Este trabalho foi concebido como o primeiro de uma espécie de “trilogia” uma “trilogia” curiosa, não apenas por estar somente na minha cabeça e não ter sido explicitada para o público leitor como intenção do autor, mas também porque, nela, a “síntese” precede a “análise”. Explicando este último ponto: ao mesmo tempo em que A prisão e a ágora deveria retomar, de maneira articulada, minhas preocupações, meu envolvimento profissional e meu engajamento com o planejamento urbano crítico e os movimentos sociais (aquilo que, em grande parte metaforicamente, é representado pela “ágora” do título), o livro também deveria sintetizar os resultados de mais de uma década de pesquisas sobre a violência urbana, a fragmentação do tecido sociopolítico-espacial e a “militarização da questão urbana” (a “prisão” do título, em grande parte, embora não inteiramente, a ser interpretada enquanto metáfora) sendo os dois componentes, a “prisão” e a “ágora”, examinados e discutidos integradamente, um em relação com o outro. Por outro lado, era minha intenção, desde o começo, desdobrar esse livro em dois outros: um que retomasse e aprofundasse algumas questões relativas à “prisão”, isto é, à violência, heteronomia, à fragmentação, à “militarização da questão urbana”; e outro que retomasse e aprofundasse a análise da “ágora”, em particular da espacialidade e do papel dos movimentos sociais urbanos. Fobópole: O medo generalizado e a militarização da questão urbana (A7) foi publicado em 2008 tendo sido um dos dez finalistas do Prêmio Jabuti em 2009, na categoria ciências sociais e constituiu a exploração aprofundada disso que estou chamando de a dimensão da “prisão”, desdobrando e esmiuçando alguns assuntos que já haviam sido focalizadas no A prisão e a ágora. O aprofundamento da reflexão sobre a dimensão da “ágora” (as espacialidades de insurgência e luta por direitos e liberdade, com destaque para aquelas efetivamente caracterizadas por uma dinâmica autogestionária), de sua parte, ficará a cargo de um livro que, no momento, está sendo elaborado (vide a seção “O espaço no pensamento e na práxis libertários”, um pouco mais à frente).
Depois da publicação de A prisão e a ágora e Fobópole, passei a concentrar-me, no que respeita ao interesse pela temática da violência e da criminalidade, exclusivamente à interseção desse assunto com o tema da dinâmica e dos desafios dos movimentos sociais (problema já focalizado no Cap. 3 de Fobópole e em vários
38
artigos), do que derivou, sobretudo, o longo artigo Social movements in the face of criminal power, publicado em 2009 na revista City (C21).
A crise do ativismo favelado possui as suas especificidades em comparação com a dos bairros formais. Uma das causas da crise dos ativismos favelados no Rio de Janeiro já a partir dos anos 80 e, desde os anos 90, cada vez mais em várias outras cidades, foram e têm sido, ao lado dos efeitos de longo prazo do clientelismo tradicional (o qual é indissociável de um quadro de pobreza, desigualdade e dependência), certos impactos da presença crescente do tráfico de drogas de varejo nas favelas, conforme o autor já fizera notar em trabalho anterior (A2, págs. 167-8; ver, também, A6, A7, B2, B13, B25, B26, C4, C5, C6, C7, C17, C21, C32, C37). Embora seja difícil ter acesso a dados confiáveis, tudo indica que o número de líderes de associações de moradores de favelas mortos ou expulsos por traficantes, por se recusarem a submeter-se, tem sido, no Rio de Janeiro, desde os anos 80, muito grande, e igualmente muito grande parece ser o número daqueles que, diversamente, aceitaram submeter-se ou foram mesmo “fabricados” por traficantes. E o Rio de Janeiro é apenas um exemplo particularmente didático; casos de líderes favelados intimidados ou mortos por traficantes e de (tentativas de) interferência de criminosos em associações de moradores têm sido também reportados a propósito de várias outras cidades brasileiras. A isso se vêm acrescentando, cada vez mais, as intimidações por parte de grupos de extermínio (“milícias”), formados por (ex-)policiais, envolvidos em diferentes tipos de atividades ilegais, a começar pela extorsão de moradores.
O problema das interferências dos traficantes de drogas e “milícias” (sem falar na tradicional brutalidade policial) já começou a colocar-se também para a “segunda geração” dos “novos ativismos urbanos”, como o movimento dos sem-teto (vide A7 e C21). Cite-se, a título de exemplo, a expulsão dos militantes da organização Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) da ocupação Anita Garibaldi (uma grande ocupação na periferia de São Paulo, em Guarulhos, iniciada em 2001), em 2004. De nada adiantou os ativistas buscarem “argumentar” com os traficantes e, depois, tentarem enfrentá-los.
Até que ponto a ação de criminosos tem o potencial de dificultar o crescimento e a atuação dos movimentos sociais no meio urbano? (14)
Para os traficantes de drogas operando no varejo, uma favela e uma ocupação de sem-teto representam possíveis pontos de apoio logístico. (15) É possível imaginar que os movimentos conseguirão, em algumas situações, evitar, com base na astúcia, ser expulsos e desterritorializados (vide A6, a propósito de uma situação desse tipo envolvendo uma ocupação de sem-teto do Rio de Janeiro). É lícito conjecturar, porém, uma tendência de fricções e conflitos.
O tráfico de varejo de drogas ilícitas é uma atividade capitalista, embora informal, e os seus agentes são, muitas vezes, oprimidos que oprimem outros oprimidos (A6, pág. 510; A7; C17, pág. 7; C19). Todavia, imaginá-los como “potencialmente revolucionários” (e, por isso, potencialmente aliados das organizações de movimentos sociais) pelo fato de serem, de algum modo, explorados e consumidos pelo sistema como peças descartáveis, seria um caso extremo e quase delirante de raciocínio simplista e mecanicista e de wishful thinking (A7). Por outro lado, os traficantes de varejo são, sim, os “primos pobres” do tráfico de drogas; têm origem quase invariavelmente pobre e em espaços segregados, e são instrumentalizados por todo um conjunto de agentes sociais que engloba de empresários a policiais. Em vez de analisá-los apenas como categoria genérica (“os traficantes de varejo”), cabe lembrar que, no que se refere a essas pessoas, há muitas situações, dos garotos de onze ou doze anos de idade (ou até menos) que geralmente atuam como “olheiros” e “aviõezinhos” até os “donos” que operam a partir de presídios, passando pelos “soldados” (muitas vezes simples adolescentes) e “gerentes”. Diversos cenários podem ser construídos a propósito de como as relações entre ativistas e criminosos podem evoluir nos próximos anos, mas toda cautela é pouca a esse respeito. É bastante realista aceitar que o quadro atual dá margem a vários tipos de pessimismo, mais que a qualquer otimismo significativo.
No limite, é possível especular igualmente sobre outra coisa: a militarização da questão urbana, decorrente das respostas estatais à problemática da insegurança pública, não é, também, uma ameaça para qualquer movimento emancipatório?... Medidas legais restritivas e estratégias repressivas adotadas para (e a pretexto de) coibir a ação de criminosos não poderão ser utilizadas para constranger e abafar também movimentos sociais? Não se trata de pura dedução: a história da relação dos movimentos com o aparato policial e penal do Estado sempre mostrou exatamente isso, com intensidade variável ao longo do tempo. No momento, a luta contra o terrorismo a partir dos EUA e da Europa já traz evidências suficientes de uma nova fase do problema. No Brasil, onde a criminalidade ordinária desempenha o papel que, nos países centrais, é cumprido pelo espectro do terrorismo, a fragilidade da “democracia” representativa torna-se evidente em face do caráter “estrutural” e quase ubiquitário da corrupção estatal e o papel ainda largamente tutelar desempenhado pelas Forças Armadas (ZAVERUCHA, 1994:Cap. 3 e 2005) não pode ser ignorado, deve-se ter atenção para com os desdobramentos de longo prazo. A preocupação, no caso, é menos com golpes militares explícitos e clássicos que com um recrudescimento da militarização da questão urbana, que, aliás, já vem se manifestando desde os anos 90 (A2, pág. 98; A6, pág. 491; A7).
AUTOGESTÃO E “AUTOPLANEJAMENTO”:
UM OLHAR DIFERENTE SOBRE O PLANEJAMENTO E A GESTÃO URBANOS... E SOBRE OS PRÓPRIOS MOVIMENTOS SOCIAIS
A dimensão da “ágora”, porém, tal como tratada por mim em diversos capítulos de livros, artigos em periódicos e anais de congressos (como em B19, B21, B26, C12, C18, C23, C24, C25, C27, C33, C34,C35, C36, E16, E17, E18, E19, E20, E33) e, em particular, no livro A prisão e a ágora, merece algumas considerações adicionais. Afinal, se no Mudar a cidade eu havia focalizado mais detidamente a margem de manobra oferecida por um planejamento e uma gestão críticos promovidos pelo próprio Estado (ainda que sem deixar de lado as contribuições oferecidas pelos movimentos sociais diretamente), e se no livro O desafio metropolitano a preocupação com os movimentos sociais aparece sobretudo em seu aspecto “negativo” (vale dizer, análise de uma “crise” e de seus fatores), A prisão e a ágora e outros trabalhos de meados da década refletiram as minhas pesquisas sistemáticas sobre as potencialidades e as conquistas dos movimentos sociais incluindo-se, aí, uma defesa, muito mais aprofundada que aquela oferecida em algumas passagens do Mudar a cidade (como o Cap. 11 da Parte II), da possibilidade de analisar os movimentos sociais e suas organizações também como agentes de planejamento e gestão urbanos.
A ideia de que os movimentos sociais e suas organizações podem e devem ser enxergados também como agentes de planejamento e gestão urbanos é, para muitos, simplesmente contraintuitiva, devido ao arraigado preconceito (cujas razões teóricas e causas ideológicas tenho me esforçado para desvendar e explicitar) segundo o qual “planejamento urbano” e “gestão urbana” são atividades desempenhadas exclusivamente pelo aparelho de Estado. Opondo-me a isso, propus, com base em argumentos teórico-conceituais e evidências empíricas, uma expansão do entendimento do que seriam “planejamento urbano” e “gestão urbana”, de modo a englobar também diferentes aspectos das ações de vários movimentos sociais e suas organizações (movimento dos sem-teto no Brasil, piqueteros, asambleas barriales e fábricas recuperadas na Argentina, entre outros). É claro que me preocupei em esclarecer as muitas diferenças entre as práticas de planejamento e gestão realizadas pelos movimentos, de um lado, em comparação com as atividades do Estado, de outro, à luz das óbvias diferenças em matéria de prerrogativas legais (por exemplo, desapropriação de imóveis), de capacidade econômica etc. Entretanto, examinar os movimentos a partir desse ângulo permitiu não só elucidar melhor certas coisas, mas também situar melhor, conceitual e classificatoriamente, o universo do que eu venho chamando, há muitos anos, de planejamento e gestão urbanos críticos: se, em circunstâncias favoráveis, que tendem a ser antes a exceção que a regra, o próprio aparelho de Estado, na qualidade de governos específicos em conjunturas bastante particulares, pode, conforme já argumentei, bancar e promover a implementação de estratégias, políticas públicas, instâncias participativas e instrumentos que representam um avanço em matéria (re)distributiva e, às vezes, até mesmo político-pedagógicas (ampliação de consciência de direitos, “escolas de participação direta” etc.), somente os movimentos sociais podem protagonizar práticas espaciais insurgentes, que questionem a instituição global da sociedade e apontem para a sua superação radical. Com isso, um “planejamento urbano” e uma “gestão urbana” insurgentes, protagonizados pelos próprios movimentos sociais em diversas escalas da gestão dos seus “territórios dissidentes” em escala “nanoterritorial” ou microlocal até suas articulações em rede e ações arquitetadas em escalas supralocais, passaram a ser conceitualmente tratados por mim como um subconjunto do planejamento e da gestão urbanos críticos e, na verdade, como um subconjunto particularmente ousado, o único potencialmente radical.
Algumas de minhas contribuições a esse respeito têm obtido repercussão, inclusive, em âmbito internacional: prova disso é que, em 2014, saiu publicada uma tradução para o francês de um texto originalmente publicado em inglês na revista City, da Inglaterra. Providenciada pelos próprios colegas em que saiu publicado o capítulo (intitulado “Ensemble avec l’État, malgré l’État, contre l’État. Les mouvements sociaux, agents d’un urbanisme critique” [B27]) (16), Matthieu Giroud, um dos organizadores da coletânea (ao lado de Cécile Gintrac), não se limitou a fazer uma breve apresentação de meu texto: escreveu uma apresentação de sete páginas sobre o que tem sido o meu trabalho, sob o título “Marcelo Lopes de Souza, l’oeil libertaire d’Amérique latine”. Um reconhecimento desse naipe e desse calibre não pode deixar de ser visto por mim como uma certa compensação por trabalhar, como os demais pesquisadores brasileiros, em condições geralmente subótimas quando não hostis em matéria de infraestrutura e quadro institucional. (Mal sabe a maioria dos colegas europeus e estadunidenses aquilo que, no dia a dia, com frequência enfrentamos...)
Voltando às práticas de “planejamento urbano” e “gestão urbana” insurgentes, por fim, havia igualmente que distinguir entre situações distintas do ponto de vista político. Mais especificamente, se tornava necessário explicitar, da maneira mais criteriosa possível, as diferenças entre formas de organização mais “horizontais” e anti-hierárquicas, mais distantes de práticas heterônomas e centralistas, e, de outro lado, formas de organização significativamente “verticais”, embora insurgentes e críticas em face da ordem sócio-espacial capitalista. Tratava-se, mais concretamente, de admitir que, em matéria de “planejamento urbano” e “gestão urbana” insurgentes, nem tudo era (projeto de) autogestão e, por analogia, tampouco “autoplanejamento”. Essas diferenças têm sido sistematicamente estudadas por mim desde meados da década; embora tenham alcançado uma condensação inicial bastante explícita em A prisão e a ágora e em outros trabalhos, somente em um próximo livro, planejado para vir à luz daqui a alguns anos, é que será possível o aprofundamento que julgo ser necessário. Com esse outro livro encerrar-se-á, também, a “trilogia” que mencionei. Antes disso, porém, decidi fazer uma pausa de vários anos, para desincumbir-me de um projeto que acalentava, em segredo, desde os anos 1980: refletir, sistematicamente, sobre as concepções de espaço e as abordagens espaciais ao longo da história do pensamento libertário. É justamente essa a principal temática que me ocupou e ocupa no período que vem desde 2008, e sobre a qual discorrerei, ainda que forçosamente de modo muito sucinto, a seguir.
O ESPAÇO NO PENSAMENTO E NA PRÁXIS LIBERTÁRIOS
Logo após entregar à editora Bertrand Brasil o meu livro Fobópole, que foi publicado em maio de 2008, passei a dedicar-me ao levantamento sistemático e à leitura ou releitura de material para o meu próximo livro, juntamente com as atividades concernentes ao principal projeto de pesquisa por mim coordenado, o projeto CNPq intitulado Territórios dissidentes: Precarização socioeconômica, movimentos sociais e práticas espaciais insurgentes nas cidades do capitalismo (semi)periférico, conduzido por mim desde 2007. Começava a tomar forma, naquele momento, a obra O espaço no pensamento e na práxis libertários, que se encontra, atualmente, em estágio de redação. A preparação desse livro, porém, foi interrompida em 2011, para que eu pudesse me dedicar à elaboração de um outro, que considerei mais prioritário em termos imediatos, ainda que não tivesse a ver tão diretamente com os meus projetos de pesquisa: trata-se da obra Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial (A11 destinada a estudantes de graduação. Trata-se, como o nome sugere, de uma obra de discussão de conceitos básicos; a motivação para escrevê-la foi a constatação de que vários conceitos importantíssimos ainda não haviam sido sistematicamente explorados em língua portuguesa, ou, então, no caso de outros tantos conceitos, os melhores artigos disponíveis já tinham, em grande parte, dez, quinze ou mais anos desde que foram publicados. Escrita de modo a valer como uma introdução, a obra não deixou, porém, de trazer também muitos resultados de quase três décadas de pesquisas e reflexões pessoais, muito embora a variedade de conceitos ali tratados levasse a que, no caso de alguns deles (como região), a minha contribuição original individual seja diminuta. Como todo manual voltado para iniciantes, a liberdade do autor acaba sendo muito menor que no momento de redigir um ensaio ou artigo que reflita os resultados de suas pesquisas específicas: em uma obra como o livro em questão, somos obrigados a tratar não apenas do que nos agrada ou daquilo com que temos mais afinidade (ou a respeito do que temos mais acúmulo direto), mas sim daquilo que de fato é relevante para os estudantes, de modo a não gerar muitas lacunas ou assimetrias.
Uma vez entregue na editora Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial, pude, então, debruçar-me de novo sobre O espaço no pensamento e na práxis libertários.
Vem de longa data o meu interesse em refletir sobre a “linhagem libertária” na Geografia, sem restringi-la ao anarquismo clássico e buscando, com efeito, levar em conta as reflexões de neoanarquistas, autonomistas e outros intelectuais antiautoritários, tanto europeus (de Bookchin e Castoriadis a Foucault, Deleuze & Guattari) quanto latino-americanos (como Raúl Zibechi), que, mesmo sem serem geógrafos de formação, refletiram profunda e/ou criativamente sobre o espaço e a espacialidade. Foi somente em 2008, todavia, paralelamente ao projeto Territórios dissidentes (e, até certo ponto, em articulação com ele), que comecei a me organizar para fazer uma longa e minuciosa pesquisa sistemática, que incluísse a leitura (e, em vários casos, releitura) das obras de Élisée Reclus (em que só La Terre, a Nouvelle Gégraphie Universelle e L’Homme et la Terre, juntas, totalizam cerca de vinte e três mil páginas!) e Piotr Kropotkin, assim como de vários outros autores. De lá para cá, transformou-se em convicção a minha intuição de que do exame sistemático e generoso das contribuições teórico-conceituais explícitas e implícitas da “linhagem libertária” poderia resultar uma contribuição à renovação da pesquisa sócio-espacial, bastante em conformidade com as necessidades e urgências de nossa época.
Diversos artigos em periódicos e anais de congressos ou divulgados na Internet têm já se beneficiado dos resultados preliminares dessa empreitada (por exemplo, B19, C22, C23, C24, C25, C26, C35, C36, C37, C38, C41, E16, E17, E18, E19 e E20). Um outro marco da publicização de resultados preliminares sobre o tema foi a (co-)organização, em 2013 (juntamente com Richard White, da Sheffield Hallam University; Simon Springer, da University of Victoria; de Collin Wlilliams, da University of Sheffield; de Federico Ferretti, da Universidade de Genebra; de Alexandre Gillet, da Universidade de Genebra; e de Philippe Pelletier, da Universidade de Lyon) do panel (compreendendo três sessões ao longo de um dia inteiro de atividades) Demanding the impossible: transgressing the frontiers of geography through anarchism, parte das atividades da Annual International Conference 2013 da Royal Geographical Society (em parceria com o Institute of British Geographers), realizado em Londres.
No momento (dezembro de 2014), posso dizer que, após ter finalizado a parte principal do levantamento de material já no começo de 2010, estão também concluídas a fase das análises básicas a respeito das obras de alguns autores (como Élisée Reclus, Piotr Kropotkin, Murray Bookchin e Cornelius Castoriadis) e uma grande parte da primeira versão do trabalho. Contudo, não tenho tido pressa em terminar a redação: venho me permitindo verdadeiramente degustar as coisas que leio (muitas delas deliciosas, como é o caso de praticamente toda a prosa de um Reclus ou de um Kropotkin ora, como sabiam escrever os antigos!), checando e rechecando fontes, cotejando versões em diferentes línguas, polindo e tornando a polir o estilo, verificando os últimos detalhes. Também tenho aproveitado as estadias de ensino e pesquisa no exterior (como, recentemente, em Madri, entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014) para levantar material adicional em bibliotecas, arquivos e livrarias, e até para realizar entrevistas. Por maior que seja a minha paixão por meu trabalho como um todo, poucas vezes uma tarefa me cativou tanto quanto a longa pesquisa que está na base da redação desse livro.
No entanto, decidi não formalizar a pesquisa que está na base de O espaço no pensamento e na práxis libertários, submetendo um projeto a algum órgão de fomento. Isso por várias razões. Em primeiro lugar, porque Territórios dissidentes, que tem como um de seus objetivos propiciar alguns cotejos entre situações nacionais distintas (Brasil, África do Sul e Argentina, principalmente), já é um projeto que exige grande fôlego. E a isso se acrescenta o fato de que, recentemente, estive envolvido (ou passei a estar envolvido) com dois projetos internacionais: de 2011 a 2013 fui o coordenador latino-americano do projeto Solidarity Economy North and South: Energy, Livelihood and the Transition to a Low-Carbon Society, financiado pela British Academy; e desde 2012 (e até 2016) tenho sido membro do Steering Committee do projeto Contested_Cities Contested Spatialities of Urban Neoliberalism. Dialogues between Emerging Spaces of Citizenship in Europe and Latin America, financiado pela União Europeia, que reúne dez universidades de seis países diferentes (Inglaterra, Espanha, Brasil, México, Argentina e Chile), sendo eu o coordenador da equipe brasileira.
Em segundo lugar, porque foram exatamente certas observações e constatações que fiz no decorrer da condução do projeto Territórios dissidentes, inclusive com base em trabalhos de campo no Brasil e fora do Brasil, que me levaram a, finalmente, dar início ao sempre protelado esforço de reflexão sistemática sobre o lugar do espaço e da espacialidade na história do pensamento e dos movimentos libertários: mormente a constatação, ou antes confirmação, de que vários movimentos sociais emancipatórios da atualidade possuem tanto uma inequívoca dimensão libertária (autogestionária, “horizontal” etc.) quanto um denso conteúdo de “geograficidade” (organizacional, estratégica e identitariamente). Resolvi, então, que o mais razoável seria cultivar O espaço no pensamento e na práxis libertários como uma espécie de “projeto paralelo”, mas de modo algum menor. A rigor, ainda que Territórios dissidentes implique uma discussão teórica específica e que O espaço no pensamento e na práxis libertários se alimente de muito material empírico, há, entre esses dois esforços, uma relação de complementaridade: Territórios dissidentes se nutre, em grande parte, das reflexões teórico-conceituais que associo mais diretamente a O espaço no pensamento e na práxis libertários, enquanto que este bebe, a todo momento, na fonte de material empírico que é o ambiente mais imediato de Territórios dissidentes. E há, também, diferenças outras, por conta dessas já citadas: a pesquisa que embasa a maior parte de O espaço no pensamento e na práxis libertários é um pouco solitária e artesanal, dependente de uma imensa carga de leitura com a qual eu mesmo preciso lidar (e que prazer tem sido lidar com ela!), ao passo que Territórios dissidentes se beneficia grandemente dos esforços somados de toda uma equipe sob a minha orientação. Aliás, é chegada a hora de fazer um agradecimento dos mais necessários: aos meus colaboradores, sejam orientandos de graduação ou pós-graduação. Eles, juntamente com os muitos parceiros fora da universidade (nos movimentos sociais, sobretudo, mas também em outros ambientes), além de alguns bons amigos e colegas pesquisadores espalhados por quase meia dúzia de países, têm sido o esteio indispensável à realização de pesquisas tão dependentes de trabalho de campo e levantamentos bibliográficos extensos e diversificados. Sem a ajuda desses pesquisadores, bastante jovens na sua quase totalidade, eu certamente não teria obtido muitos dos resultados que logrei obter, desde meados dos anos 1990. Sem a ajuda deles eu seria, seguramente, apenas um pesquisador solitário, (auto)confinado a certas tarefas, e provavelmente mais rabugento do que sou.
OS “PRÓXIMOS CAPÍTULOS”: PROVÁVEIS FUTUROS PASSOS
EM MINHA TRAJETÓRIA COMO PESQUISADOR
Como já mencionei parágrafos atrás, coordeno, desde 2007, o projeto CNPq intitulado Territórios dissidentes: Precarização socioeconômica, movimentos sociais e práticas espaciais insurgentes nas cidades do capitalismo (semi)periférico; e, desde 2012, sou um dos coordenadores do projeto internacional Contested_Cities. É minha intenção publicar, após o término deles, e notadamente do projeto Territórios dissidentes, um livro que dê divulgação aos seus principais resultados. Entretanto, como o referido projeto só termina em 2018, esse livro, que já comecei a projetar, deverá ainda esperar vários anos para vir à luz, muito embora a redação de alguns de seus capítulos já tenha sido esboçada. Diversos artigos em periódicos e anais de congressos, além de alguns capítulos de livros, já têm trazido para o debate acadêmico alguns resultados parciais do que é um projeto ainda em andamento (vide, especialmente, B15, B16, C23, C24, C25, C32, C38, C40, D4, E7, E8, E11, E12, E14, E16, E17, E21, E22, E23; ver, também, o livro que co-organizei, sobre segregação residencial: A8). Provavelmente, contudo, nada será comparável a um livro que forneça uma visão de conjunto e aprofundada. De toda sorte, aquilo que imagino como os meus interesses prioritários pelos próximos cinco ou mesmo dez anos continuará tendo a ver com uma espécie de sinergia derivada da condução simultânea desses dois eixos de pesquisa; um, mais formal, representado pelo projeto CNPq (e pelo projeto da União Europeia); outro, mais informal, simbolizado pelo livro O espaço no pensamento e na práxis libertários. O acúmulo de material empírico e reflexões teóricas, com uma coisa continuamente fertilizando a outra, ainda irá render vários anos de trabalho, com diversos tipos de produtos específicos: livros, capítulos e artigos, cursos e palestras, textos de divulgação, atividades de extensão, e assim sucessivamente.
Em sua essência, o que pretendo realizar, durante os próximos anos, tem a ver com o aprofundamento e o refinamento, por meio tanto da consolidação de análises já feitas quanto da incorporação de novos temas e novos exemplos empíricos, da abordagem do desenvolvimento sócio-espacial que venho tentando construir. Em especial, um eixo de discussões referente aos aspectos ecogeográficos da problemática deverá ser, na medida do possível, implementado, para além do nível preliminar até agora alcançado. Não, evidentemente, para tornar-me, a esta altura da vida, especialista na matéria, mas sim para incorporar, de modo mais profundo e sistemático, os resultados do conhecimento gerado por colegas que têm dedicado suas carreiras ao estudo das dinâmicas e vulnerabilidades dos ecossistemas, de maneira a robustecer a contextualização (e problematização) de questões concernentes, por exemplo, às vinculações entre segregação residencial e “risco ambiental”, e entre proteção ambiental (e a instrumentalização do discurso a esse respeito) e conflitos pelo uso do solo. Em um patamar de maior abrangência e abstração, cumpre também devotar crescente atenção aos vínculos dos diferentes modos de produção e “estilos de desenvolvimento”, de um lado, com as intensidades de “estresse ambiental” e resiliência ambiental”, por outro, ou ainda às maneiras de integrar TEK (= Traditional Ecological Knowledge) e SEK (= Scientific Ecological Knowledge). (17) Interessantemente, uma das mais importantes fontes de inspiração para esse tipo de ampliação de meus interesses não precisa ser buscada em nenhum lugar remoto: basta recordar o exemplo de Orlando Valverde, “geógrafo clássico” e completo cujo figurino intelectual me parece, quanto a esse tipo de preocupação, cada vez mais atual.
Cenários de mais longo prazo que os próximos cinco ou, já um pouco temerariamente, dez anos são demasiado arriscados e, portanto, desaconselháveis. Tenho, todavia, a firme intenção, como já expus antes, de prosseguir burilando e lapidando as reflexões sobre a espacialidade das lutas contra a heteronomia e sobre os vínculos entre mudança social e transformação espacial, nos marcos do enfoque que tenho chamado, desde meados dos anos 1990, de “desenvolvimento sócio-espacial”. No fundo, esse tem sido o fulcro de meu trabalho acadêmico desde os anos 1980, e contra cujo pano de fundo todos os demais esforços podem ser encarados como esforços parciais, de “teste” ou de exemplificação. Tanto quanto posso enxergar (e esperar) agora, esse é o caminho que, se o destino e as circunstâncias assim permitirem, continuarei a trilhar.
MARCELO LOPES DE SOUZA, PROFESSOR
Dediquei-me, nas seções precedentes, a esquadrinhar e refletir sobre a minha atuação como pesquisador. É bem verdade que o meu trabalho propriamente como professor universitário, isto é, como educador, teve e tem a ver, na sua maior parte, com os resultados de meus esforços como pesquisador: sobretudo em nível de pós-graduação, mas também na graduação, muito do que eu tenho feito tem sido decorrência do conhecimento que amealhei em virtude e ao longo de minha experiência de pesquisa. Não obstante, duas razões se colocam para que um tratamento específico seja dado ao meu papel estritamente como docente: 1) um professor não é, ou pelo menos não deve ser, meramente um “pesquisador que ministra aulas”, mas sim alguém intrinsecamente preocupado com a comunicação de conteúdos aos mais jovens, aos futuros professores e pesquisadores (ou, no caso da pós-graduação, aos pesquisadores em início de carreira); 2) nem tudo o que lecionei teve relação direta com os meus temas preferenciais, muito menos com os temas de meus projetos de pesquisa.
De partida, faço a confissão de que, na qualidade de professor, tenho sido constantemente assaltado pela angústia de quem regularmente se interroga sobre a eficácia e o efeito de suas palavras. Não que esse tipo de preocupação esteja ausente de minha labuta como pesquisador; se assim fosse, decerto não seria eu um cientista. Ocorre, porém, que há uma diferença entre, de um lado, fazer trabalho de campo, revirar papéis em um arquivo, coordenar e treinar uma equipe e escrever livros e artigos, e, de outro lado, conviver com um grupo (às vezes bem numeroso) de jovens em uma sala de aula, no contexto formal de uma disciplina. Por quê?
Enquanto pesquisador, tenho, evidentemente, sempre que medir as minhas palavras e buscar o rigor; no campo, ao entrevistar pessoas que geralmente não conheço (embora, às vezes, já conheça, o que apresenta dificuldades adicionais), preciso adequar a minha forma de falar e, mesmo sem mentir, não posso me esquecer de ser cuidadoso e diplomático (dependendo do assunto da pesquisa, muitíssimo cuidadoso e diplomático, inclusive por razões de segurança, minha, da equipe e do entrevistado); e, ao lidar com os meus assistentes de pesquisa, não posso me esquecer de que são jovens em busca de orientação, não de sermões, muito menos de reprimendas que podem magoar e desestimular, em vez de estimular. (Uma autocrítica: algumas vezes me esqueci disso, ou me deixei guiar mais por emoções que pela razão. Lembro-me bem e com pesar de várias dessas ocasiões, e tento fazer com que a lembrança sirva de vacina.) Entretanto, ao conviver com orientandos e assistentes, tenho, via de regra, a chance de, após uma palavra inapropriada, um tom de voz desnecessariamente áspero ou uma pequena injustiça de julgamento, corrigir a falha, evitando maior prejuízo. (Felizmente, aliás, naqueles casos em que eu mesmo não me perdoei, tive a impressão de ser perdoado...) Um orientando ou um assistente, por conviver com o pesquisador que o guia por meses e anos, acaba por conhecer, em uma “escala humana”, as virtudes e as falhas deste, comumente aprendendo, por isso, a relevar os pequenos senões do quotidiano.
O aluno, em uma sala de aula, não goza, normalmente, do mesmo privilégio. Por mais que se diminua a distância entre docente e discente, e por mais que o professor tenha a consciência de recusar uma “educação bancária” (como diria Paulo Freire, aquela que apenas “deposita conteúdos” nas cabeças dos alunos) e buscar um diálogo mesmo com tudo isso não deixará de existir uma relação menos ou mais formal, em que alguém ministra conteúdos, aconselha, auxilia e... avalia. Ah, as notas! E a função de avaliador permeia, sempre, em maior ou menor grau, a relação professor-aluno. Quem assiste a uma palestra ou conferência tem a plena liberdade de se retirar do recinto, se o conteúdo ou a forma (ou ambos) não lhe agradar; pode, inclusive, sem maiores sobressaltos (embora, na prática, não seja bem assim), desafiar o expositor para um duelo intelectual. No máximo, o expositor pode discordar, até mesmo com ironia ou (lamentavelmente) com grosseria ao que o desafiante pode retrucar no mesmo diapasão, em se apresentando a oportunidade. Quanto ao leitor real ou potencial de um livro ou artigo, ele pode decidir não ler a obra, ou, já tendo lido, vociferar contra a mesma, praguejar contra o autor, jogá-la fora ou (mais produtivo) escrever um competente comentário bibliográfico, para alimentar o debate científico. Já o aluno, na sala de aula, é, em princípio, alguém que, sabendo-se destinado a uma avaliação, terá de conviver com o medo, latente ou manifesto, de não tirar uma boa nota, ou mesmo de ser reprovado. Ao menos em nossas instituições formais, o que se tem é uma relação menos ou mais vertical, menos ou mais hierárquica. Nessas circunstâncias, a margem de manobra para a “parrésia” dos antigos gregos a plena e plenamente corajosa liberdade de expressão face a face tende a ser modesta. Dependendo da “fama de mau” do professor, modestíssima.
Minha “fama”, pelo que me consta, não é de “mau”, mas, mais que propriamente ambígua, ela é ambivalente. Isso porque, por um lado, acho que sou conhecido entre os estudantes como exigente e, na opinião de alguns, de “durão” (especialmente, creio, daqueles que não sabem muito bem por que cargas d’água estão matriculados em um curso de Geografia, mesmo já tendo chegado ao último ano). Por outro lado, me permito acreditar, depois de duas décadas de magistério na UFRJ (ao que se acrescenta o ano e meio em que, durante o mestrado, lecionei na PUC-RJ, como professor auxiliar), que os alunos dedicados e sérios, por saberem que nada têm a recear e, imagino, também por desconfiarem que, a despeito do elevado grau de exigência, me esforço ao máximo para não ser injusto, comumente guardam boas lembranças do convívio comigo, inclusive no plano pessoal. Lembro-me bem de que, em algum momento no final dos anos 1990, desabafei com Roberto Lobato Corrêa, com quem na época eu dividia sala, queixando-me de que tinha chegado ao meu conhecimento que uma parte dos alunos me tinha como “muito exigente”, o que era motivo mais de temor do que propriamente de alegria por parte deles. Para mim, sempre tentando viver de acordo com os princípios que animam os meus projetos e escritos, essa imagem incomodava, pois eu desejava ser valorizado, exatamente, por ser exigente, ao mesmo tempo em que fazia de tudo para não exagerar. Recordo-me que Lobato me dirigiu mais ou menos as seguintes palavras: “quer saber de uma coisa? Essa é uma boa fama!” Partindo de quem partiu, essa observação serviu para reduzir enormemente as minhas inquietações. Porém, não as eliminou de todo: continuo, até hoje, me empenhando para que o “muito exigente” de alguns seja, em última instância, nada mais que um “exigente na justa medida”.
De toda sorte, nada nos pode servir de álibi para fugir à constante reflexão sobre a postura em sala de aula, nos quesitos comunicabilidade, didática e justiça. Não é por acaso que, com frequência, peço a monitores e estagiários em docência algum tipo de feedback, após uma aula em que não estive seguro de ser plenamente compreendido: “e então, o que você acha? Por que será que fizeram tão poucas perguntas, hoje?! A aula foi chata? Eu peguei muito pesado?” É comum, nessas horas, que meu jovem interlocutor faça críticas à sua própria geração. Independentemente de ele ter razão ou não (e deixando de lado a hipótese de simples bajulação ou falta de sinceridade), diante disso costumo insistir, pois, certamente, há sempre ou quase sempre algo que um professor possa fazer para melhorar seu desempenho. E, à medida que a diferença etária me afasta mais e mais da geração de meus alunos de graduação, esse tipo de preocupação só faz aumentar. “Será que posso usar uma ou outra gíria, ou contar uma anedota, para quebrar o gelo e facilitar a comunicação? Mas, será que essa ainda é uma gíria usada pelos jovens de hoje?”; “será que estou abusando das metáforas?”; “devo forçar um pouco mais a barra?”. Eis perguntas que, a cada semestre e quase a cada aula, me faço. Quanto a isso, aliás, houve época em que eu buscava “a” forma ideal de lecionar. Sem perceber, eu estava sendo positivista, formalista. Hoje sei que podem existir princípios e dicas, mas que, como “cada turma é uma turma”, cabe a mim ser flexível. O geral só é geral porque existe o particular, com todas as suas particularidades.
Além de tudo isso, preciso dizer que, com os meus alunos e graças a eles, fui me aprimorando, tornando-me menos rígido, ao mesmo tempo em que busco nunca virar leniente ou “bonzinho” (eu nunca respeitei professores apenas “bonzinhos”, e desconfio de que nenhum aluno, bom ou mesmo não muito bom, respeita). Mas, mais do que isso: várias vezes lucrei muito, também como pesquisador, quando alguém me fazia uma pergunta (ou uma crítica) que me obrigava a refinar um argumento, a atualizar meus dados e minhas informações, a preencher alguma lacuna, a encontrar uma forma de exposição mais persuasiva ou a ser mais claro. Sem querer ser apelativo, posso, honestamente, dizer que, com o passar dos anos, fui constatando o acerto das palavras de Sêneca, “docendo discǐmus”, “ensinando aprendemos”. Não é por acaso que, nos Agradecimentos de meus livros, várias vezes disse “obrigado” não apenas a assistentes, orientados e colegas, mas também aos alunos das turmas que tive os quais, com suas dúvidas, me despertaram novas dúvidas, ajudando a erodir algumas certezas provisórias.
Propus e vi serem aprovadas, desde os anos 1990, diversas disciplinas eletivas de graduação. Inicialmente, vieram “Planejamento urbano para geógrafos” e “Tópicos especiais em planejamento urbano”, disciplinas que costumam surpreender aqueles que esperam cursos puramente “técnicos”, e acabam topando com estímulos à reflexão sobre as potencialidades, mas também sobre o contexto econômico, político e cultural, sobre os limites, sobre as contradições e sobre os riscos de instrumentos e leis formais sem contar com o fato de que se espantam por eu inserir discussões sobre um assunto que parece estranho de ali comparecer: o papel dos movimentos sociais. Mais tarde, chegaram “Urbanização brasileira” e “Teoria da urbanização”. Contudo, durante quatorze anos ministrei uma disciplina muito abrangente, obrigatória, que apenas em limitada medida tinha a ver com os meus interesses imediatos como pesquisador: “Geografia Humana do Brasil”. Cobrindo, com um enfoque temático que sempre implicava uma seleção criteriosa, temas que iam das estruturas agrárias e da “questão agrária” ao debate sobre a “reforma urbana”, passando pela espacialidade da industrialização, a (auto[s])segregação residencial nas cidades e a dialética entre problemas sócio-espaciais e “desastres naturais”, entre outros assuntos, essa disciplina representou um certo fardo mas, acima de tudo, quase uma benção. Reforcei, graças a ela, o hábito de estabelecer conexões variadas entre os meus assuntos específicos prediletos (ou temas de pesquisa) e várias outras questões relevantes, cujas interconexões se impunham a um olhar não viciado pelos excessos da especialização. Preciso admitir que levei alguns anos até me achar à altura de uma disciplina tão ampla coisa um tanto amedrontadora quando se tem, como eu tinha ao começar a ministrá-la, pouco mais de trinta anos de idade e não muita experiência de vida. Para falar do Brasil, da “geografia” de um país, conhecimentos advindos da leitura são, para dizer o óbvio, insuficientes. Com o tempo, acho que me tornei um professor algo melhor que sofrível de “Geografia Humana do Brasil”, e terminava uma aula bem satisfeito ao ver que os exemplos, as fotos ou os mapas que obtive em campo ou dando cursos e assessorias pelo Brasil afora surtiam um efeito didático que uma descrição ou uma explicação “de segunda mão” não teriam surtido.
Ultimamente, de 2008 (quando deixei, por “fadiga específica” e temendo ficar muito repetitivo, de ministrar a “Geografia Humana do Brasil”) a esta parte, tenho acrescentado à minha experiência docente algumas disciplinas eletivas (que não foram criadas por proposta minha), no estilo “valise” ou “guarda-chuva”, em cujo âmbito trabalho, em cada semestre, com um tema central diferente: “Tópicos especiais em teoria e métodos da Geografia” e “Tópicos especiais em Geografia Política”. “Cidades, guerras e criminalidade”, “Os conceitos básicos da pesquisa sócio-espacial”, “Geografia dos movimentos sociais”, “Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial” e “A Geografia e o pensamento libertário” estão entre os assuntos que já focalizei, na qualidade de temas centrais dessas disciplinas.
Na pós-graduação (tanto no mestrado quanto no doutorado), cheguei a ministrar (como, aliás, também na graduação) a disciplina “Metodologia científica”, mas já muito cedo propus a criação de uma disciplina, “Desenvolvimento sócio-espacial”. Esta tem sido ministrada por mim anualmente, mas sempre com um tema central diferente: da análise crítica das “teorias do desenvolvimento” dos anos 1950, 1960, 1970 e 1980 ao pensamento geopolítico a respeito da urbanização (e seus pressupostos e implicações), vários são os temas que abordei desde meados da década de 1990. Um núcleo básico, no entanto, está sempre presente: a reflexão crítica sobre os processos de mudança sócio-espacial e sobre os conceitos e teorias que podem nos ajudar a compreendê-los ou elucidá-los. Ainda na pós-graduação, tenho sistematicamente colaborado, desde a década de 1990, com os Seminários de Doutorado, seja coordenando-os eu mesmo (o que já ocorreu diversas vezes), seja oferecendo alguma palestra a convite algum colega (o que também já aconteceu em várias ocasiões).
Também os cursos que ministrei no exterior (em Berlim, em Frankfurt/Oder, na Cidade do México e em Madri), sem contar as minhas experiências de interação direta com alunos de graduação e pós-graduação como conferencista no âmbito de atividades paradidáticas (em Tübingen, Londres, Edimburgo, Buenos Aires, Cidade do México, Joanesburgo e Madri, entre outros lugares), foram extremamente gratificantes. Serviram eles não somente para divulgar a ciência brasileira tentando, no caso de alguns países, colaborar para desafiar a formação eurocêntrica incutida desde cedo nos pesquisadores, mas também para aprender com o comportamento e a mentalidade dos estudantes de outros países e continentes. Não propriamente com satisfação, mas decerto que com interesse pude repetidamente constatar que, ao menos em matéria de motivação, meus alunos brasileiros não estavam atrás dos estudantes de países com uma vida universitária mais consolidada e um nível educacional formal mais elevado. No fundo, perceber (e, até certo ponto, compartilhar) as angústias de moças e rapazes de lugares e culturas tão diferentes tem sido algo que me impele ainda mais a refletir sobre o desafio generalizado que se coloca para as jovens gerações, atualmente amedrontadas, em todos os lugares, pelos fantasmas do desemprego, da precarização no mundo do trabalho, da erosão do welfare state (ou de seus arremedos, como no Brasil) e das medidas de controle sócio-espacial tomadas pelos Estados a pretexto do combate à criminalidade ordinária ou ao terrorismo.
ARRISCANDO-ME COMO “ADMINISTRADOR”
Independentemente de meus méritos e deméritos enquanto educador, abri mão de pôr a palavra “professor”, no meu caso, entre aspas. Não apenas por eu ser, formalmente, o tempo todo também professor, e não somente pesquisador; mas, igualmente, por me permitir pensar que minha atuação docente corresponde a uma de minhas vocações ou, quando menos, a uma de minhas paixões: a de transmitir conhecimento, comunicar descobertas e participar ativamente da formação dos futuros profissionais. Já o meu papel como administrador universitário, além de humilde e esporádico, provavelmente não corresponde, muito honestamente, a uma das coisas que faço na vida com maior competência. Mas há, aí, uma gradação a ser estabelecida. Se, por um lado, navegar em meio à burocracia (e lidar com as idiossincrasias dos burocratas) não está, definitivamente, entre os meus talentos, participar da formulação de políticas e diretrizes acadêmicas é uma das atividades que desempenho com mais gosto, e sobre a qual venho tentando, há bastante tempo, refletir. Não por acaso, a reforma do atual currículo do curso de bacharelado da UFRJ começou em fins dos anos 1990, quando eu era coordenador da graduação; e, no momento, após ter assumido em outubro de 2014 novamente a coordenação do curso de bacharelado (fui coordenador entre 1997 e 1998), integro e presido o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Departamento de Geografia, que tem como uma de suas missões, justamente, a discussão do currículo.
A restrição acima, portanto, não significa que eu descure a atividade administrativa. Em parte, muito pelo contrário. Os problemas e os destinos das universidades e a formulação de políticas e diretrizes (curriculares, por exemplo) são temas que sempre me interessaram e motivaram. Não é à toa que, em meados de 2010, divulguei, para um amplo público, por meio de um sítio na Internet (PassaPalavra), uma série de reflexões intitulada “Universidades: burocratização, mercantilização e mediocridade” (vide E9 e E10). Outro exemplo é que, quando fui coordenador de graduação, em fins dos anos 1990, ajudei a deflagrar um processo de reforma curricular, desafio que sempre me motivou muito, por envolver a discussão do espírito e do futuro da disciplina. (E, no momento, me encontro, novamente, em uma comissão de reforma curricular, composta pelos membros do Núcleo Docente Estruturante.) No entanto, o dia a dia da gestão universitária, em um ambiente nem sempre caracterizado por lhaneza e urbanidade, além de amiúde padecer com a ausência de critérios claros (e, às vezes, com o desinteresse justamente pelo estabelecimento de critério claros) e com o absenteísmo e a desmotivação de alguns agentes fundamentais, exige uma flexibilidade, um sangue-frio e uma capacidade de não se irritar que, confesso, ainda estou procurando conquistar mais completamente. É necessário, mas não é fácil.
Em que pese a minha dificuldade em lidar com os problemas supramencionados, não tenho, por obrigação institucional e por dever moral, me furtado a tentar cooperar também nessa seara. Sou e fui, como já mencionei, coordenador do curso de graduação em Geografia (bacharelado), e fui também, em duas ocasiões (1995 a 1996 e 2003 a 2004), vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ (sem contar a participação em comissões diversas). Espero ter acertado mais do que errado. Só posso dizer que cada nova experiência representou um aprendizado adicional, às vezes parcialmente doloroso. E percebi que, diante de circunstâncias muitas vezes bastante adversas (e quem dera que as dificuldades fossem meramente materiais...), tornar-se mais realista sem perder o entusiasmo e sem tornar-se cínico é um constante e magno desafio.
ESFORÇOS COMO ORGANIZADOR DE EVENTOS E EDITOR DE PERIÓDICOS
Tenho buscado colaborar com a organização de eventos científicos e, como se poderá depreender pelo exame de meu currículo, principalmente com a preparação de eventos temáticos (para algumas dúzias ou, no máximo, algumas poucas centenas de participantes), como o Primeiro Colóquio Território Autônomo (outubro de 2010) Os grandes eventos (muitas centenas ou alguns milhares de participantes) desempenham um papel relevante; por exemplo, na socialização acadêmica de estudantes e no início da carreira de jovens pesquisadores. Cada vez mais, porém, a massificação dos eventos, agravada pelo espírito “produtivista” (multiplicar os papers, às vezes bem repetitivos e pouco ou nada inovadores, com a finalidade de acumular pontos), exige que, se quisermos o aprofundamento de certos debates, teremos de lançar mão de eventos menores, que propiciem uma interação maior entre todos os participantes e invistam no adensamento de discussões específicas. Na verdade, eventos grandes e pequenos se complementam; não se trata de ter de optar por um ou por outro.
Em matéria de participações como editor, minhas atividades começaram, de maneira bem artesanal e rudimentar, já com os meus primeiros ensaios na época da graduação, época em que, juntamente com alguns colegas, ajudei a criar duas revistas de vida muitíssimo curta: Geografia & Crítica e Práxis. Constato, com pesar, que não me restou nem sequer um único exemplar dos poucos que chegaram a ser publicados, na primeira metade dos anos 1980. Se os menciono, aqui, é, acima de tudo, por razões sentimentais.
Minha primeira incursão “séria” no terreno da editoria de revistas científicas se deu nos anos 1990, já como professor da UFRJ. Foi em meados dos anos 1990 que, juntamente com alguns colegas vinculados ao Laboratório de gestão do Território/LAGET do Departamento de Geografia da UFRJ (inicialmente, Roberto Lobato Corrêa, Bertha Becker e Claudio Egler, aos quais se acrescentaram, mais tarde, dois outros editores, Maurício de Almeida Abreu e Gisela Aquino Pires do Rio), ajudei a criar a revista Território. Essa revista rapidamente se afirmou como uma das melhores da Geografia brasileira na década de 90, tanto pela qualidade dos textos (cuidadosamente avaliados) quanto pela qualidade de impressão e excelência estética.
A partir do início da década passada, multiplicaram-se os convites para atuar como consultor científico de diversas revistas brasileiras. Uma, em particular, muito me alegrou: em 2003 tornei-me membro do Conselho Científico da revista Cidades, seguramente um dos mais importantes periódicos no campo dos estudos urbanos no Brasil e na América Latina. Exerci essa função até 2007, quando tornei-me, aí sim, membro da Comissão Editorial da referida revista. Organizei, inclusive, dois números especiais de Cidades (vide A9 e A10).
Entre o final da década passada e o início da presente década foi a vez de, após publicar uma apreciável quantidade de artigos e capítulos de livros no exterior (em países tão diversos como Inglaterra, Alemanha, Polônia, Portugal, África do Sul, México, Venezuela e Equador), ser convidado para atuar como consultor permanente (já havia atuado como parecerista esporádico) e, depois, como editor de periódicos também no exterior, publicados em inglês. O primeiro desses convites veio em 2009, quando me tornei membro do International Advisory Board da revista City, publicada na Inglaterra pela editora Routledge, que vem se afirmando como um dos mais criativos e influentes veículos e fóruns de discussão de problemas urbanos no mundo. No ano seguinte recebi o honroso convite para tornar-me Associate Editor da mesma revista, incorporando-me a um rol que já incluía nomes como Manuel Castells e Leonie Sandercock trabalho que, para muito além da preparação de pareceres, inclui a participação na definição da própria linha editorial e do conteúdo temático da revista (temas de dossiês, alterações gráficas e de estrutura, reflexão sobre a “filosofia” e o papel do periódico, e assim segue). Desde 2011, aliás, coordeno, juntamente com Barbara Lipietz, a seção “Forum” daquela revista. Por fim, também em 2010, fui convidado para integrar o Editorial Board da revista Antipode, publicada nos Estados Unidos pela editora John Wiley & Sons (em associação, na Inglaterra, com a editora Blackwell). Muito embora o meu envolvimento quotidiano com a revista City seja bem maior, o convite para cooperar com o grupo que coordena e anima Antipode revestiu-se de um significado muito especial: afinal, trata-se de um periódico pioneiro no âmbito da Geografia crítica, com cujos artigos e debates muito aprendi desde os tempos de estudante de graduação e pós-graduação.
APRESENTANDO E COMENTANDO OS TRABALHOS DE COLEGAS
Uma das atividades para as quais fui já várias vezes convidado, e à qual não posso me furtar, consiste na difícil porém relevante tarefa de avaliar trabalhos de colegas pesquisadores. Refiro-me, aqui, não a pareceres sobre projetos de pesquisa (coisa que tenho feito regularmente, na qualidade de pesquisador do CNPq), e tampouco aos pareceres que (também regularmente) tenho dado sobre artigos enviados aos mais diferentes periódicos, no Brasil e no exterior. Refiro-me, isso sim, aos comentários que tenho sido convidado a fazer sobre livros de colegas, ora sob a forma de prefácios, ora sob a forma de comentários bibliográficos e resenhas críticas para periódicos nacionais e estrangeiros.
Dentre os prefácios, gostaria de destacar três: o texto “Um ‘olhar afrodescendente’ sobre as cidades brasileiras”, escrito para o livro Do quilombo à favela: A produção do “espaço criminalizado” no Rio de Janeiro, de meu ex-orientando de mestrado e doutorado (e hoje professor da Faculdade de Formação de Professores da UERJ) Andrelino de Oliveira Campos (F1); o texto “Mapeando (e refletindo sobre) a criminalidade violenta”, escrito para o Atlas da criminalidade no Espírito Santo, de Cláudio Luiz Zanotelli et al. (F2); e o texto “Às leitoras e aos leitores desassombrados: Sobre o livro Espaço, gênero e masculinidades plurais”, preparado para o livro Espaço, gênero e masculinidades plurais, organizado por Joseli Maria Silva, Márcio José Ornat e Alides Batista Chimin Junior (F3). Os temas são bem diferentes entre si, mas nos três casos senti-me muito honrado por poder dizer algumas palavras sobre publicações que, cada uma ao seu modo, são relevantes científica e socialmente. No caso do livro de Andrelino, trata-se de um estudo sério, derivado de sua dissertação de mestrado, a respeito da origem e evolução das favelas e de sua estigmatização, tomando como exemplo o Rio de Janeiro; o atlas coordenado pelo colega Cláudio Zanotelli, da Universidade Federal do Espírito Santo, é uma contribuição importante para a discussão do tema da (in)segurança pública e, ao mesmo tempo, um marco no envolvimento dos geógrafos de formação com esse assunto, no Brasil; finalmente, o livro organizado pela professora Joseli Maria Silva, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (PR), com a colaboração de dois colegas, é uma das várias contribuições da colega paranaense a propósito das questões de gênero através do prisma da análise sócio-espacial, a que os anglo-saxônicos costumam referir-se como “feminist geography” (tema do qual estou longe de ser um especialista, mas cuja relevância reconheço e tenho volta e meia enfatizado, razão que, aos olhos da referida colega, justificou o convite para que eu apresentasse a obra).
Quanto aos comentários bibliográficos e às resenhas, como se pode ver pelo meu c preparei já vários, no Brasil (em 1998, um comentário sobre o livro The Wealth and Poverty of Nations. Why Some are so Rich and Some so Poor, de David Landes, e em 2000 um comentário sobre o número temático da revista Plurimondi intitulado Insurgent Planning Practices, organizada por Leonie Sandercock) e no exterior (em 2010, uma análise, sob o título "The brave new (urban) world of fear and (real or presumed) wars", do livro Cities under Siege: The New Military Urbanism, de Stephen Graham, e em 2011, sob o título "The words and the things", um comentário sobre o livro Seeking Spatial Justice, de Edward Soja). Além de ser o mais recente, o que teve mais conseqüências, sob a forma de uma resposta do autor, foi o comentário bibliográfico “The words and the things”, que publiquei em 2011 na revista inglesa City (C26).
E FORA DO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO?...
Apesar das críticas e ressalvas que costumo endereçar à instituição universitária (especialmente no Brasil), por suas dificuldades em lidar com as demandas e os desafios que põem à prova a sua capacidade de resposta não raro um tanto emperrada pelas fronteiras disciplinares e pelas corporativismos, pelo burocratismo etc. devo ressalvar que não subestimo a importância que o mundo acadêmico tem e deveria ter ainda mais, como um dos poucos espaços em que é ainda possível o exercício de reflexões e pesquisas de fôlego e, geralmente, sem constrangimentos e interdições de natureza política à livre manifestação de opiniões (como ocorre em órgãos da administração estatal ou no âmbito das empresas privadas). Em tendo a academia como a minha “casa”, qualquer contribuição mais ampla que eu possa oferecer, tenho buscado sempre, acima de tudo, oferecê-la a partir da universidade, e não fora dela. Acho importante ressaltar isso, em um momento em que críticas niilistas e simplistas (às vezes um pouco ingênuas) são volta e meia dirigidas às universidades em geral, indistintamente, inclusive por pessoas ligadas a ela (fazendo cursos de graduação e pós-graduação).
No entanto, muitas vezes é imperativo sair da universidade, e é óbvio que não me refiro apenas aos trabalhos de campo. É gratificante, conveniente e mesmo necessário interagir diretamente com os agentes que, explícita ou tacitamente, endereçam demandas à universidade; no meu caso, sem desprezar por completo a colaboração eventual com administrações municipais, o Ministério Público e outras instâncias do Estado (em que, seja dito com todas as letras, aprendi coisas que não aprenderia apenas no âmbito de trabalhos de campo, e muito menos somente sentado em alguma biblioteca), tenho privilegiado a interlocução e a colaboração com organizações da sociedade civil, notadamente de movimentos sociais. Em todos esses casos, trata-se de atingir novas audiências e de conversar com não geógrafos. Para atingir novas audiências e tratar de certos assuntos, vi-me compelido a adotar novas linguagens: a linguagem da divulgação científica, a linguagem do texto de circunstância, a linguagem daquele que concede uma entrevista a um jornalista, a linguagem de quem discute com ativistas, a linguagem de quem dialoga com “operadores do Direito” (promotores etc.), e assim segue. No currículo completo que complementa este memorial pode ser encontrada uma lista de minhas atividades nesse sentido, entre palestras, consultorias e escritos. Gostaria, entretanto, neste momento, de destacar uma delas: os meus livros de divulgação científica, sobretudo o ABC do desenvolvimento urbano (A4) e Planejamento urbano e ativismos sociais (em coautoria com Glauco B. Rodrigues) (A5), bem como os textos de divulgação e de circunstância que tenho, basicamente, disseminado por meio da Internet (ver de E1 a E33). De certa maneira, aqui entram também os textos introdutórios à seção de debates entre ativistas da revista City (seção essa chamada “Fórum”), escritos em coautoria com Barbara Lipietz (vide C29, C30 e C42).
Tenho dedicado uma atenção especial à divulgação científica (a popular science dos anglo-saxônicos, a Populärwissenschaft dos alemães). A divulgação científica pode ser exercida, e bem, por jornalistas dotados de sólido embasamento científico, e temos vários exemples felizes disso. Entretanto, sempre acreditei que também cabe aos próprios pesquisadores concorrer para disseminar as suas ideias para além de um público especializado (os pares, os estudantes). Quando publiquei, em 2003, o ABC do desenvolvimento urbano, atualmente em sua quinta edição, preparei um prefácio intitulado “Por que livros de divulgação científica, nas ciências sociais, são tão raros?”. Me intrigava e incomodava que, com a principal exceção da História (ou uma ou outra coisa em outra área, como A era da incerteza, do economista J. K. Galbraith), os assuntos das ciências sociais não costumavam render livros escritos para um público leigo que fizessem um sucesso comparável ao Cosmos, do astrônomo Carl Sagan, ou Uma breve história do tempo, do físico Stephen Hawking. Quando adolescente, minha inclinação para a ciência foi despertada, precisamente, pela leitura dos livros de Sagan, de Isaac Asimov (não me refiro apenas aos de ficção científica, mas sobretudo a O universo), do físico George Gamow (que criou um simpático personagem fictício, com o qual explicava a Teoria da Relatividade para adolescentes!), do matemático Carl Boyer, do astrobiólogo Alexander Oparin, do filósofo e matemático Bertrand Russell, do astrônomo brasileiro Ronaldo Rogério de Freitas Mourão... Nas últimas duas décadas, livros de divulgação científica escritos por cientistas naturais, do biólogo britânico (nascido no Quênia) Richard Dawkins ao físico brasileiro Marcelo Gleiser, passando pelo paleontólogo estadunidense Stephen Jay Gould e o físico-químico russo (radicado na Bélgica) Ilya Prigogine, tornaram-se ainda mais populares do que jamais o foram. Em face disso, sempre me perguntei por que cargas d’água a Geografia, já com tão vasta experiência acumulada com a preparação de livros didáticos, não investia mais decididamente na produção de livros para leigos: afinal, o fascínio pela Geografia é latente entre o público em geral. (Seria o medo de parecer... banal? Um tal temor, quiçá não muito consciente, se existir, é até um pouco compreensível em uma ciência que aspira a um papel sofisticado. Compreensível, mas equivocado. Divulgar não significa trivializar, bagatelizar, hipersimplificar. A dificuldade que os leigos ainda têm de conceber a Geografia, para além de uma disciplina escolar, como uma ciência relevante, não advém do fato de ela fazer parte da experiência educacional de todos! Advém, isso sim, de sua imersão ainda insuficiente no trato autoconfiante e “integrador” de problemas e questões postos pela própria história humana e suas vicissitudes. Mas, para avançar nessa direção, os geógrafos precisarão se lamentar menos e aprender melhor a cooperar uns com os outros, nas condições desafiantes do século XXI.) O exemplo de Élisée Reclus, com a sua monumental Nouvelle Géographie Universelle (RECLUS, 1876-1894) em dezenove volumes (publicados, em fascículos, ao longo de dezoito anos) e repleta de mapas e belíssimas ilustrações, está aí para nos inspirar... Despertar o entusiasmo dos jovens pela Geografia é a forma mais direta de se cultivar as vocações autênticas e fortes das novas gerações de geógrafos. E de mostrar aos não-geógrafos o que a Geografia de fato é e pode ser.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (1): OBRAS DE OUTROS AUTORES CITADAS AO LONGO DO MEMORIAL
CASTORIADIS, Cornelius (1975): L’institution imaginaire de la société. Paris: Seuil.
---------- (1978 [1970-1973]): Science moderne et interrogation philosophique. In: Les carrefours du labyrinthe. Paris: Seuil.
---------- (1983 [1979]): Introdução: socialismo e sociedade autônoma. In: Socialismo ou barbárie. O conteúdo do socialismo. São Paulo: Brasiliense.
---------- (1985 [1973]): A questão da história do movimento operário. In: A experiência do movimento operário. São Paulo: Brasiliense.
---------- (1986): La logique des magmas et la question de l’autonomie. In: Domaines de l’homme Les carrefours du labyrinthe II. Paris: Seuil.
---------- (1990): Pouvoir, politique, autonomie. In: Le monde morcelé Les carrefours du labyrinthe III. Paris: Seuil.
---------- (1996): La démocratie comme procédure et comme régime. In: La montée de l’insignifiance Les carrefours du labyrinthe IV. Paris: Seuil.
58
DARDEL, Eric (1990 [1952]): L’homme et la terre. Nature de la réalité géographique. Paris: Editions du CTHS.
GONÇALVES, Carlos Walter Porto (1998): Nos varadouros do mundo: da territorialidade seringalista à territorialidade seringueira. Rio de Janeiro: mimeo. [Tese de doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ.]
---------- (2001): Outras Amazônias: As lutas por direitos e a emergência política de outros protagonistas. In: Amazônia, Amazônias. São Paulo: Contexto.
LACOSTE, Yves (1988): A Geografia – Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Campinas: Papirus.
LEFEBVRE, Henri (1981 [1974]): La production de l’espace. Paris: Anthropos.
MIGNOLO, Walter D. (2003 [2000]): Histórias locais/projetos globais. Colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: Editora UFMG.
NICHOLLS, Walter J. (2007): The Geographies of Social Movements. Geography Compass, 1(3), pp. 607-22 [Texto colhido na Internet em 9/5/2007: http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1749-8198.2007.00014
POULANTZAS, Nicos (1985 [1978]): O Estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro: Graal.
RECLUS, Élisée (1876-1894): Nouvelle Géographie Universelle. La Terre et les Hommes. Paris: Hachette, 19 vols. Há uma reprodução fac-similar disponibilizada na Internet pela Librairie Nationale Française (http://gallica.bnf.fr; o endereço específico varia de acordo com o tomo), mas da qual estão ausentes três volumes (4, 11 e 14). [Uma versão em inglês, publicada em Nova Iorque em 1892 por D. Appleton and Company sob o título The Earth and its Inhabitants, pode ter sua reprodução fac-similar acessada por meio do sítio dos Anarchy Archives; faltam, porém, os dois últimos dos dezenove volumes, justamente os dedicados à América do Sul. Felizmente, entretanto, os três que estão ausentes do sítio da Librairie Nationale Française se acham ali presentes.]
---------- (1905-1908): L’Homme et la Terre. Paris: Librairie Universelle, 6 vols. Reprodução fac-similar disponibilizada na Internet pela Librairie Nationale Française (http://gallica.bnf.fr; o endereço específico varia de acordo com o tomo).
59
RIBEIRO, Darcy (1987 [1978]): Os brasileiros (Livro I: Teoria do Brasil). Petrópolis: Vozes, 9.ª ed.
---------- (1995): O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras.
SANTOS, Milton (1978): Por uma Geografia nova. São Paulo: HUCITEC.
---------- O espaço dividido. Os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos. Rio de Janeiro: Francisco Alves.
SOJA, E. (1980): The Socio-Spatial Dialetic. Annals of the Association of American Geographers, 70 (2), pp. 207-225.
VALVERDE, Orlando (1979 [1958]): Apresentação da 1.ª edição. In: WAIBEL, Leo: Capítulos de Geografia Tropical e do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE.
ZAVERUCHA, Jorge (2005): FHC, Forças armadas e polícia: Entre o autoritarismo e a democracia (1999-2002). Rio de Janeiro, Record, 2005.
ZIBECHI, Raúl (1999): La mirada horizontal. Movimientos sociales y emancipación. Montevidéu: Nordan-Comunidad.
---------- (2003): Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento. Buenos Aires e Montevidéu: Letra libre e Nordan-Comunidad.
---------- (2007): Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
---------- (2008) Territorios en resistencia: Cartografia política de las periferias urbanas latinoamericanas. Buenos Aires: Lavaca.
NOTAS
1 A história é comprida, mas vou resumi-la. Atraído pela Geografia Agrária e pela Geopolítica (a ponto de eu, inclusive, buscar até mesmo mesclar conhecimentos desses dois campos, como quando de minhas incipientes reflexões de juventude sobre o papel das colônias agrícolas israelenses na estratégia defensiva do Estado de Israel), comecei, ainda durante o último ano do nível médio, em 1981, a frequentar regularmente a Biblioteca do IBGE, que funcionava por cima livraria da instituição, na Av. Franklin Roosevelt, no Centro do Rio de Janeiro. Lá trabalhava, como bibliotecário, um professor de Geografia, Sr. Nísio, o qual, em dada altura, depois de alguns meses, em face do talvez curioso interesse de um adolescente por aqueles temas (como logo lhe ficou claro, eu não estava indo até lá apenas por força de algum trabalho do colégio, mas sim para passar horas e horas me deliciando com livros de Geografia e outros assuntos, assim como também já fazia, desde alguns anos, na Biblioteca Nacional e na do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), me deu uma dica: o livro Capítulos de Geografia Tropical e do Brasil, de Leo Waibel. Devorei o livro, e fiquei tão tocado pelo prefácio de Orlando Valverde que, daí, para ler o primeiro volume (o único que chegou a ser publicado, por conta do golpe de 1964) do Geografia Agrária do Brasil, do próprio Orlando, além de outros textos dele, foi um pulo. Diante do meu interesse pelo autor, o amável Prof. Nísio me sugeriu que, com sorte, acabaria encontrando com o próprio Orlando por ali, já que ele costumava ir até a biblioteca. Infelizmente, meses se passaram, mas a feliz coincidência não se deu. Impaciente, o adolescente de dezessete anos fez, ao menos dessa vez, um uso construtivo da impetuosidade típica da idade: buscou o endereço no catálogo telefônico e escreveu uma cartinha para o grande geógrafo, expondo-lhe dúvidas e opiniões sobre assuntos diversos, como as distinções entre “Geografia Agrícola”, “Geografia Agrária” e “Geografia Rural”. E não é que Orlando, mesmo ocupadíssimo, respondeu à carta de um secundarista? Mandou-me uma detalhada resposta e, ainda por cima, anexou separatas de trabalhos seus, além de um livro. E ainda deixou uma portinha aberta, para caso eu desejasse voltar a fazer contato. E, obviamente fiz. A partir daí, e até o seu falecimento, em 2006, foi ele, para mim, a principal referência, se não teórica ou temática (como ele dizia, com seu jeito maroto: “você se bandeou para a Geografia Urbana...”), seguramente ética.
2 Uma dessas outras dívidas é para com alguém que, apesar de não ter influenciado diretamente as minhas opções profissionais (temáticas, teóricas ou metodológicas), desempenhou um papel que não poderia ser minimizado por mim, sob pena de incorrer em flagrante ingratidão. Trata-se do geógrafo Jorge Xavier da Silva, de quem fui assistente de pesquisa durante vários anos na UFRJ. Apesar das nossas diferenças de temperamento e inclinações profissionais, além de umas tantas discordâncias a propósito de questões referentes à Geografia, com Jorge Xavier aprendi muita coisa útil, da minha iniciação ao geoprocessamento a certos conteúdos próprios à pesquisa ambiental; talvez não a ponto de lidar com elas com o entusiasmo que ele teria desejado, mas, de todo modo, eu creio que sempre soube valorizar esses conhecimentos, ainda que à minha própria maneira. Para além disso, algumas de nossas polêmicas ou debates acalorados deram ensejo a algumas das conversas mais estimulantes que tive em minha fase de formação: por exemplo, sobre a presença e os efeitos da tecnologia na sociedade contemporânea e o papel do geógrafo quanto a isso. Confesso sentir uma grande saudade desses papos, mas, com o tempo, fui aprendendo que, a propósito das boas lembranças, o mais gostoso é deixá-las ser o que são: lembranças. E uma lembrança das mais essenciais é aquela referente ao apoio que ele várias vezes me deu, sendo que sem um deles, em um momento decisivo, eu provavelmente teria de ter adiado o meu doutorado. Por fim, mas não com menos ênfase, preciso ressaltar que Xavier esteve por perto em alguns dos momentos mais importantes da minha vida, fossem os inesquecivelmente bons (como o almoço com Paulo Freire, na casa deste, em São Paulo, em 1987), fossem os inesquecivelmente ruins (como a perda da minha mãe, em 1995) sendo que, com relação a estes últimos, ele esteve sempre entre os primeiros a oferecer um ombro amigo e palavras de conforto. Hoje em dia, e cada vez mais, percebo o quanto essa dimensão humana transcende qualquer outra coisa.
3 Eis que surge, então, quase inevitavelmente, a dilacerante questão: Geografia ou “Geografias”? Será legítimo falar da Geografia como uma ciência social, apenas? Ou será ela, como sempre insistiram os clássicos, uma “ciência de síntese”, “de contato”, na “charneira” das ciências naturais e humanas, sendo ambas estas coisas ao mesmo tempo? As ideias da “síntese” e da “ciência do concreto”, no sentido tradicional (tal como com quase arrogância e uma certa quase ingenuidade professadas, por exemplo, por Jean Brunhes, que implicitamente colocava a Geografia em um patamar diferente das disciplinas “abstratas”), se acham, há muito, bastante desacreditadas. Outras ciências também praticam sínteses, não apenas análise; e não há ciência que repudie, impunemente, o exercício da construção teórica, fazendo de uma (pseudo)concretude empirista profissão de fé. Em nossa época, com tantas necessidades de aprofundamento, a resposta dos clássicos, muito inspiradora decerto, mas um tanto datada, não mais satisfaz. Entretanto, não teria o legado que compreende o longo arco que vai de um Ritter ou um Reclus, em meados ou na segunda metade do século XIX, até um Orlando Valverde, na segunda metade do século XX, sido amplamente renegado em favor de uma compreensão da Geografia (por parte dos geógrafos humanos pós-radical turn) um pouco exclusivista, ainda que largamente correta e fecunda? Não pretendo “resolver” esse problema secular da “identidade da Geografia”, mas vou propor, aqui, duas analogias, que talvez soem estranhas. Milton Santos, com a sua teoria dos “dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos” (SANTOS, 1979), logrou superar as interpretações dualistas, no estilo “setor moderno”/“setor tradicional”, por meio de uma visão dialética da bipolarização entre dois “circuitos” (“inferior” e “superior”) que, apesar de distintos e volta e meia atritarem entre si, são, sem embargo, em última instância interdependentes. Me arrisco a pensar que seria produtivo ver a Geografia de modo semelhante: em vez de tratá-la dicotômica e dualisticamente (como se fosse realmente razoável “descolar” sociedade e natureza uma da outra, ou como se não se achassem dinâmica, processual e historicamente entrelaçadas de modo complexo), e também em vez de apenas decretar que a Geografia é “social” e que a Geografia Física é uma ilusão ou um anacronismo, não seria uma questão de sensatez, mais até do que se simples “tolerância”, reconhecer que a Geografia é, diferentemente da Sociologia, da Ciência Política ou da História, mas também da Física, da Astronomia ou da Química, epistemologicamente bipolarizada? Dois “polos epistemológicos” se abrigam no interior desse complexo, vasto e heterogêneo campo denominado Geografia: o “polo” do conhecimento sobre a natureza e o “polo” do conhecimento sobre a sociedade. Há geógrafos que fazem sua opção preferencial (identitária) pelo primeiro, o que terá consequências em matéria de formação e treinamento teórico, conceitual e metodológico; e há geógrafos que fazem sua opção preferencial (identitária) pelo segundo, o que também terá consequências em matéria de formação e treinamento teórico, conceitual e metodológico. E ambas as opções são legítimas, assim como legítimo e saudável será aceitar que as especificidades metodológicas, teóricas e conceituais exigem que, para que se possa falar em cooperação (ou, no mínimo, em respeito mútuo), os dois tipos de geógrafos uns, identitariamente herdeiros por excelência da tradição dos grandes geógrafos-naturalistas, e os outros basicamente identificados com a tradição de um estudo da construção do espaço geográfico como “morada do homem”, desembocando mais tarde na análise da produção do espaço pela sociedade possuem interesses e, por isso, treinamentos e olhares diferentes. Em havendo essa compreensão, base de uma convivência produtiva, pode-se chegar, e é desejável que se chegue, ao desenho de problemas (de pesquisa) e à construção de objetos de conhecimento (específicos) que promovam, sem subordinações e sem artificialismo, cooperação e diálogo. Que promovam, pode-se dizer, a unidade na diversidade, sem o sacrifício nem da primeira nem da segunda. Gerar-se-iam, com isso, sinergias extraordinárias, atualizando-se e modernizando-se, sobre os fundamentos de um esforço coletivo, o projeto intelectual de um Élisée Reclus (RECLUS, 1905-1908), e que era o espírito da Geografia clássica (século XIX e primeira metade do século XX) em geral. Para “integrarmos” esforços dessa forma não basta, entretanto, imaginarmos, abstratamente, que o “espaço” ou o “raciocínio espacial”, por si só, já uniria, pois a própria maneira como o “espaço” é construído como objeto há de ser diferente, daí derivando conceitos-chave preferenciais bem diferentes: em um caso, bioma, (geo)ecossistema, nicho ecológico, habitat (natural)... Em outro, território (como espaço político), “lugar” (espaço percebido/vivido), identidades sócio-espaciais, práticas espaciais... Partindo para a minha segunda analogia, poder-se-ia, à luz disso, dizer que a Geografia seria uma “confederação”, devendo abdicar da pretensa homogeneidade ideologicamente postulada pelos ideólogos de um “Estado-nação”. A Geografia é irremediavelmente e estonteantemente plural. Na medida em que os geógrafos “físicos” admitam que a própria ideia de “natureza” é histórica e culturalmente construída e que a “natureza” que lhes interessa não deveria, em diversos níveis, ser entendida em um sentido “laboratorial” e “desumanizado” (no máximo recorrendo a conceitos-obstáculo como “fator antrópico”), e na medida em que os geógrafos “humanos” reconheçam que os conceitos, raciocínios e resultados empíricos da pesquisa ambiental (em sentido estrito) pode lhes muito útil (articulando esses conhecimentos, sejam sobre ilhas de calor, poluição ou riscos de desmoronamentos/deslizamentos, aos seus estudos sobre segregação residencial ou problemas agrários), então deixar-se-á para trás o desconhecimento recíproco para se ingressar em um ciclo virtuoso. Se esse é o cenário mais provável? Tenho, infelizmente, muitas dúvidas.
4 Desenvolvida por uma variedade de autores, com diferenças às vezes sutis em matéria de enfoque, a “Teoria da Regulação” não é um corpo teórico uniforme e inteiriço. Corresponde, muito mais, àquilo que os alemães chamam de Theorieansatz (livremente traduzível como “esboço teórico”), uma construção teórica aberta, aproximativa e heterogênea, típica do universo das ciências sociais e humanas (e diferente dos padrões de “teoria” preconizados pelas ciências naturais).
5 No caso das ciências da natureza, as coisas se passam de modo parcialmente análogo, mas parcialmente bastante diverso. Em primeiro lugar, porque as construções teóricas mais universais (mecânica newtoniana, Teoria da Evolução darwiniana, Teoria da Relatividade etc.) podem até, muitas vezes, acarretar consequências filosóficas e deflagrar debates éticos (o que é muito bem exemplificado pelas querelas que acompanham o darwinismo), mas o peso dos valores, das visões de mundo e dos condicionamentos ideológicos que se amalgamam com as escolhas e se associam intestinamente às argumentações dos pesquisadores não é, de modo algum, comparável ao que se tem nos estudos sobre a sociedade. Em segundo lugar, porque as exigências para que algo seja considerado uma “teoria” costumam ser bem mais rígidas nas ciências naturais, particularmente naquelas mais abstratas, como a Física: uma teoria física deve, por exemplo, possuir grande poder preditivo, sendo capaz de abrir caminho para descobertas empíricas a partir de uma base muito abstrata (como a inferência sobre a existência de um novo planeta apenas pela consideração de peculiaridades nas órbitas de astros próximos, sobre os fundamentos da teoria da gravitação); ao mesmo tempo, o elevado nível de abstração implica que, não raro, uma construção matemática preceda de muitos anos as observações empíricas e os experimentos que possam validá-la em caráter definitivo (como aconteceu, inclusive, com a própria Teoria da Relatividade). No estudo da sociedade, em que o próprio objeto impõe a consideração muito mais séria da contingência e da criação inesperada de novas qualidades, predições tendem a ser muito mais flexíveis e modestas (pautadas em uma criação robusta de cenários tendenciais), caso não se queira correr o risco de sofrer a acusação de ser uma “profecia” ideologicamente embalada. Além das óbvias diferenças na relação sujeito/objeto, no estudo da sociedade praticamente nunca se pode recorrer a experimentos controlados, em contraste com aquilo que é corriqueiro nas ciências da natureza. De todas essas diferenças epistemológicas decorrem diferenças de ordem não apenas teórica (grau de formalização possível ou desejável das teorias), mas também metodológicas.
6 O leitor encontrará, ao final deste memorial, a relação dos meus trabalhos aqui citados, precedidos por uma bibliografia referente às obras dos outros autores que menciono. No caso dos outros autores, empreguei o padrão usual de referenciação bibliográfica, reservando para os meus trabalhos essa forma codificada (“A1”, “B3” etc.), em que o material aparece classificado de acordo com a sua natureza (livro [A], capítulo de livro [B], artigo em periódico [C], trabalho publicado na íntegra em anais de congressos [D] e artigo de divulgação científica [E]).
7 Apesar de terem produzido uma razoável quantidade de estudos empíricos sobre o tema desde os anos 80, os geógrafos de formação têm tido, no terreno da teoria acerca da dimensão espacial dos ativismos e movimentos, uma atuação modesta, o que tem dificultado a percepção de sua produção por parte dos outros cientistas sociais. Isso é, ainda por cima, agravado por certos fatores, como o fato de que, na Geografia Urbana, o interesse pelo assunto tem sido bastante irregular, tendo até mesmo declinado nos anos 90, para ressurgir timidamente na década seguinte (consulte-se, sobre isso, B14). (Interessantemente, no âmbito dos estudos rurais e na interface destes com a reflexão ecológica vários trabalhos dignos de nota têm sido elaborados e publicados no Brasil, com destaque, por sua criatividade, para os estudos de GONÇALVES [1998 e 2001].) Seja lá como for, as lacunas já vêm sendo tematizadas e problematizadas, como, por exemplo, por NICHOLLS (2007).
8 Apesar disso, tomei conhecimento, anos depois, de que um Personagem Influente, insatisfeito com as críticas que eu lhe havia endereçado, externara veemente protesto contra a publicação do trabalho, já que algumas ressalvas a propósito de aspectos de sua obra haviam sido feitas por mim. Felizmente para mim (e espero, que, também, ao menos para alguns leitores), os responsáveis pela revista souberam preservar a dignidade da mesma e rechaçar, diplomaticamente, a objeção, utilizando um argumento singelo: se o texto possuía qualidade acadêmica, então a resposta deveria ser acadêmica; que se permitisse e saudasse um debate público, em vez de interditá-lo, ao se vetar um trabalho cuja publicação havia sido aprovada. Entretanto, jamais houve uma réplica, um único comentário sequer − talvez para não atribuir demasiada importância ao trabalho de um novato petulante.
9 E a ele devo, ainda, mais uma coisa, no âmbito profissional: o gosto pela Cartografia Temática e, sobre essa base, o melhor domínio da linguagem cartográfica.
10 É o caso, em especial, de Edward P. Thompson, Henri Lefebvre, Nicos Poulantzas, Anton Pannekoek, Herbert Marcuse e Raymond Williams, com os quais nunca deixei de dialogar em meus trabalhos.
11 No que concerne ao desenvolvimento sócio-espacial, venho propondo, há muitos anos, o seguinte encadeamento de parâmetros: 1) parâmetro subordinador (escolha de natureza, evidentemente, basicamente metateórica): a própria autonomia, com as duas faces interdependentes da autonomia individual (grau de efetiva liberdade individual) e da autonomia coletiva (grau de autogoverno e de autodeterminação coletiva, na ausência de assimetrias de poder estruturais, e também com os dois níveis distintos da autonomia no plano interno (ausência de opressão no interior de uma dada sociedade) e no plano externo (autodeterminação de uma dada sociedade em face de outras); 2) parâmetros subordinados gerais: justiça social (questões da simetria, da equidade e da igualdade efetiva de oportunidades) e qualidade de vida (referente aos níveis histórica e culturalmente variáveis de satisfação de necessidades materiais e imateriais); 3) parâmetros subordinados particulares: derivados dos gerais, enquanto especificação deles, correspondem aos aspectos concretos (cuja escolha e seleção dependerá da construção de um objeto específico e das circunstâncias em que se der a análise ou julgamento) a serem levados em conta nas análises, tais como (apenas para exemplificar) o nível de segregação residencial, o grau de acessibilidade (acesso socialmente efetivo a recursos espaciais/ambientais) e a consistência participativa de um determinado canal ou instância institucional vinculada ao planejamento ou gestão sócio-espacial. Aproveitando o gancho, a tarefa de construção de indicadores é importante complemento dos esforços de seleção e integração de parâmetros; sobre isso, tenho buscado contribuir, por exemplo, precisamente no que se refere à construção de indicadores de consistência participativa (e, mais recentemente, colaborando para se pensar em indicadores de “horizontalidade”/“verticalidade” de organizações de movimentos sociais, levando-se em conta a dimensão espacial).
12 Falar em “desenvolvimento” (e em “subdesenvolvimento”), aliás, só faz sentido no contexto da ocidentalização que veio na esteira da multissecular expansão do capitalismo, dos séculos XV e XVI à atual globalização: as civilizações pré-colombianas, o Egito dos faraós, a Atenas de Péricles ou o Japão feudal não eram, evidentemente, “subdesenvolvidos”, nem tampouco “desenvolvidos” (“subdesenvolvidos” ou “desenvolvidos” em relação a quê?...). Essas categorias, simplesmente, tornam-se inteiramente desprovidas de toda e qualquer razoabilidade fora do contexto histórico da emergência e da expansão do moderno capitalismo.
13 Em A6 e, já antes disso, em B1, B5, C8 e C10, eu havia discorrido sobre a maneira como o espaço geográfico é tratado (quando é!) nas teorias sobre o desenvolvimento, da teorização mais clássicas sobre o desenvolvimento econômico (de Schumpeter a Rostow e a Hirschman) ao “desenvolvimento sustentável” dos anos 90 em diante, passando pelos enfoques da “redistribuição com crescimento”, da “satisfação de necessidades básicas”, da “dependência” (e do “sistema mundial capitalista” de I. Wallerstein), do “development from below”, do “desenvolvimento endógeno”, do “ecodesenvolvimento” e do “etnodesenvolvimento”. Também tive a oportunidade de considerar o que chamo de críticas “niilistas”, no estilo de um S. Latouche ou de um G. Esteva. Faz-se necessário salientar que, de modo algum, pretendo ou pretendi sugerir que aportes sumamente fecundos ou, pelo menos, interessantes sobre o espaço não tenham sido carreados por, pelo menos, algumas dessas vertentes. Das contribuições perrouxianas a propósitos da regionalização e do “polos de crescimento” à valorização operada por I. Sachs a propósito do ambiente natural (para além do economicismo mais estreito), passando pelos elementos inspiradores que podem ser encontrados nos trabalhos de um Wallerstein, bastante coisa foi e tem sido importante para mim mesmo. O grande problema é que, como expus no corpo do texto, a valorização do espaço, quando existe, é, ao menos aos olhos de um geógrafo, tímida e parcial. E a isso se deve acrescentar que, na minha avaliação, uma valorização realmente holística e plena da dimensão espacial não exige apenas uma formação profissional propiciadora das bases epistemológicas e teórico-conceituais para uma tal valorização, mas igualmente uma disposição filosófica para evitar a tentação de determinar de modo muito amarrado o que seja o conteúdo concreto da “mudança para melhor” (= desenvolvimento). Uma significativa abertura, nesse estilo, é, aliás, o que pode permitir que, para além dos próprios conceitos científicos usuais (espaço e seus derivados: território, “lugar”, paisagem, região...), termos nativos (“pedaço”, “cena” e outros tantos) possam ser peças-chave da análise, em meio a uma consideração séria das vivências espaciais e cosmovisões particulares de cada grupo ou cultura).
14 Não quero sugerir, com isso, de maneira nenhuma, que o problema é desconhecido no campo. De modo algum, e já há, inclusive alguma literatura a respeito. Não obstante, o fato é que ele não possui a mesma visibilidade e a mesma repercussão midiática que nas grandes cidades
15 Esses espaços oferecem-lhes vantagens tais como: 1) sua localização, muitas vezes próxima de bairros de classe média ou, em todo caso, acessível aos consumidores; 2) sua estrutura interna (malha viária labiríntica), em alguns casos também sua topografia (favelas localizadas em encostas), que são dois trunfos que facilitam a defesa do território; 3) o “escudo humano” e a abundância de mão-de-obra barata (e que pode ser facilmente reposta) proporcionados pelas pessoas ali residentes. Em face disso, a territorialidade dos militantes e a territorialidade dos criminosos vão, quase inevitavelmente, atritar entre si. Sobre essas questões, investigadas por mim no contexto de projetos coordenados nos anos 90, discorri em vários trabalhos e livros, entre eles n’O desafio metropolitano e no recente Fobópole (ver, também, B2, B4, B6, B7, B8, B9, C4, C5, C6, C7, C17 e C21). É fácil verificar que todos esses aspectos, além de outros tantos evidenciam a importância da consideração da espacialidade para se compreender os processos em curso e os desafios e dilemas deles derivados.
16 O artigo original é Together with the state, despite the state, against the state: Social movements as ‘critical urban planning’ agents". City, 10(3), pp. 327-342. (C18)
17 Sem embargo, trata-se mais de renovação (ampliada) de um antigo interesse que, propriamente, de um interesse completamente novo da minha parte. Com efeito, um texto de divulgação como o artigo “O lugar das pessoas nas agendas ‘verde’, ‘marrom’ e ‘azul’: Sobre a dimensão geopolítica da política ambiental urbana”, enviado para publicação no sítio Passa Palavra e que deve sair em breve, representa, no fundo, a retomada de um esforço que já havia sido exemplificado, entre outros trabalhos, pelo capítulo “Dos problemas sócio-espaciais à degradação ambiental e de volta aos primeiros”, de meu livro O desafio metropolitano (A2).
18 Estão incluídos somente os trabalhos que foram mencionados no texto. Não se trata de uma lista exaustiva de minhas publicações. Alguns livros e vários outros trabalhos deixaram de ser incluídos, mas constam do currículo completo que se segue a este memorial.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (2): OBRAS DO PRESENTE AUTOR MENCIONADAS AO LONGO DO MEMORIAL (18)
A. LIVROS (INCLUI A ORGANIZAÇÃO DE LIVROS E DE NÚMEROS ESPECIAIS DE PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS)
(A1) Armut, sozialräumliche segregation und sozialer Konflikt in der Metropolitanregion von Rio de Janeiro. Ein Beitrag zur Analyse der “Stadtfrage” in Brasilien (Pobreza, segregação sócio-espacial e conflito social na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Uma contribuição para a análise da “questão urbana” no Brasil). Tese de Doutorado publicada pelo Selbstverlag des Geographischen Instituts (Editora do Instituto de Geografia) da Universidade de Tübingen, Alemanha (= série Tübinger Geographische Studien, n.° 111), 1993.
(A2) O desafio metropolitano. A problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiras. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2000 (2.ª ed.: 2005; 3.ª ed.: 2010; 4.ª ed.: 2012).
(A3) Mudar a cidade. Uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, (2.ª ed.: 2003; 3.ª ed.: 2004; 4.ª ed.: 2006; 5.ª ed.: 2008; 6.ª ed.: 2010; 7.ª ed.: 2010; 8.ª ed.: 2011; 9.ª ed.: 2013).
(A4) ABC do desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2003 (2.ª ed.: 2005; 3.ª ed.: 2007; 4.ª ed.: 2008; 5.ª ed.: 2010; 6.ª ed.: 2011; 7.ª ed.: 2013).
(A5) Planejamento urbano e ativismos sociais (em coautoria com Glauco B. Rodrigues). São Paulo, Editora UNESP, 2004 (2.ª ed.: 2013).
(A6) A prisão e a ágora. Reflexões sobre a democratização do planejamento e da gestão das cidades. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2006.
(A7) Fobópole. O medo generalizado e a militarização da questão urbana. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2008.
(A8) A produção do espaço urbano. Agentes e processos, escalas e desafios (livro organizado juntamente com Ana Fani Alessandri Carlos e Maria Encarnação Beltrão Sposito). São Paulo: Contexto, 2011. [ segundo organizador; ordem alfabética]
(A9) Ativismos sociais e espaço urbano, número temático da revista Cidades (vol. 6, n. 9), 2009. [ organizador]
(A10) O pensamento e a práxis libertários e a cidade, número temático da revista Cidades (vol. 9, n. 15), 2012. [organizador]
(A11) Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.
B. CAPÍTULOS DE LIVROS
(B1) O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In: CASTRO, Iná E. et al. (orgs.): Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1995.
(B2) O tráfico de drogas e a “questão urbana” no Brasil. A dinâmica sócio-espacial nas cidades brasileiras sob a influência do tráfico de tóxicos. In: CASTRO, Iná E. et al. (orgs.): Brasil: questões atuais da reorganização do território. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1996.
(B3) Modernização tecnológica, “ordem” e “desordem” nas metrópoles brasileiras. Os desafios e suas escalas. In: CZERNY, M. & KOHLHEPP, G. (orgs.): Reestructuración económica y consecuencias regionales en América Latina. Tübingen, Selbstverlag des Geographischen Instituts (Editora do Instituto de Geografia) da Universidade de Tübingen: Alemanha (= série Tübinger Geographische Studien, n.° 117), 1996.
(B4) Exclusão social, fragmentação do tecido sociopolítico-espacial da cidade e “ingovernabilidade urbana”. Ensaio a propósito do desafio de um “desenvolvimento sustentável” nas cidades brasileiras. In: SILVA, José Borzacchiello et al. (orgs.): A cidade e o urbano Temas para debates. Fortaleza, Edições UFC, 1997.
(B5) A expulsão do paraíso. O “paradigma da complexidade” e o desenvolvimento sócio-espacial. In: CASTRO, Iná E. et al. (orgs.): Explorações geográficas. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1997.
(B6) A “ingovernabilidade” do Rio de Janeiro – algumas páginas sobre conceitos, fatos e preconceitos". In: CASTRO, Iná E. et al. (orgs.): Redescobrindo o Brasil: 500 anos depois. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1999.
(B7) Revisitando a crítica ao “mito da marginalidade”. A população favelada do Rio de Janeiro em face do tráfico de drogas. In: ACSELRAD, Gilberta (org.): Avessos do prazer. Drogas, AIDS e direitos humanos. Rio de Janeiro, Editora da Fundação Oswaldo Cruz, 2000.
(B8) “Involução metropolitana” e “desmetropolização”: sobre a urbanização brasileira nas décadas de 80 e 90. In: KOHLHEPP, Gerd (org.): Brasil: modernização e globalização. Madri e Frankfurt, Bibliotheca Iberoamericana e Vervuert, 2001.
(B9) Da “fragmentação do tecido sociopolítico-espacial” da metrópole à “desmetropolização relativa”: algumas facetas da urbanização brasileira nas décadas de 80 e 90. In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (org.): Urbanização e cidades: perspectivas geográficas. Presidente Prudente, GAsPERR/UNESP, 2001.
(B10) Território do Outro, problemática do Mesmo? O princípio da autonomia e a superação da dicotomia universalismo ético versus relativismo cultural. In: ROSENDAHL, Zeny e CORRÊA, Roberto Lobato (orgs.): Religião, identidade e território. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2001.
(B11) Alternative urban planning and management in Brazil: Instructive examples for other countries in the South?. In: HARRISON, Philip et al. (orgs.): Confronting Fragmentation. Housing and Urban Development in a Democratising Society. Cidade do Cabo, University of Cape Town Press, 2003.
(B12) Problemas da regularização fundiária em favelas territorializadas por traficantes de drogas. In: ALFONSIN, Betânia e FERNANDES, Edésio (orgs.): Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade. Belo Horizonte, Editora Fórum, 2004.
(B13) Sozialräumliche Dynamik in brasilianischen Städten unter dem Einfluss des Drogenhandels. Anmerkungen zum Fall Rio de Janeiro [Dinâmica sócio-espacial nas cidades brasileiras sob a influência do tráfico de drogas: Notas sobre o caso do Rio de Janeiro]. In: LANZ, Stephan (org.): City of COOP. Ersatzökonomien und städtische Bewegungen in Rio de Janeiro und Buenos Aires. Berlim, b-books Verlag, 2004.
(B14) Ativismos sociais e espaço urbano: um panorama conciso da produção intelectual brasileira. In: OLIVEIRA, Márcio Piñon de et al. (orgs.): O Brasil, a América Latina e o mundo: espacialidades contemporâneas (II). Rio de Janeiro, Lamparina, ANPEGE, CLACSO e FAPERJ, 2008.
(B15) “Território” da divergência (e da confusão): Em torno das imprecisas fronteiras de um conceito fundamental. In: SAQUET, Marcos Aurélio e SPOSITO, Eliseu Savério (orgs.): Territórios e territorialidades: Teorias, processos e conflitos. São Paulo e Presidente Prudente, Expressão Popular e Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNESP/Presidente Prudente, 2009.
(B16) Práticas espaciais insurgentes em um mundo globalizado: Da “revolução molecular” à política de escalas. In: MENDONÇA, Francisco et al. (orgs.): Espaço e tempo: Complexidade e desafios do pensar e do fazer geográfico. Curitiba, ADEMADAN, 2009.
(B17) A cidade, a palavra e o poder: Práticas, imaginários e discursos heterônomos e autônomos na produção do espaço urbano. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri et al. (orgs.): A produção do espaço urbano. Agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2011.
(B18) As cidades brasileiras e os movimentos sociais no início do século XXI: sete questões para provocar o debate. In: PEREIRA, Élson Manoel e DIAS, Leila Christina Duarte (orgs.): As cidades e a urbanização no Brasil. Passado, presente e futuro. Florianópolis: Insular, 2011.
(B19) Autogestión, ‘autoplaneación’, autonomia: Actualidad y dificultades de las prácticas espaciales libertarias de los movimientos urbanos. In: ARAGÓN, Georgina Calderón e HERNÁNDEZ, Efraín León (orgs.): Descubriendo La espacialidad social desde América Latina: Reflexiones desde La geografía sobre el campo, la ciudad y el medio ambiente (= Cómo pensar la geografía, n.° 3). Cidade do México: Itaca, 2011.
(B20) Soziale Bewegungen in Brasilien im urbanen und ländlichen Kontext: Potenziale, Grenzen und Paradoxe. In: de la FONTAINE, Dana e STEHNKEN, Thomas (orgs.): Das politische System Brasiliens. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften (VS Verlag), 2012.
(B21) Challenging Heteronomous Power in a Globalized World: Insurgent Spatial Practices, ‘Militant Particularism’, and Multiscalarity. In: KRÄTKE, Stefan et al. (orgs.): Transnationalism and Urbanism. Nova Iorque e Londres: Routledge, 2012.
(B22) A geopolítica urbana da ‘guerra à criminalidade’: A militarização da questão urbana e suas várias possíveis implicações. In: RIBEIRO, Ana Clara Torres et al. (orgs.): Política governamental e ação social no espaço. Rio de Janeiro: ANPUR e Letra Capital, 2012.
(B23) Semântica urbana e segregação: Disputa simbólica e embates políticos na cidade ‘empresarialista’. In: VASCONCELOS, Pedro de Almeida et al. (orgs.): A cidade contemporânea: Segregação espacial. São Paulo: Contexto, 2013.
(B24) Panem et circenses versus o direito ao Centro da cidade no Rio de Janeiro. In: FERNANDES, José Alberto V. Rio e SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (orgs.): A nova vida do velho centro nas cidades portuguesas e brasileiras. Porto: Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) da Universidade do Porto, 2013.
(B25) Phobopolis. Städtische Angst und die Militarisierung des Urbanen. In: HUFFSCHMID, Anne e WILDNER, Kathrin (orgs.): Stadtforschung aus Lateinamerika. Neue urbane Szenarien:Öffentlichkeit. Territorialität. Imaginarios. Bielefeld: transcript, 2013.
(B26) Phobopolis: Violence, Fear and Sociopolitical Fragmentation of the Space in Rio de Janeiro, Brazil. In: KRAAS, Frauke et al. (orgs.): Megacities. Our Global Urban Future. Dordrecht e outros lugares: Springer.
(B27) Ensemble avec l’État, malgré l’État, contre l’État. Les mouvements sociaux, agents d’un urbanisme critique. In: GINTRAC, Cécile e GIROUD, Matthieu (orgs.): Villes contestées. Pour une géographie critique de l’urbain. Paris : Les Prairies Ordinaires.
C. ARTIGOS EM PERIÓDICOS (INCLUI COMENTÁRIOS BIBLIOGRÁFICOS)
(C1) “Espaciologia”: uma objeção (Crítica aos prestigiamentos pseudocríticos do espaço social). Terra Livre, n.° 5, 1988. São Paulo e Rio de Janeiro, AGB/Marco Zero, pp. 21-45.
(C2) O bairro contemporâneo: ensaio de abordagem política. Revista Brasileira de Geografia, 51(2), 1989. Rio de Janeiro, pp. 139-172.
(C3) Reflexão sobre as limitações e potencialidades de uma reforma urbana no Brasil atual. Actas Latinoamericanas de Varsovia, tomo 15, 1993. Varsóvia, pp. 207-228.
(C4) O narcotráfico no Rio de Janeiro, sua territorialidade e a dialética entre “ordem” e “desordem”. Cadernos de Geociências, n.° 13, 1995. Rio de Janeiro, IBGE, pp. 161-171.
(C5) Die fragmentierte Metropole. Der Drogenhandel und seine Territorialität in Rio de Janeiro. Geographische Zeitschrift, vol. 83, números 3/4, 1995. Stuttgart, pp. 238-249.
(C6) Efectos negativos del tráfico de drogas en el desarrollo socio-espacial de Rio de Janeiro. Revista Interamericana de Planificación, volume XXVIII, n.° 112, 1995. Cuenca (Equador), SIAP, pp. 142-159.
(C7) O tráfico de drogas no Rio de Janeiro e seus efeitos negativos sobre o desenvolvimento sócio-espacial. Cadernos IPPUR/UFRJ, ano VIII, números 2/3, 1994 [publicado em 1996]. Rio de Janeiro, pp. 25-39.
(C8) A teorização sobre o desenvolvimento em uma época de fadiga teórica, ou: sobre a necessidade de uma ‘teoria aberta’ do desenvolvimento sócio-espacial. Território, ano 1, n. 1, jul./dez. 1996. Rio de Janeiro, pp. 5-22.
(C9) Urbanização e desenvolvimento. Rediscutindo o urbano e a urbanização como fatores e símbolos de desenvolvimento à luz da experiência brasileira recente. Revista Brasileira de Geografia, 56(1/4), jan./dez. 1994 (publicado em 1997). Rio de Janeiro, pp. 255-291.
(C10) Algumas notas sobre a importância do espaço para o desenvolvimento social. Território, ano II, n. 3, jul./dez. 1997. Rio de Janeiro, pp. 13-35.
(C11) Desenvolvimento urbano: a problemática renovação de um “conceito”-problema. Território, ano III, n. 5, jul./dez., 1998. Rio de Janeiro, pp. 5-29.
(C12) Urban development on the basis of autonomy: a politico-philosophical and ethical framework for urban planning and management. Ethics, Place and Environment, vol. 3, No. 2, 2000, pp. 187-201.
(C13) O planejamento e a gestão das cidades em uma perspectiva autonomista. Território, ano V, n. 8, jan./jun., 2000. Rio de Janeiro, pp. 67-99.
(C14) Os orçamentos participativos e sua espacialidade: uma agenda de pesquisa. Terra Livre, n. 15, 2000. São Paulo, pp. 39-58.
(C15) Para o que serve o orçamento participativo? Disparidade de expectativas e disputa ideológica em torno de uma proposta em ascensão. Cadernos IPPUR/UFRJ, ano XIV, n. 2, ago./dez. 2000 [publicado em 2001]. Rio de Janeiro, pp. 123-142.
(C16) Metropolitan deconcentration, socio-political fragmentation and extended suburbanisation: Brazilian urbanisation in the 1980s and 1990s. Geoforum, n. 32, 2001. Oxford, pp. 437-447.
(C17) Urban planning in an age of fear: The case of Rio de Janeiro. International Development Planning Review (IDPR), 27(1), 2005, pp. 1-18.
(C18) Together with the state, despite the state, against the state: Social movements as “critical urban planning” agents. City, 10(3), 2006, pp. 327-42.
(C19) Cidades, globalização e determinismo econômico. Cidades, vol. 3, n. 5, 2007, pp. 123-42.
(C20) Da “diferenciação de áreas” à “diferenciação socioespacial”: A “visão (apenas) de sobrevôo” como uma tradição epistemológica e metodológica limitante. Cidades, vol. 4, n. 6, 2007, pp. 101-14.
(C21) Social movements in the face of criminal power: The socio-political fragmentation of space and “micro-level warlords” as challenges for emancipative urban struggles". City, 13(1), 2009, pp. 26-52.
(C22) Cities for people, not for profit From a radical-libertarian and Latin American perspective. City, 13(4), 2009, pp. 483-492.
(C23) Com o Estado, apesar do Estado, contra o Estado: Os movimentos urbanos e suas práticas espaciais, entre a luta institucional e a ação direta. Cidades, vol. 7, n. 11 [= número temático Formas espaciais e política(s) urbana(s)], pp. 13-47.
(C24) Welches Recht auf welche Stadt? Ein Plädoyer für politisch-strategische Klarheit [Que direito a qual cidade? Em defesa da clareza político-estratégica]. Phase2, 35, 2010, pp. 42-43.
(C25) Which right to which city? In defence of political-strategic clarity". Interface: a journal for and about social movements, 2(1), 2010, pp. 315-333. Disponibilizado na Internet (http://interface-articles.googlegroups.com/web/3Souza.pdf) em 27/05/2010.
(C26) The words and the things. Comentário bibliográfico sobre o livro Seeking Spatial Justice, de Edward Soja. City, 15(1). Abingdon, Oxfordshire (Reino Unido), pp. 73-77, 2011.
(C27) Hangi kentte hangi hak?: Politik-Stratejik netliğin müdafaasi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi [Revista Educação Ciência Sociedade], vol. 9, n.° 36, pp. 183-207, 2011. [Tradução parta o turco do artigo publicado em 2010 em Interface: a journal for and about social movements.]
(C28) Mauricio de Almeida Abreu: Mestre e pesquisador, inspirado e inspirador. Cidades, vol. 8, n. 14 [= número temático Mauricio de Almeida Abreu], pp. 675-677, 2011.
(C29) The ‘Arab Spring’ and the city: Hopes, contradictions and spatiality. City, 15(6), pp. 618-624., 2011.[escrito em coautoria com Barbara Lipietz; primeiro autor]
(C30) Where do we stand? New hopes, frustration and open wounds in Arab cities. City, 16(3), pp. 355-359, 2012. [escrito em coautoria com Barbara Lipietz; segundo autor]
(C31) Geografia: A hora e a vez do pensamento libertário. Boletim Gaúcho de Geografia, n. 38, pp. 15-33, 2012.
(C32) Militarização da questão urbana. Lutas Sociais, n. 29, pp. 117-129, 2012.
(C33) Introdução: A Geografia, o pensamento e a práxis libertários e a cidade. Encontros, desencontros e reencontros. Cidades, volume 9, número 15, pp. 9-58, 2012.
(C34) Autogestão, ‘autoplanejamento’, autonomia: Atualidade e dificuldades das práticas espaciais libertárias dos movimentos urbanos. Cidades, volume 9, número 15, pp. 59-93, 2012.
(C35) The city in libertarian thought: From Élisée Reclus to Murray Bookchin and beyond. City, 16(1-2), pp. 4-33, 2012.
(C36) Marxists, libertarians and the city: A necessary debate. City, 16(3), pp. 309-325, 2012.
(C37) ‘Phobopolis’: Gewalt, Angst und soziopolitische Fragmentierung des städtischen Raumes von Rio de Janeiro, Brasilien. Geographische Zeitschrift, Band 100, Heft, 1, pp. 34-50, 2012.
(C38) Panem et circensis versus the right to the city (centre) in Rio de Janeiro: A short report. City, 16(5), pp. 563-572, 2012.
(C40) Libertarians and Marxists in the 21st century: Thoughts on our contemporary specificities and their relevance to urban studies, as a tribute to Neil Smith. City, 16(6), pp. 692-698, 2012.
(C41) Ciudades brasileñas, junio de 2013: lo(s) sentido(s) de la revuelta. Contrapunto, 3, pp. 105-123, 2012.
(C42) Introduction: On structures and conjunctures, rules and exceptions. City, 17(6), pp. 810-811, 2012. [escrito em coautoria com Barbara Lipietz; primeiro autor]
D. TRABALHOS PUBLICADOS NA ÍNTEGRA EM ANAIS DE CONGRESSOS
(D1) “Miseropolização” e “clima de guerra civil”: sobre o agravamento e as condições de superação da “questão urbana” na metrópole do Rio de Janeiro. Anais do 3.° Simpósio Nacional de Geografia Urbana, Rio de Janeiro, 1993.
(D2) Revisitando o “mito da marginalidade”. A população favelada do Rio de Janeiro em face do tráfico de drogas". Anais do VII Encontro Nacional da ANPUR, vol. II. Recife, 1997.
(D3) De ilusão também se vive: caminhos e descaminhos da democratização do planejamento e da gestão urbanos no Brasil (1989-2004). Disponível em 18/05/2005 na página do XI Encontro Nacional da ANPUR (realizado em Salvador, 2005): www.xienanpur.ufba.br/112pdf.
(D4) As cidades brasileiras e os movimentos sociais no início do século XXI: sete questões para provocar o debate. Anais do X Simpósio Nacional de Geografia Urbana [CD-ROM] (Florianópolis, 2007) [mesa-redonda “O futuro das cidades e da urbanização no Brasil”]. Florianópolis.
E. ARTIGOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
(E1) “‘Megamiseropolização’ do eixo Rio-São Paulo”. Artigo publicado na revista PUC-Ciência, n.° 4, 1989. Rio de Janeiro, pp. 13-15.
(E2) “Revisão constitucional: Uma chance para a Reforma Urbana?”. Artigo publicado no jornal AGB em Debate, n.° 7, 1993, Curitiba.
(E3) “Some Introductory Remarks about a New City for a New Society”. Texto em formato HTM disponibilizado no sítio da revista virtual “Z Magazine”, seção “Life After Capitalism Essays” (http://zena.secureforum.com/znet/souzacity.htm), a partir de janeiro de 2003.
(E4) “As cidades, o seu Estatuto e a sua gestão democrática”. Texto em formato PDF disponibilizado no sítio do Núcleo de Pesquisas sobre Desenvolvimento Sócio-Espacial. NuPeD/UFRJ (http://www.geografia.ufrj.br/nuped/textos/acidadeoseuestatutogestao.pdf) em 18/07/2004.
(E5) “Os geógrafos e os movimentos sociais: Como cooperar? Dez teses para debate”. Texto em formato PDF disponibilizado no sítio do Núcleo de Pesquisas sobre Desenvolvimento Sócio-Espacial, NuPeD/UFRJ (http://www.geografia.ufrj.br/nuped/textos/geografosemovimentossociais.pdf) em 20/11/2005.
(E6) “El ‘lúmpen-proletariado armado’, el ‘capitalismo criminal-informal’ y los desafíos para los movimientos sociales”. Texto em formato htm disponibilizado no
sítio do Colectivo Libres del Sur, da Argentina (http://www.geocities.com/surlibre/2004/Debates.htm) em 31/03/2007.
(E7) “O que pode a economia popular urbana? Pensando a produção e a geração de renda nas ocupações de sem-teto do Rio de Janeiro”. Texto em formato PDF disponibilizado no sítio do Núcleo de Pesquisas sobre Desenvolvimento Sócio-Espacial- NuPeD/UFRJ (http://www.geografia.ufrj.br/nuped/textos/O%20que%20pode%20a%20economia%20popular%20urbana.pdf) em 26/05/2008.
(E8) “Rio de Janeiro 2016: ‘sonho’ ou ‘pesadelo’ olímpico?” (em co-autoria com Tatiana Tramontani Ramos e Marianna Fernandes Moreira [ primeiro autor]). Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=15000) em 16/11/2009.
(E9) “Universidades: burocratização, mercantilização e mediocridade (1.ª parte)”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=23461) em 16/05/2010.
(E10) “Universidades: burocratização, mercantilização e mediocridade (2.ª parte)”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=23469) em 23/05/2010.
(E11) “Dois fóruns urbanos, duas ilusões”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=27499) em 08/08/2010.
(E12) “Os apoiadores acadêmicos dos movimentos sociais: seu papel, seus desafios”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=29280) em 21/08/2010.
(E13) “A ‘reconquista do território´, ou: Um novo capítulo na militarização da questão urbana”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=32598) em 03/12/2010.
(E14) “O direito ao centro da cidade”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=37960) em 03/04/2011.
(E15) “O navio: Uma metáfora sobre o nosso tempo”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=49321) em 29/11/2011.
(E16) “Ação direta e luta institucional: complementaridade ou antítese? (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=56901) em 27/04/2012.
(E17) “Ação direta e luta institucional: complementaridade ou antítese? (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=56903) em 04/05/2012.
(E18) “A Geografia e o pensamento libertário: Subsídios para um debate sobre tradições e novos rumos”. Revista eletrônica Território Autônomo, n.° 1, primavera de 2012, pp. 5-14 (http://www.rekro.net/revista-territorio-autonomo/, disponibilizado em 08/10/2012).
(E19) “O campo libertário, hoje: Radiografia e desafios (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=77856) em 24/05/2013.
(E20) “O campo libertário, hoje: Radiografia e desafios (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=78158) em 31/05/2013.
(E21) “Cidades brasileiras, junho de 2013: O(s) sentido(s) da revolta (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=80789) em 09/07/2013.
(E22) “Cidades brasileiras, junho de 2013: O(s) sentido(s) da revolta (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=80839) em 16/07/2013.
(E23) “Cidades brasileiras, junho de 2013: O(s) sentido(s) da revolta (3.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=80884) em 23/07/2013.
(E24) “Brazilian cities: From ‘spring’s’ promises to winter’s disappointing reality. Texto disponibilizado na página da revista inglesa City (http://www.city-analysis.net/2013/07/10/brazilian-cities-from-“spring’s”-promises-to-winter’s-disappointing-reality-2/) em 23/07/2013.
(E25) “Diferentes faces da ‘propaganda pela ação’: Notas sobre o protesto social e seus efeitos nas cidades brasileiras (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/03/93153) em 19/03/2014.
(E26) “Diferentes faces da ‘propaganda pela ação’: Notas sobre o protesto social e seus efeitos nas cidades brasileiras (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/03/93164) em 25/03/2014.
(E27) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/04/93927) em 10/04/2014.
(E28) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/04/94172) em 17/04/2014.
(E29) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (3.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/04/94412) em 24/04/2014.
(E30) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (4.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/04/94846) em 01/05/2014.
(E31) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (5.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/05/95099) em 08/05/2014.
(E32) “Do ‘direito à cidade’ ao direito ao planeta: Territórios dissidentes pelo mundo afora − e seu significado na atual conjuntura (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/05/97823) em 24/07/2014.
(E33) “Do ‘direito à cidade’ ao direito ao planeta: Territórios dissidentes pelo mundo afora − e seu significado na atual conjuntura (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/05/98046) em 31/07/2014.
F. PREFÁCIOS
(F1) “Um ‘olhar afrodescendente’ sobre as cidades brasileiras”. Prefácio para o livro Do quilombo à favela: A produção do “espaço criminalizado” no Rio de Janeiro, de Andrelino de Oliveira Campos (Rio de Janeiro, Bertrand Brasil).
(F2) “Mapeando (e refletindo sobre) a criminalidade violenta”. Prefácio para o livro Atlas da criminalidade no Espírito Santo, de Cláudio Luiz Zanotelli et al. (São Paulo, Annablume e FAPES), 2011.
(F3) “Às leitoras e aos leitores desassombrados: Sobre o livro Espaço, gênero e masculinidades plurais”. Prefácio para o livro Espaço, gênero e masculinidades plurais, organizado por Joseli Maria Silva, Márcio José Ornat e Alides Batista Chimin Junior (Ponta Grossa, Todapalavra), 2011.