-
 WAGNER COSTA RIBEIRO
WAGNER COSTA RIBEIRO WAGNER COSTA RIBEIRO
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Neste texto estão descritos momentos que vivi como geógrafo, professor e pesquisador ao longo de minha trajetória, ainda em construção. Esse exercício, de certo modo, não foi uma novidade, posto que a Universidade de São Paulo (USP), onde ingressei em 1989 como docente, exige a elaboração de memoriais para avançar na carreira. Portanto, a base do que segue foi retirada do Memorial apresentado para a obtenção do título de Livre Docente no Departamento de Geografia (DG) da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, de 2004, e do Memorial apresentado para o concurso de professor Titular, de 2010. O esforço maior decorreu da atualização de informações, bem como da seleção do que apresentar.
Inicio com minha formação, desde os primeiros bancos escolares, até os dois pós-doutorados que concluí. Ressalto que sempre frequentei a escola pública e que há mais de 30 anos sou professor de uma Universidade pública. Também ressalto que parte de minha qualificação como geógrafo e pesquisador decorreu de bolsas de agências de fomento, como a de Iniciação Científica, obtida junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), e a de mestrado, junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Como já era docente da USP, não tive financiamento para o doutorado, mas meus dois pós-doutorados foram apoiados pela FAPESP e pela CAPES. Além disso, desde a década de 2000 sou bolsista Produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Essas agências foram fundamentais, para mim, mas também para o desenvolvimento de muitos estudantes que trabalharam comigo.
Estar no DG na década de 1980 como aluno também foi outro momento central em minha formação. Tive a oportunidade de conviver com grandes mestres, que mostraram mais que uma Geografia crítica. Eles indicaram caminhos éticos e de luta política, reforçados após meu ingresso como docente. Recordo dessas trocas em diversas funções, como a que desenvolvi no DG, na coordenação do Doutorado Interinstitucional entre a USP e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), associado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) e à Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Com participação de 21 docentes do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana do DG, teve como objetivo ampliar a formação de doutores na Amazônia. Financiado pela CAPES, até a conclusão deste texto ainda estava em andamento.
Atuar na FFLCH sempre foi estimulante porque presenciei discussões intensas, seja na Congregação, seja em seminários e bancas examinadoras, fundamentadas na melhor tradição do pensamento crítico. Espero que também possa ter contribuído para essas contendas.
Minha atuação no DG foi extrapolada para outras unidades da USP. Ela começou a convite do professor Shozo Motoyama, professor Titular do Departamento de História da FFLCH, para um projeto no Centro Interunidade de História da Ciência, que ele coordenava. Mais tarde, tive oportunidade de aprofundar o debate interdisciplinar tanto no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM), que dirigi entre 2006 e 2008, quanto no Instituto de Estudos Avançados (IEA), quando participei, e depois coordenei, entre 2008 e 2012, o grupo de pesquisa de Ciências Ambientais.
Outro desafio na construção deste documento era apontar elementos diferentes dos expostos em entrevista concedida a dois pesquisadores mexicanos (HATCH KURI; TALLEDOS SANCHEZ, 2020). Por isso, decidi contar uma história sobre minha vida. Essa escolha certamente tem relação com o momento em que este texto foi gerado, em plena pandemia causada pelo SARS-CoV-2, que gerou muitas perdas de vidas, em especial no Brasil, onde faltou determinação e coordenação no combate à COVID-19, como foi explicitado por vários colaboradores no livro que organizei (RIBEIRO, 2020).
Além desta introdução, o texto tem mais sete partes. Na primeira, combino minha escolarização aos lugares onde vivi em São Paulo, do ensino fundamental à pós-graduação. Comento ainda os dois pós-doutorados realizados em Barcelona. Em seguida, abordo os trabalhos mais destacados, sem basear-me em levantamentos bibliométricos, mas usando minha intuição, construída a partir de conversas com muitos interlocutores ao longo de mais de três décadas de trajetória profissional como pesquisador e docente de ensino superior. A cooperação internacional é o próximo item, posto que gerou oportunidades para aprimorar temas de pesquisa e metodologias de análise, mas também muitos diálogos. Depois, comento participações em eventos não acadêmicos que influenciaram minha produção acadêmica. Após, apresento distinções que obtive, a maior parte por meio do reconhecimento de minhas alunas. Encerro com um balanço, antes de listar as referências.
I. A FORMAÇÃO
Mergulhar em minha existência anterior ao ingresso no curso de Geografia do DG tem como objetivo dar pistas de quem sou e de onde vim. De imediato aviso ao leitor: sou paulistano e migrei por alguns bairros da maior megacidade do Brasil.
Meus pais, nascidos em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba paulista, casaram-se em 1961. Eu nasci em novembro de 1962 no Hospital do Servidor Público, localizado na Zona Sul do município de São Paulo, graças à condição de técnico agropecuário na Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de São Paulo de meu pai. Minha mãe desempenhava, com muito afinco, as funções de dona de casa, como era frequente entre as mulheres de sua geração.
Depois do Servidor minha parada foi a rua Traipú, em Perdizes (Zona Oeste), onde vivi até os nove anos de idade. Na esquina de casa ficava o Cine Esmeralda. Era uma tranquilidade assistir aos filmes, comer pipoca e retornar para casa a pé. Pena que o cinema acabou. Virou uma loja de sapatos, depois de tecidos, e minha diversão foi-se. A casa onde morava foi demolida, e um edifício foi construído em seu terreno.
Tudo era feito a pé, incluindo supermercado. Minhas primeiras responsabilidades foram delegadas na época e consistiam em ir à padaria ou à quitanda comprar algo que havia faltado para o almoço.
Com frequência, eu, minha irmã Katya (hoje psicóloga clínica) e meus pais caminhávamos até a Praça Marechal Deodoro para tomar sorvete de massa. O Parque da Água Branca também era sempre visitado.
Vi muitas vezes a avenida Pacaembu alagada devido às chuvas fortes. Eu e meus amigos ficávamos na rua Cândido Espinheira espiando o imenso rio que se formava criando um obstáculo que poucos enfrentavam, fosse motorizado ou a pé. Essa situação só deixou de ocorrer no final dos anos 1990, com a construção de reservatórios para água pluvial.
Joguei muita bola contra os meninos que moravam nas ruas Capitão Messias e Cândido Espinheira. O “campo” variava entre as ruas Traipú e a Capitão, mas a maior parte das disputas ocorria na rua em que morava. Claro que minha preferência já era pelo São Paulo Futebol Clube. Vestia, com orgulho, a camisa 10 de Gerson, depois usada por Pedro Rocha... Quantas vezes fui ao estádio do Morumbi acompanhar aquele time? Não me lembro, mas foram muitas, incluindo outras tantas ao estádio do Pacaembu, onde me sentava ao lado de torcedor do outro time sem problema algum, apesar de estar usando a camisa do São Paulo, sempre em companhia de meu pai.
Deixei de jogar contra a turma da Capitão e da Cândido graças a um prefeito que não tinha sido eleito, conforme descobri alguns anos depois. Ele inventou uma nova diversão para a garotada, talvez para compensar o fim da nossa “cancha”: uma autopista para andar de bicicleta com os amigos, o que exigia um pacto de silêncio dos envolvidos. Ai se alguma mãe soubesse…
Durante as obras ficou impossível jogar bola na Traipú! Eram muitos caminhões transitando, o que indicava uma mudança nessa parte da outrora pacata rua.
Em paralelo a isso, durante meses (ou teria sido um ano letivo?), a bela Praça do Largo Padre Péricles, que abrigava o povo depois da missa, na qual senti pela primeira vez o gosto de vinho que acompanhava a hóstia, transformou-se em um buraco. Era muito interessante observar aquela terra vermelha e dava mesmo era vontade de descer até o fundo.
Uma dessas manhãs, antes de sair para o colégio, vi no jornal de meu pai uma foto da autopista, chamada de Elevado Costa e Silva, apelidada de Minhocão, que teve seu nome alterado em 2016 para Elevado Presidente João Goulart. Tratava-se de uma das maiores intervenções urbanas registradas no município: um viaduto de cerca de 3 km de extensão que liga a Zona Oeste à Zona Central, até desaguar o trânsito na Avenida Radial Leste, que leva à Zona Leste. Ele foi inaugurado em 25 de janeiro de 1971, ano que marcou o fim dos passeios proibidos de bicicleta e, também, das partidas de futebol na Traipú, que passou a receber muito tráfego em sua última quadra.
1. O ENSINO FUNDAMENTAL
Minha vida não era só correr atrás de bola e andar de bicicleta. Estudava no então Grupo Escolar Pedro II, que ainda está lá, na rua Marta, esquina com Tagipuru.
Aquela era uma excelente escola! Tinha merenda e até um oftalmologista, que passava por lá de vez em quando e me afastou um pouco da bola depois que constatou uma miopia. Ganhei óculos antes de completar sete anos, o que não me impediu de jogar futebol na rua Traipú. No começo, estranhei um pouco, mas depois continuei firme, embora sem sonhar tanto em virar boleiro.
A escola era muito interessante. Dona Nanci ensinou-me a escrever em 1969. Dona Juraci a fazer contas, na segunda série, e na quarta série eu tinha três ou quatro professoras, que se dividiam para dar aulas de português, matemática e estudos sociais, pelo que me lembro. Era, apurei muitos anos mais tarde, um projeto experimental para preparar os alunos para enfrentar a maior quantidade de disciplinas e de professores na quinta série.
Pouco mais de um ano depois da inauguração do Minhocão, mudamos para o bairro do Limão, na Zona Norte de São Paulo. No caminho para a casa que meu pai comprou vi muitos campos de futebol, o que me indicava que a camisa do São Paulo ia ser novamente usada.
Criei novas amizades e mantive as partidas de futebol. Mas havia outras novidades: empinar pipas, rodar pião, jogar bolinha de gude, guerra de mamonas, jogar taco, enfim, havia grandes áreas sem uso, os chamados vazios urbanos, muitas usadas como campos de futebol, outras para improvisar o que seriam pistas de bicicross, em linguagem atual. Uma maravilha, não fosse pelo tom avermelhado da terra e as broncas de minha mãe por causa da roupa suja.
Ia a pé para a Escola Estadual Luiz Gonzaga Righini, na Avenida Deputado Emílio Carlos, onde estudei da quinta à oitava série. Lá surgiram novas experiências: as primeiras namoradas, a primeira peça de teatro, os primeiros livros: Julio Verne, Machado de Assis, contos de Drummond, Monteiro Lobato, entre outros.
Naquela escola também tive professores dedicados. Lembro-me do professor Herrera, de Matemática, com seus compassos para giz, mais tarde substituído por Dona Leila, muito mais nova que o anterior. A professora Conceição, de Biologia, incentivou-me muito a prestar o vestibulinho para a então Escola Técnica Federal de São Paulo. A professora Leonor ensinava Redação, Gramática e Literatura. O seu Marinho, de Geografia, era temido por ser severo e tinha outra peculiaridade: havia escrito o livro usado em suas aulas. Tinha também a Silvia, que lecionava Estudos Sociais, que nos obrigava a ler jornal toda semana e comentar por escrito uma notícia.
No Righini fui, finalmente, campeão de futebol de salão do colégio na oitava série. Seleção do colégio? Nunca fui chamado, o que encerrou o sonho de ser jogador de futebol.
Nesses quatro anos eu e o bairro nos transformamos. Passei a andar menos de bicicleta, até porque os terrenos livres foram transformados, dando lugar a prédios. Minha irmã mais nova, Ana Rosa, hoje psicóloga clínica e mãe de duas meninas – Isadora e Rafaela –, não teve a mesma sorte que eu. Andar de bicicleta para ela só na rua de casa, a José Machado Ribeiro.
Aos poucos, comecei a descobrir a “cidade”, em especial o centro antigo. No início, para assistir a filmes em cinemas, como o Independência, no largo do Paissandu, o Marrocos, na rua Conselheiro Crispiniano, e o Comodoro, na avenida São João.
Mais tarde, no segundo semestre de 1976, ingressei em um curso preparatório para o vestibulinho, e a rotina de andar de ônibus instalou-se. Diariamente ia ao largo do Arouche (Zona Central) para assistir às aulas depois do colégio e retornava em ônibus lotado no início da noite.
2. DO ENSINO MÉDIO À UNIVERSIDADE
Ingressei na Escola Técnica Federal de São Paulo em 1977, atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia São Paulo (IFT-SP), que fica na Rua Pedro Vicente, no Canindé, bairro de ligação entre o Centro e a Zona Leste de São Paulo. Exercendo a adolescência, descobri o metrô e a metrópole. Na “Federal”, como ainda hoje é chamada, tinha amigos de todos os cantos da pauliceia – nome que já podia emprestar de Mário de Andrade depois de ler alguns de seus livros –, mas também de municípios da Região Metropolitana de São Paulo, como Caieiras e Franco da Rocha. A metrópole apresentava-se diante de meus olhos por meio de novas amizades escolares.
A convivência na Federal era intensa. As aulas começavam à tarde, mas pela manhã tínhamos Educação Física. Além disso, como todo mundo morava longe de lá, as reuniões de trabalho aconteciam na biblioteca da escola. Resultado: saía de casa pela manhã e retornava no início da noite, em companhia dos amigos no metrô e depois enfrentando ônibus lotado.
Uma das experiências mais inusitadas na Federal foi praticar rúgbi no primeiro ano. Apesar dos óculos, era veloz e acabei jogando como ponta-esquerda no time do colégio. Não era o titular, mas ingressei durante alguns jogos e iniciei outros menos importantes, sem saber por que até hoje.
O grande momento era o treino. Era muito interessante pertencer àquele grupo, que se distinguia dos demais times da escola pela organização autônoma. Não havia um professor de Educação Física que acompanhasse os treinamentos, como ocorria com as equipes de basquete ou de voleibol da temida Federal. O técnico era um estudante de Medicina, de quem lembro apenas o primeiro nome: Paulo, o Paulinho, como o chamávamos.
O rúgbi, que teve destaque na organização do esporte moderno na Inglaterra no século XIX, também serviu para que eu aprendesse a reivindicar. Como a atividade não estava regulamentada, foi acordado com os professores de Educação Física que o treino de rúgbi não seria considerado atividade física regular, ou seja, as aulas de Educação Física tinham que ser frequentadas pelos praticantes de rúgbi. Os treinamentos, que ocorriam no campo de futebol, só poderiam ser realizados em horários livres, depois que as demais modalidades o usassem. Por isso eles eram realizados próximo ao almoço. Também foi negado apoio material, o que levou à necessidade de organizar rifas para a compra de bolas e uniforme para os jogos.
Solidariedade e espírito de grupo foram agregados à minha formação pelo rúgbi. Como dizia o Paulinho, nesse esporte você não consegue avançar sozinho. É raro conseguir dar mais que três passos sem contato com algum oponente. O primeiro te desequilibra, o segundo te empurra e o terceiro, certamente, te derruba. Por isso era tão importante passar a bola e avançar sempre com o apoio dos companheiros para não ser “esmagado” pelos adversários.
Os jogos contra os principais times da época exerciam fascínio em todos. Os maiores rivais eram o Liceu Pasteur, o Colégio Objetivo, o Colégio Rio Branco e o Colégio Santo Américo, todos de elite. A Federal era a única escola pública, o que dava um caráter de “luta de classes” aos jogos. Ao final, havia o cumprimento, uma prática que permanece até hoje entre os praticantes dessa modalidade esportiva, incluindo mulheres. Mas a rivalidade só crescia a cada jogo.
Os anos na Federal propiciaram uma série de indagações. O país era governado por uma ditadura militar desde 1964, e a organização estudantil estava proibida. Como não havia Grêmio, começou um movimento no colégio para que ele fosse criado. Depois de muita negociação, sem assembleia, proibida na época, o Grêmio foi instalado em uma sala com mesas de pingue-pongue e de bilhar. O professor que se responsabilizou pelos estudantes diante da direção era Nelson Massataki, professor de Geografia que trabalhou no Departamento de Geografia da USP antes da Federal.
Estudei muito nos anos em que permaneci no ensino médio. Na Federal o ritmo era um mês e meio de aulas e quinze dias de “martírio” (isso do ponto de vista de um estudante, obviamente), período em que eram cobrados relatórios, provas e seminários.
As disciplinas de Humanas, Geografia, História e Teatro foram ministradas no primeiro ano e eram vistas com muito preconceito entre os alunos. Só no terceiro ano fui ter Sociologia, com o professor Lima, algo como estudos dos problemas brasileiros, literatura e redação. A professora Candelária, responsável por Literatura Brasileira, apesar das dificuldades, sensibilizava os alunos, o mesmo ocorrendo com o professor de Redação, de quem infelizmente não recordo o nome.
Alguns amigos da Federal começaram a se politizar, e me envolvi nesse processo. Comparecíamos a eventos ligados à luta pela anistia aos presos políticos e aos exilados do país, em especial shows e concentrações populares.
Durante o quarto ano, que servia como profissionalização para formar um Técnico em Mecânica, título que obtive, frequentei também o curso preparatório para vestibular do Equipe, com apoio de uma bolsa que reduziu muito a mensalidade, que ficava na rua Martiniano de Carvalho, na Bela Vista, área central do município de São Paulo. Lá, outras tantas mudanças ocorreram em minha vida.
Existiam grupos que faziam panfletagens em porta de fábrica na região de Santo Amaro, na época com grande concentração de fábricas na Zona Sul de São Paulo. Engajei-me e participei de algumas dessas iniciativas. Eu ficava com a impressão de que os metalúrgicos não prestavam muita atenção aos nossos papéis. De todo modo, foi uma experiência importante, porque me mostrou um lado da megalópole paulista que eu não conhecia até então: lugares do trabalho operário.
A maior reivindicação na época de cursinho era o direito à carteira de estudante e às suas vantagens, como a de comprar passe escolar, pagar meia-entrada em eventos culturais, entre outras. Isso era muito distante do mundo dos operários!
Em um dia de 1980, alguém apareceu no Equipe e falou algo como: “To indo pra Vila Euclides. Vai ter uma concentração por lá e é preciso muita gente junta porque os milicos vão querer descer o pau”. Naquela hora surgiu um espírito que combinou aventura com curiosidade. Lá fui eu para São Bernardo do Campo. Foi impressionante ver o estádio lotado e militares no entorno enquanto Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, discursava. O “pau não comeu” e retornei para casa sem problemas.
No cursinho, as aulas de Humanas começaram a me atrair. Tive aula com Sergio Rosa de Geografia, com Laura Toti e José Genoíno – depois Deputado Federal e Presidente do Partido dos Trabalhadores – de História, com Gilson de Redação, cujos ensinamentos procuro empregar até hoje, e com o Luís, um professor de Literatura que mostrou um outro olhar sobre romances e contos.
No intervalo, pela manhã, ocorriam dois eventos todos os dias: a passagem de uma viatura da polícia e uma atividade cultural. Podia ser uma intervenção artística, uma canja com cantores locais, entre eles Mario Manga do Premeditando o Breque, o grupo Língua de Trapo ou os Titãs (ainda com outro nome), de que me recordo bem.
Nos finais de semana voltava ao Equipe, mas não para estudar. Ia assistir aos shows organizados por Sérgio Groisman, agitador cultural do colégio que depois se tornou um importante comunicador para a juventude. No auditório e no pátio do Equipe assisti a apresentações de Itamar Assunção, Arrigo Barnabé e sua banda, Premeditando o Breque, Raul Seixas, A Cor do Som e Gilberto Gil, entre outros.
Vivi intensamente aquele ambiente ao longo do ano. Todo esse conjunto refletiu em minha opção para o vestibular. Não desejava mais cursar Engenharia e inscrevi-me para cursar Geologia. Não passei na primeira fase da Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST), que organiza o vestibular para a USP, e também não fui aprovado na Universidade Estadual Paulista (UNESP).
O ano seguinte foi diferente. Não tinha mais paciência para cursinho. Resolvi estudar sozinho e trabalhar.
O primeiro emprego bateu à porta de minha casa. Uma equipe de venda de assinaturas do Círculo do Livro (um “clube” de leitores que oferecia livros por meio de um catálogo mensal) visitou minha rua. O rapaz insistiu muito para que eu aderisse ao plano, chamando até seu chefe de equipe para tentar me convencer. Para eles era absurdo alguém ler tanto como eu e não ingressar como cliente da empresa. Eu dizia que queria ter liberdade de escolha. Ao final da polêmica não me filiei e ainda recebi um convite do chefe: “Olha, vai ter uma seleção para novas equipes. Por que você não aproveita e passa por lá?”
Não hesitei. Trabalhar com livros era algo que me atraía, ao mesmo tempo que ia voltar para a rua. Fui aprovado na seleção e acabei me destacando como o segundo ou terceiro em vendas de assinatura no Estado de São Paulo por vários meses seguidos. Acredito que isso ocorreu porque gostava de ler e conhecia parte do catálogo, que aliás era cheio de best-sellers, a seção que eu conhecia menos... mas tinha lá peças teatrais, clássicos da política, literatura brasileira, entre outros temas.
Novamente aprendi a importância do grupo. Os resultados e o salário eram quantificados individualmente, mas havia também um objetivo para a equipe que deveria ser atingido. Fui convidado a chefiar equipes, mas não aceitei. Minha intuição me dizia que não devia ampliar meu compromisso com aquela empresa de capital estrangeiro.
Outro aspecto muito interessante era que as equipes, compostas por sete promotores (expressão deles) mais um chefe, percorriam ruas de determinadas regiões do município de São Paulo, criadas pelo diretor da área comercial. As equipes que integrei sempre atuaram na Zona Sul, num amplo espectro que partia da Vila Mariana até os limites com a Via Anchieta! Com isso percorri muitas ruas e avenidas observando as diferenças socioespaciais de São Paulo.
Em meio a isso veio o vestibular de 1982. Como gostava de escrever, prestei para Jornalismo. Estava feita a transição para as Ciências Humanas. Em meu segundo vestibular da FUVEST, passei para a segunda fase e aí parei. Avancei em relação ao ano anterior, o que me motivou a tentar mais um ano.
No vestibular de 1983 inscrevi-me para Geografia e fui aprovado!
3. A GRADUAÇÃO
De imediato, uma surpresa. Ao chegar ao DG como aluno, percebi que poucos colegas sabiam que existia a profissão de geógrafo. Talvez por isso, passei a militar desde as primeiras aulas pela categoria, seja no Centro Acadêmico Capistrano de Abreu (CEGE), seja na Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) e, mais tarde, como Conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP), onde atuei por nove anos, o equivalente a três mandatos.
As aulas iniciais assustavam porque eram carregadas de discussão teórica, algo muito distante mesmo das melhores escolas. Apesar das dificuldades, em especial pela conjuntura na qual se afirmava uma suposta crise da Geografia, concluí o primeiro semestre, mas meio desiludido.
Isso foi se alterando aos poucos. O convívio com geógrafos e estudantes de Geografia foi intenso no período de 1983 a 1986. As aulas na USP eram excelentes e ministradas por mestres como Ana Fani Alessandri Carlos, Antonio Carlos Robert Moraes, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Armando Correa da Silva, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, Gil Sodero de Toledo, Iraci Gomes de Vasconcelos Palheta, José Pereira de Queiróz Neto, Jurandyr Sanches Ross, Manoel Seabra, Maria Elena Simielli, Sandra Lencioni, Wanderley Messias da Costa, entre outros.
No final de 1983, junto com vários colegas, como Regina Gagliardi, Eduardo Sasaki, Nelson Fujimoto, Marina e Irene Uehara, realizamos a GERARTE, um dia inteiro repleto de atividades culturais. Esse evento, em um domingo de novembro (seria o último?), levou ao prédio de Geografia e História grupos de música, de teatro, oficinas e mostra de filmes, atraindo os usuários do campus, que naquela época ainda era aberto à comunidade paulistana aos domingos.
Participei de dois Encontros Nacionais de Estudantes de Geografia. O primeiro serviu como estímulo a continuar o curso. Realizado em São Luís do Maranhão, em 1983, permitiu-me conhecer colegas de vários pontos do Brasil que também estavam empenhados em discutir e tratar dos problemas da Geografia, como Deise Alves e Francisco Mendonça. A primeira tornou-se ativista do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e o segundo, professor da Universidade Federal do Paraná.
Meu envolvimento foi ainda mais intenso no Encontro de 1985. Integrei a comissão que discutiu o temário do evento. Em minhas lembranças ficaram festas e viagens inesquecíveis para Vitória, no Espírito Santo. E muita atividade política, que na época envolvia a luta pela volta das eleições diretas em todos os níveis e a reforma agrária, entre outros assuntos.
Destaco ainda as idas de trem a Rio Claro (SP) para tratar do movimento estudantil paulista e da União Paulista dos Estudantes de Geografia (UPEGE).
No âmbito da USP, minha participação no CEGE ocorreu de forma mais intensa em 1985, embora fosse pontual nos dois anos iniciais da Faculdade, com a vitória de uma proposta anarquista. A chapa “Nunca fomos tão felizes” ganhou de um grupo liderado por membros do Partido Comunista. Nossa maior luta foi pela reforma curricular, resultando em plenárias cheias de gente envolvida na discussão da formação do geógrafo. Além disso, houve engajamento junto às lutas do Diretório Central dos Estudantes da USP, culminando com a invasão da reitoria pela exigência de eleições diretas para reitor e para presidente.
O convívio com colegas da graduação da USP, como Bernardo Mançano Fernandes (atualmente na UNESP), Eduardo Sazaki, Luis Paulo Ferraz, Sérgio Magaldi (professor na UNESP), Regina Gagliardi, Irene Uehara, Fernanda Padovesi (atualmente colega na USP) e Regina Araújo, foi profícuo e, se não selou com todos uma amizade que perdura até hoje, foi exatamente pela Geografia da vida, que nos levou a lugares distantes.
Também foi nessa época que conheci Lourdes Carril (atualmente professora na Universidade Federal de São Carlos - UFSCar), com quem vivi por alguns anos depois de formado. Dessa relação nasceu nossa filha, Ana Clara.
As principais discussões na época da graduação eram sobre o currículo do curso de Geografia, o ensino de Geografia e a afirmação de uma Geografia marxista, de múltiplas matrizes. Também havia uma exagerada crítica à Geografia Física, classificada por alguns como atividade de gente reacionária.
A luta por eleições diretas acompanhou minha graduação. A campanha pelas Diretas Já ocupou grande parte do primeiro semestre de 1984 até a votação em abril. Participei de quase todos os comícios na Praça da Sé e no Vale do Anhangabaú (Zona Central de São Paulo), sempre junto à famosa bandeira vermelha com a inscrição “Geografia – USP” em branco, que tive a honra de carregar algumas vezes. Fiquei afastado dessa bandeira até a campanha Fora Collor, em 1992, quando ela voltou às ruas e era referência para agrupar-me aos alunos e colegas nas manifestações.
A movimentação social gerada pelas Diretas Já foi uma grande festa cívica que teve um final infeliz. Lembro-me bem do dia da votação, em pleno Vale do Anhangabaú, lotado, ainda com o “buraco do Adhemar”, acompanhando o voto de cada deputado. Foi doloroso assistir à derrota da proposta do deputado Dante de Oliveira.
Mas os tempos estavam mudando. Em 1985 tivemos eleição para prefeito e, no ano seguinte, para governador do estado. Esses fatos geravam muitas discussões acaloradas entre diferentes grupos no âmbito da esquerda, embora houvesse uma hegemonia petista entre os estudantes de Geografia da USP. Também fazíamos uma espécie de loteria para acertar a ordem da votação dos candidatos. Como todo mundo apostava em candidatos de esquerda, nos primeiros lugares não havia ganhadores... Melhor para o CEGE, que conseguia “fazer caixa”, principal objetivo da loteria.
Outros momentos de descontração ocorreram, como as inúmeras festas e o famoso “jogo das saias”, no qual homens vestiam roupas femininas para jogar futebol no Centro de Práticas Esportivas da USP (CEPEUSP). O ingresso ao campo era triunfal em um sábado por ano. Mas o jogo acabava ficando sério, apesar das dificuldades em correr com saias e vestidos.
Durante os anos de graduação também atuei na AGB, ocupando cargos em diretoria e organizando eventos. Destaco a convivência com mestres do Departamento de Geografia como Manoel Seabra, Iraci Palheta e Ariovaldo de Oliveira, que passaram horas falando de Geografia enquanto desenvolvíamos atividades rotineiras como embalar cartas ou publicações. Foi um verdadeiro curso paralelo, que me permitiu ampliar enormemente o entendimento da Geografia que se produzia no DG e no mundo.
Tive a oportunidade de ser estagiário na Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo (EMPLASA). Para mim, era a busca da condição de tornar-me um profissional em Geografia. Atuei na área de Cartografia, participando de projetos como atualização permanente das cartas 1:10.000, de manutenção das referências de nível e de fiscalização da área de mananciais (embora esse projeto constasse de outra divisão). Outro aspecto relevante foram as visitas de campo pela Região Metropolitana de São Paulo acompanhado por técnicos de diferentes formações, ampliando meu conhecimento sobre essa realidade. E, claro, o time de futebol de salão do setor de Cartografia, que contava com o professor do DG Flavio Sammarco Rosa no gol, na época Superintendente de Cartografia da EMPLASA, que disputava o campeonato interno.
Também estagiei no Laboratório de Geografia Humana do então Instituto de Geografia da USP, coordenado pela professora Ana Maria Marangoni. Lá participei do programa de pesquisa “Municipalização do Estado de São Paulo”, coordenado por ela, desenvolvendo um trabalho de iniciação científica, com bolsa da FAPESP, com o título “O processo de municipalização da Região Administrativa do Vale do Paraíba”, sob orientação da professora Claudette Junqueira. Estudei o processo de desmembramento municipal no Vale do Paraíba, produzindo uma base cartográfica digital, além de associar as transformações territoriais com a ocupação da região administrativa.
Ao final da graduação, em 1986, obtive o título de Bacharel em Geografia, o que me habilitou a ingressar no mercado de trabalho e na pós-graduação. Minha escolha pela segunda opção veio, em parte, pelo parecer final da bolsa de iniciação da FAPESP, no qual havia uma recomendação para que eu continuasse a pesquisa no mestrado.
Também concluí, em 1988, a Licenciatura em Geografia, sem maiores destaques a não ser a divulgação dos resultados de estágio no primeiro Fala Professor, encontro organizado pela AGB para tratar especificamente do ensino de Geografia. Esse trabalho foi realizado em conjunto com Bernardo Mançano Fernandes e orientado pela geógrafa Delacir Ramos Poloni, que mais tarde obteve o título de Doutora em Geografia, sob orientação de Armando Correa da Silva, e que atuou como professora no IFT-SP, com grande envolvimento também no sindicato de trabalhadores dessa instituição. Alguns anos mais tarde ela convidou-me a escrever uma coleção didática.
4. A PÓS-GRADUAÇÃO
O ingresso na pós-graduação ocorreu logo ao término do curso de Bacharelado em Geografia, em 1987. Comecei preocupado em entender os chamados movimentos sociais urbanos e submeti um projeto ao professor José Willian Vesentini para verificar a existência deles em São José dos Campos (São Paulo), aproveitando parte da pesquisa de iniciação científica.
O desenrolar dos trabalhos indicou-me outros caminhos. Ao estudar mais São José, surgiu um novo objeto: as indústrias de armamentos sediadas no município. Elas estavam em pleno vigor, exportando para o Iraque em guerra com o Irã. Isso dava ao país a condição de principal vendedor de armas, à exceção dos países ricos, o que justificava a pesquisa.
Queria fazer uma Geografia das indústrias de armamentos no Brasil, indicando os principais fluxos de matéria-prima e de clientes. Isso mostrou-se impossível ao longo dos anos. As informações não eram disponibilizadas, o que me levou a alterar o projeto para a compreensão da política científica e tecnológica empreendida pelos governos militares que possibilitaram o surgimento do que denominei de “polo industrial armamentista no Brasil” (RIBEIRO, 1994).
Entre as disciplinas cursadas para obtenção de créditos, ressalto a do próprio professor Vesentini, que tratava da Geografia Política, e a do professor Armando Correia da Silva, com o título Epistemologia da Geografia Humana. Nesta disciplina pude apreciar uma belíssima reflexão do professor Armando sobre as teorias da pós-modernidade e sua repercussão na Geografia, além de contar com colegas que estimulavam o debate, como Carlos Augusto Amorim Cardoso, hoje professor na Universidade Federal da Paraíba, e Marcos Bernardino, atualmente na USP.
Ressalto o ano de 1988, quando participei de um estágio na Université de Pau et dês Pays de L’Adour, em Pau, no sul da França. Nessa ocasião, acompanhei seminários de pesquisa, aulas no curso de graduação e trabalhos de campo de professores como François Dascon e Gui di Meo, todos indicados pelo professor Milton Santos. O maior objetivo era desenvolver a língua francesa, dado que o estágio foi de pouco mais de um mês, mas a viagem permitiu tomar contato com a realidade do ensino superior de Geografia na França e uma incursão rápida a Barcelona e Madri.
Também acompanhei por um semestre os seminários da professora Marilena Chauí sobre Spinoza, no Departamento de Filosofia. Esse encontro deu-se no segundo semestre de 1990, quando eu já era professor do DG, onde ingressei em dezembro de 1989. Apesar do restrito grupo, a professora Marilena não hesitava em demonstrar conhecimento e paixão por um dos maiores filósofos da história. Para mim, essa convivência possibilitou estudar um pouco mais de Filosofia Moderna, uma paixão que não pude cultivar muito, mas que, como toda paixão, tem repentes explosivos que me embriagam de prazer pela leitura e discussão de autores e suas ideias. Ressalto a gentileza da professora em aceitar-me em seu grupo de pesquisa, além de sua delicadeza em introduzir de maneira didática para mim passagens da obra do filósofo.
Para o doutorado, cujo ingresso ocorreu em 1994, mantive a orientação do professor Vesentini, mas alterei minha linha de pesquisa. A atividade docente no DG e a representação da AGB na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992, envolvendo mais de uma centena de chefes de estado e milhares de pessoas por meio de organizações não governamentais de todo o mundo, despertaram-me a curiosidade para acompanhar os tratados internacionais sobre o ambiente.
Estava diante de uma nova frente de pesquisa, que se mantém até hoje. Dela derivaram uma série de trabalhos publicados ainda antes da defesa do doutorado, que ocorreu em dezembro de 1999.
No doutorado, a disciplina Análise das Relações Internacionais, ministrada pelo professor Leonel Mello no Departamento de Ciência Política, foi de muita valia. Além de permitir-me conhecer teorias das relações internacionais, propiciou um amplo debate sobre temas contemporâneos.
Essas etapas de formação coincidiram com outras mudanças por São Paulo, todas na Zona Oeste. Inicialmente, morei em Vila Beatriz, mais próxima à USP. Lá fiquei até 1997, quando fui viver no Alto da Lapa. Em meados de 2003 mudei para a Vila Madalena.
Assisti a uma grande transformação em Vila Beatriz. Casas unifamiliares deram lugar a edifícios de alto padrão. Mesmo em áreas dotadas de infraestrutura os efeitos foram sentidos. Um deles foi o aumento na queda do fornecimento de energia. Mas alguns serviços, que já eram bons, ficaram ainda melhores e mais caros. Era hora de mudar.
No Alto da Lapa estava junto a uma área mais consolidada do ponto de vista da produção do espaço urbano. Mas isso não me impediu de assistir à verticalização da linha do horizonte. Muitos prédios foram subindo em direção ao pôr do sol na rua Carlos Weber e adjacências.
O mesmo ocorreu na Vila Madalena. Diversos edifícios surgiram, entremeados de bares e casas noturnas, naquele que foi um bairro refúgio de estudantes sem dinheiro para pagar aluguel ou de famílias negras, que chegaram bem antes que os expulsos do Conjunto Residencial da USP (CRUSP), pela repressão da ditadura militar. Mas de onde vivo ainda consigo ver o horizonte sem prédios por perto, embora observe claramente a aproximação da mancha de concreto sobre minha janela.
5. PÓS-DOUTORADO
Participar de uma experiência de pesquisa em uma instituição com a tradição e relevância da Universidade de Barcelona foi estimulante diante de novas perspectivas de interação com pesquisadores. Esta etapa de minha trajetória foi financiada pela FAPESP, entre dezembro de 2001 e fevereiro de 2002. Foram diversas idas e vindas pelos trens do metrô de Barcelona até a universidade, às vezes até em final de semana, para buscar interlocutores seja na palavra escrita, seja na palavra falada. E eles estavam lá, à espera de quem quisesse adentrar no mundo do debate acadêmico, gerados pela ordem ambiental internacional.
De pronto procurei o professor Horacio Capel, catedrático que exerce sua sabedoria de maneira singular estimulando os mais novos a produzir artigos e seminários. Nossos encontros iniciais logo passaram do estranhamento natural para acaloradas discussões teóricas. Inicialmente foi traçado um objetivo para os dois meses de convivência, a saber, produzir um artigo (RIBEIRO, 2002), um texto para apresentar no IV Colóquio Internacional de Geocrítica (RIBEIRO, 2002a) e organizar um número especial da revista eletrônica Scripta Nova com artigos sobre a vida e obra do Professor Milton Santos (RIBEIRO, 2002b, 2002c). Em nossos encontros trocamos impressões sobre a Geografia produzida tanto no Brasil quanto na Espanha.
Além das atividades descritas acima, frequentei bibliotecas da Universidad de Barcelona, da Universidad Autónoma de Barcelona e públicas, como a Biblioteca da Catalunya. Em todas foi possível descobrir obras de interesse ao meu trabalho.
Visitei também as Universidades de Lisboa e de Coimbra, em Portugal, graças à complementação de recursos oferecida pela Comissão de Cooperação Internacional da USP.
Em Lisboa, meu contato ocorreu principalmente com a professora Teresa Salgueiro, especialista em Planejamento Urbano. Em Coimbra, tive o apoio da professora Lucilia Caetano, que pesquisava o desenvolvimento industrial em Portugal e era bastante envolvida com a temática dos polos tecnológicos, tema que trabalhei em meu mestrado. Discutimos algumas variáveis locacionais de empresas de alta tecnologia. O momento mais precioso de nosso encontro foi uma visita que ela proporcionou às instalações da Universidade de Coimbra, como a biblioteca e a sala de eventos. Tradição combinada com arte resume minhas impressões acerca dos ambientes visitados.
A convivência com colegas do programa de doutorado permitiu retomar ideias e questões sobre o sistema internacional e discutir metodologias de pesquisa em Geografia Humana. Além disso, aproveitei para estreitar relações com professores do Departamento de Geografia Humana da Universidad de Barcelona e do Departamento de Economia e História Econômica da Universidad Autónoma de Barcelona. Desse diálogo, surgiu a possibilidade de traduzir o livro O ecologismo dos pobres, do economista Joan Martinez-Alier (2007), para o qual realizei a revisão técnica e escrevi a apresentação da edição brasileira.
Minha segunda estada na Universidad de Barcelona, entre outubro de 2004 e janeiro de 2005, foi financiada pela CAPES. Dessa vez fui recebido pelo professor Carles Carreras, catedrático especialista em consumo. Nesta ocasião, havia a necessidade de contribuir para a análise comparativa Barcelona/São Paulo, pesquisa coordenada por ele e pela professora Ana Fani Carlos.
Grande parte de meu tempo foi dedicado a conhecer a gestão da água em Barcelona. Para tal, realizei um levantamento bibliográfico referente à temática do abastecimento hídrico nessa cidade e aos conceitos de soberania, desenvolvimento sustentável e segurança ambiental internacional. Também entrevistei atores importantes, como técnicos da “Aigues de Barcelona”, empresa responsável pela gestão da água na capital catalã (RIBEIRO, 2005).
Entretanto, tive oportunidade de desenvolver outras atividades. Participei do IV Congresso Ibero sobre Gestão e Planejamento da Água, realizado em Tortosa, na Espanha, no período de 8 a 12 de dezembro de 2004, com um trabalho sobre água na Região Metropolitana de São Paulo. Nessa reunião conheci o sociólogo argentino José Esteban Castro, na época professor na Oxford University. Desse contato surgiu sua participação como professor visitante no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM), na USP. A cooperação avançou com a criação da rede de pesquisa Waterlat/Gobacit, que será tratada adiante.
Ao longo da segunda estada em Barcelona, tive oportunidade de conhecer o Centre de Recherche sur le Brésil Contemporain, da École dês Hautes Études, da Université Paris-Sorbonne, a convite da professora Martine Droulers, que me convidou ainda para uma conferência ministrada no curso de pós-graduação do Centre de Recherche et de Documentation de l’Amérique Latine, da Université Paris VII, com o tema “Gestion du l’eau au Brésil: le cas du São Paulo”. Nesta ocasião discuti a gestão dos recursos hídricos em São Paulo e no Brasil, detalhando os comitês de bacia de São Paulo.
II. TRABALHOS DESTACADOS
Existem diversas métricas para indicar a relevância de determinados trabalhos. Em geral, tomam-se os mais citados, ou aqueles que receberam mais críticas, positivas ou negativas. Não usei esses critérios nesta seleção. Minha escolha, como já anunciado, partiu de minha intuição e de conversas com inúmeros interlocutores em mais de trinta anos de vida acadêmica. Os textos mais comentados nesses encontros estão nesta série, somados a textos mais recentes relacionados às pesquisas que desenvolvo.
1. A ORDEM AMBIENTAL INTERNACIONAL
Para a obtenção do título de Doutor, apresentei, em 1999, ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana do Departamento de Geografia da USP, a tese A ordem ambiental internacional (RIBEIRO, 1999). O objetivo central da pesquisa foi identificar os atores, mecanismos e eficácia de um conjunto de instrumentos jurídicos internacionais focados em questões ambientais. No texto final, constam os primeiros tratados internacionais – que foram criados para regular a ação das metrópoles imperialistas no continente africano. Depois, tratei do período da Guerra Fria, época em que o destaque ficou para a atuação da ONU e seus organismos internos, bem como para reuniões internacionais que eles realizaram. Por fim, apresentei as convenções internacionais pós Guerra Fria, destacando a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, seus documentos, e reuniões que se seguiram a ela. Neste trabalho fiz uma primeira aproximação teórica da Geografia Política envolvendo problemas ambientais. Minha intenção foi estabelecer um marco conceitual a partir do qual pudesse continuar a desenvolver estudos da intrincada rede de relações que cercam a temática ambiental envolvendo países. Temas como segurança ambiental internacional, sustentabilidade e soberania emergiram como questões centrais em minhas reflexões e produção acadêmica.
A pesquisa do doutorado foi facilitada após o advento da rede mundial de computadores. Recordo que este aspecto foi realçado pela banca, já que, na época, ainda não era frequente como se verifica hoje em dia, o levantamento de dados a partir de informações oficiais divulgadas em páginas eletrônicas de governos, organismos internacionais e entidades ambientalistas. Mas não basta captar a informação, é preciso analisar os dados.
Entretanto, cabe aqui um alerta. Lamentavelmente, as informações não estão mais disponíveis como antes. Muitos países, e mesmo organizações multilaterais e secretariados de convenções internacionais, deixaram de expor os dados na rede mundial de computadores. O resultado é uma maior dificuldade na obtenção de indicadores que no final da década de 1990. A propalada democratização por meio das redes de computadores tornou-se relativa e seletiva.
Participaram da banca de doutorado a geógrafa Maria Encarnação Beltrão Sposito, o geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves, o cientista político Leonel Itaussu de Almeida Mello, o geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira e o geógrafo José William Vesentini – orientador. Após os trabalhos, a banca decidiu pela aprovação com distinção, recomendando a tese para publicação.
Publicada como livro (RIBEIRO, 2001), A ordem ambiental internacional alcançou uma repercussão junto a três campos do conhecimento científico: a Geografia, o Direito Internacional e as Relações Internacionais. A obra passou a ser discutida em disciplinas de graduação e pós-graduação dessas áreas, o que me envolveu em uma série de seminários e formas de cooperação em pesquisas e bancas.
2. GEOGRAFIA POLÍTICA DA ÁGUA
O trabalho que submeti como parte de minha Livre Docência (RIBEIRO, 2004), no Departamento de Geografia da USP, Geografia Política da Água, discute a ausência de um instrumento internacional que garanta o acesso a essa substância fundamental à reprodução da vida. Inicio com uma análise da gestão dos recursos hídricos na escala internacional, com a mesma metodologia da tese de doutorado. Nesse texto procurei expressar o impacto da distribuição política da água e projetar perspectivas para o abastecimento para os próximos anos.
Primeiramente, discorri sobre a oferta hídrica por país e analisei o uso da água. Depois, dediquei um capítulo para as convenções internacionais que tratam dos recursos hídricos, no qual constatei a ausência de uma regulação multilateral aceita pela maior parte dos integrantes do sistema internacional. Também abordei o direito humano à água, na época um tema emergente no debate internacional, que em 2010 foi reconhecido pela Assembleia Geral da ONU.
Em seguida, tratei de verificar as formas de acesso à água, que são basicamente duas: o comércio e o conflito. O primeiro caso foi abertamente difundido pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional, que difundiu a privatização dos serviços da água e, ao mesmo tempo, defendeu interesses de grandes grupos privados que já atuavam no comércio de água engarrafada ou por meio da aquisição da prestação de serviços hídricos. Em relação aos conflitos, a projeção da carência de água em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os que mais usam água no mundo, gera uma perspectiva sombria. Parte deles dispõe de relevante capacidade estratégico-militar e podem desejar usá-la para obter água. Uma ocupação territorial para tomar literalmente a água de países que têm oferta hídrica considerável, como é o caso do Brasil e de muitos da América do Sul, não pode ser descartada, ainda que ela não deva ocorrer nos moldes que se deram, por exemplo, no Iraque, para controlar a extração de petróleo. Bombardear uma área com água seria pouco inteligente, dado que vai degradar exatamente o objetivo a ser conquistado. Portanto, a dominação e o conflito pela água são mais sutis que uma guerra por petróleo.
Por fim, o texto defende uma nova cultura da água, na qual seu uso deve ser adequado à oferta hídrica de cada país.
A banca examinadora de minha Livre Docência foi composta pela geógrafa Ana Fani Carlos, pelo geógrafo Eliseu Sposito, pela geógrafa Helena Ribeiro, pelo engenheiro agrônomo Waldir Mantovani e pelo geógrafo José Bueno Conti, presidente.
Em 2008 a tese ganhou o formato de livro (RIBEIRO, 2008), que também alcançou repercussão importante nas áreas de Geografia, Direito Internacional e Relações Internacionais.
3. ÁGUA TRANSFRONTEIRIÇA
Nos últimos anos venho me dedicando a compreender os conflitos , tensões e possibilidades de cooperação que envolvem a água transfronteiriça (RIBEIRO; SANT’ANNA, 2014; RIBEIRO; SANTOS; SILVA, 2019). Como foco de análise, a bacia do Prata foi escolhida por apresentar uma gama de aspectos que envolvem o uso múltiplo da água, como a produção de energia, o abastecimento de grandes contingentes populacionais, a produção agrícola e industrial (RIBEIRO; SANT’ANNA; VILLAR, 2013).
Água transfronteiriça é a que perpassa ao menos duas unidades políticas por meio de um corpo de água, seja ele superficial ou subterrâneo. Rios, lagos e represas podem estar entre duas unidades políticas, sejam elas internacionais ou internas a um país, caracterizando água transfronteiriça superficial. Um aquífero pode ocorrer sob duas unidades políticas e, como nas situações anteriores, transcender países ou unidades territoriais internas a um país (RIBEIRO, 2008a; VILLAR; RIBEIRO, 2011; LEITE; RIBEIRO, 2018; ESPÍNDOLA; LEITE; RIBEIRO, 2020).
Dois conceitos ajudam muito a interpretar as relações entre unidades políticas envolvendo água transfronteiriça: hidropolítica e hidro-hegemonia. O primeiro relaciona-se ao uso político da água para o exercício do poder de uma unidade política sobre a outra. O segundo ocorre quando a relação de poder resulta na hegemonia de uma unidade política sobre a outra (PAULA; RIBEIRO, 2005). Além disso, é necessário revisitar o conceito de soberania (RIBEIRO, 2012).
Esses conceitos podem ser usados para analisar situações internas ao Brasil, como as consequências da transposição do rio São Francisco, que alterou as relações de poder entre estados do Nordeste. Outro exemplo de aplicação foram os conflitos gerados por ocasião da crise de gestão da água na Região Metropolitana de São Paulo entre 2013 e 2015, envolvendo os estados do Rio de Janeiro e São Paulo (BUCKERIDGE; RIBEIRO, 2018).
No caso da bacia do Prata, foco das análises nos últimos anos, os conflitos envolvendo a Itaipu Binacional mobilizaram diferentes governos (RIBEIRO, 2017). O Paraguai reivindicou tarifas mais elevadas, no que foi parcialmente atendido pelo Brasil, e também reivindicou soberania para vender o excedente de energia livre no mercado, em vez de, por contrato, ter que vendê-la ao Brasil. Sobre este ponto as negociações não avançaram (INÁCIO JR.; RIBEIRO, 2019).
A existência do Comitê Intergovernamental Coordenador dos Países da Bacia do Prata, desde 1968, além de várias outras instituições, aponta a necessidade de uma análise política do papel e alcance de cada instituição. Apesar da existência desse conjunto de órgãos dedicados à gestão da água na bacia do Prata, eles são pouco eficazes em função da ausência de recursos para implementar projetos e por não disporem de corpos técnicos independentes (VILLAR; RIBEIRO; SANT’ANNA, 2018; ESPÍNDOLA; RIBEIRO, 2020). Como resultado, os estudos sobre a bacia estão sujeitos ao financiamento externo, que evidentemente não chega desinteressado.
4. ENSINO DE GEOGRAFIA
Discutir o ensino de Geografia é uma de minhas paixões. A reflexão sobre esse tema nasceu de minha militância na AGB. Por mais de uma vez presenciei debates fecundos no Anfiteatro do DG lotado para tratar da renovação da Geografia e sua aplicação no ensino fundamental e médio.
Assisti também a inúmeras avaliações da Proposta Curricular de Ensino de Geografia, produzida pela então Coordenadoria de Ensino e Normas Pedagógicas (CENP), ao longo da década de 1980. A principal mudança sugerida era a indicação da categoria “trabalho” como eixo central das discussões. Havia também uma grave lacuna: a dinâmica da natureza. Naquele momento de radicalismo, chegou-se a decretar a morte da Geografia Física. Pior, muitos colegas que se dedicaram a ela foram rotulados como conservadores por empregarem “métodos positivistas” em seus trabalhos.
A discussão sobre o ensino de Geografia foi retomada com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, ao longo da década de 1990. Novos debates tensos ocorreram, envolvendo seus elaboradores e a comunidade geográfica. Participei de alguns. Mais recentemente, as discussões ainda mais polêmicas que envolveram a definição da Base Nacional Comum Curricular, de 2018, ofereceram outras oportunidades para tratar do ensino de Geografia.
Por fim, aponto as coleções e livros de apoio didático que tive a oportunidade de publicar, resultado de muita investigação de fontes e discussão com vários colaboradores. O começo da produção didática veio a partir de um convite da professora Delacir Poloni, que resultou em uma coleção para os quatro anos iniciais (RIBEIRO; GUIMARÃES; POLONI, 1994). Depois, vieram novos projetos destinados ao ensino fundamental II (RIBEIRO; ARAÚJO; GUIMARÃES, 1999; RIBEIRO, 2012a) e ao ensino médio (RIBEIRO; GUIMARÃES; KRAJEWSKI, 2000; RIBEIRO; GAMBA; ZIGLIO, 2018). Algumas dessas obras chegaram à terceira edição, e duas ainda estão em catálogo.
5. OUTROS TEMAS
Também tive a oportunidade de discutir questões como cooperação internacional e redes de atores não estatais (ZIGLIO; RIBEIRO, 2019), justiça ambiental e justiça espacial (RIBEIRO, 2017a), mudanças climáticas (RIBEIRO, 2002d, 2008b), governança da água no Brasil e em São Paulo (RIBEIRO, 2009, 2011), sociedade do risco (ZANIRATO et al., 2008; RAMIRES; RIBEIRO, 2011), entre outras.
6. COLABORAÇÃO JUNTO À IMPRENSA
Escrever para a imprensa era uma tarefa pouco compreendida no meio acadêmico no início de minha carreira. Quando comecei a colaborar com a Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo, na década de 1990, recebia olhares de surpresa de colegas, que estranhavam minha disposição em comentar temas contemporâneos.
Felizmente a divulgação científica já sofre menos preconceito na universidade. Cada vez mais pesquisadores envolvem-se com a produção de conteúdo para o grande público por meio de redes sociais. Pode ser uma trilha a seguir no futuro.
Da imprensa escrita passei à falada, por meio de colaborações com as rádios Eldorado, depois Estadão/ESPN e, por fim, Estadão. Mantive uma coluna sobre temas socioambientais que começou quinzenalmente e, quando terminou, tinha duas edições por semana. Desde 2017 comento, semanalmente, temas socioambientais na Rádio Brasil Atual, mais especificamente no Jornal Brasil Atual, que é transmitido ao vivo pela TVT (TV dos Trabalhadores) e pelos canais do Youtube destes veículos (https://www.youtube.com/watch?v=0rYSJGvJgQo).
Tive várias participações na TV; destaco programas de opinião, como o Roda Viva (https://www.youtube.com/watch?v=ibKboWNOCXM) e o Panorama (https://tvcultura.com.br/videos/68061_panorama-tragedia-em-brumadinho-01-02-2019.html), na TV Cultura, além de diversas entrevistas para distintas emissoras.
III. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Além das experiências de pós-doutorado, tive oportunidade de colaborar em outras universidades por meio de disciplinas ministradas, ademais de integrar uma rede de pesquisa internacional sobre água na América Latina, experiências comentadas a seguir.
1. UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Durante minha estada no Departamento de Geografia Humana da Universidad de Sevilla, nos meses de outubro e novembro de 2008, pude conhecer diversos professores, o que me permitiu ter uma ideia geral das pesquisas geográficas que se desenvolviam naquela universidade, em especial no campo dos estudos socioambientais. A governança e as políticas públicas ambientais eram alvo de investigações.
O professor Juan Suarez de Vivero recebeu-me na instituição, com quem pude discutir a governança do sistema internacional relacionada aos temas ambientais. Como grande especialista vinculado aos estudos do mar, e com larga experiência em foros de pesquisa da União Europeia, o professor Vivero tem uma produção relevante sobre as relações entre a Geografia Política e o ambiente, no caso, com os recursos marinhos em suas múltiplas dimensões. Em relação à governança, a posição do professor Vivero reconhece o caráter institucional do tema. Para ele, a governança envolve diversos atores em fóruns diferentes, o que dificulta sua implementação.
Com a professora Maria Fernanda Pita, especialista em estudos climatológicos, tive a possibilidade de conhecer mais referências e fontes de pesquisa sobre estudos relacionados às mudanças climáticas na Espanha. Ela informou-me que os estudos estão mais concentrados na mitigação que na adaptação às consequências que as transformações globais trarão ao território espanhol.
Com o professor Leandro Del Moral, na ocasião chefe do Departamento de Geografía Humana, pude discutir outro tema de grande interesse: a gestão da água. Ele apresentou-me o curso de mestrado Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas, em desenvolvimento na Universidad de Zaragoza, que é ministrado por um conjunto de professores de diversas universidades europeias. Nesse curso, o estudante tem contato com diversos aspectos da gestão dos recursos hídricos, como a governança, a Diretiva Marco Europeia para a água e a participação popular na gestão da água.
A estada na Espanha possibilitou fazer uma visita ao professor Horacio Capel. Na ocasião, além de cumprimentá-lo pela nomeação para o prêmio Vautrin Lud, considerado o Nobel da geografia mundial, pude realizar uma interessante entrevista em conjunto com a professora Silvia Zanirato. Entre os diversos assuntos abordados na ocasião, ressalto a visão do professor sobre o prêmio, sua repercussão e impacto, mas, principalmente, a avaliação que expôs sobre a geografia espanhola, latino-americana e brasileira (RIBEIRO; ZANIRATO; CAPEL, 2010).
2. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
No período de 2013 a 2015 fui convidado a colaborar na disciplina “Território”, do “Master en Estudios Brasileños”, no Centro de Estudios Brasileños da Universidad de Salamanca. Essa disciplina era oferecida com mais dois colegas, a professora María Isabel Martín Jiménez e o professor José Luis Alonso Santos, ambos do Departamento de Geografía da Universidad de Salamanca. A primeira tratava dos aspectos naturais do território brasileiro, enquanto o segundo apresentava uma análise regional, destacando as diferenças sociais e econômicas entre as regiões brasileiras. Minha contribuição estava focada em discussões conceituais sobre território, formação territorial do Brasil, composição e dinâmica populacional do país. O master atraiu alunos de diversos países, como Espanha, Grécia, Finlândia, Canadá e Brasil, com formação também diversificada (geógrafos, economistas, cientistas políticos, advogados, pedagogos, entre outros). Ao longo de três anos, as turmas variaram entre quinze e dez alunos. Nesse projeto, os estudantes tinham que cumprir uma etapa de estudos no Brasil. Por isso o intercâmbio era muito rico e estimulante. Porém, coincidentemente ou não, após o golpe de 2016 que destituiu a Presidenta Dilma Rousseff, não houve alunos em número suficiente para iniciar novas turmas, o que interrompeu a colaboração como docente.
3. UNIVERSIDAD DE CALDAS
Em 2014 fui convidado para ministrar a disciplina “Geografía y Ecología Política del Agua en América Latina”, para as maestrias em “Estudios Políticos” e em “Derecho Publico” da Universidad de Caldas, em Manizales, Colômbia. Abordei temas como: a sociedade contemporânea e o uso da água; o acesso e a oferta de água na América Latina; principais usos da água na América Latina; o Direito Humano à água e perspectivas para o futuro. O grupo de alunos mostrou-se entusiasmado e participativo. Composto em sua maioria por estudantes com formação em Direito, o grupo assimilou muito bem as teorias e reflexões expostas, gerando um debate agudo e construtivo, apesar do ritmo intenso das aulas.
4. OUTROS CASOS – MÉXICO, ÍNDIA, SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE E REDE DE PESQUISA WATERLAT/GOBACIT
Um dos momentos mais relevantes que tive oportunidade de experimentar como geógrafo e professor ocorreu em 2008 na Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Naquela ocasião pude ministrar um curso para o “Posgrado de Geografía” com o tema “Geografia Política y recursos naturales”, a convite da professora Veronica Ibarra. Começava um rico diálogo. Apresentei reflexões ainda atuais que envolvem recursos hídricos e petróleo, temas de grande interesse à população mexicana, relacionando-os à Geografia Política dos recursos naturais. A assistência foi muito atenta e propiciou um estimulante debate.
Com coordenação da professora Neli Mello-Thèry, da USP, o projeto “Exclusão social, território e políticas públicas: uma comparação Índia-Brasil”, foi financiado pela Agence Nationale de la Recherche da França e envolveu a Université Paris X - Nanterre, o Centro de Estudos da Índia (Ceias-Ehess), o Centre de Sciences Humaines (Delhi), a USP (DG e IEA) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (núcleo Favela e Cidadania, Escola de Serviço Social), somando vinte pesquisadores do Brasil, da França e da Índia, de 2007 a 2009. O objetivo era identificar como as áreas mais pobres das periferias urbanas de Delhi, Mumbai, Rio de Janeiro e São Paulo eram afetadas por políticas públicas para habitação e eventuais pressões sobre unidades de conservação (MELLO-THÈRY et al., 2014).
Cabe ressaltar a participação no programa de cooperação entre o Brasil e São Tomé e Príncipe, no qual, sob coordenação da professora Norma Valencio, da UFSCar, analisamos o Plano de Adaptação de São Tomé e Príncipe às mudanças climáticas. Como resultado, escrevi um capítulo sobre as potencialidades ambientais de São Tomé e Príncipe (RIBEIRO, 2010) e organizei um livro, em conjunto com a professora Norma Valencio (VALENCIO; RIBEIRO, 2010). Esse projeto resultou de uma iniciativa do CNPq que visava promover uma aproximação com países africanos.
Destaco a inserção na rede Waterlat, que visa congregar pesquisadores da América Latina e da Europa dedicados a analisar temas relacionados à ecologia política da água, coordenada pelo professor Jose Esteban Castro, atualmente pesquisador do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), na Argentina. A Waterlat incorporou a rede Gobacit, formando a Waterlat/Gobacit (https://waterlat.org/pt/). Participei de várias reuniões anuais da rede, na condição de coordenador da Área de Trabalho sobre águas transfronteiriças, bem como expondo resultados de pesquisas. Em 2010, organizei o segundo encontro da rede, no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP), quando cerca de 120 trabalhos foram expostos à discussão (CASTRO; RIBEIRO, 2010).
IV. OUTRAS PARTICIPAÇÕES
A seguir, comento alguns eventos não acadêmicos dos quais participei, que tiveram relação direta com minhas pesquisas.
Um dos mais marcantes foi o Rio 92. Fui representante do Fórum Brasileiro de Organizações Não Governamentais na reunião oficial, a primeira da ONU a aceitar a presença de representantes da sociedade civil na delegação dos países. Cheguei a essa situação a partir da representação da AGB nas reuniões preparatórias para a Rio 92.
Esta reunião propiciou a convivência com ambientalistas e pesquisadores de muitas partes do mundo. A presença de chefes de estado, como Fidel Castro, François Mitterrand, John Major, respectivamente presidentes de Cuba, França e primeiro-ministro do Reino Unido, despertou em mim o tema de pesquisa para o doutorado.
A primeira Conferência Nacional de Meio Ambiente “Vamos cuidar do Brasil”, organizada pelo Ministério do Meio Ambiente, mobilizou mais de 60.000 pessoas de todo o Brasil, em 2003. Elas organizaram-se por segmentos da sociedade brasileira em nível municipal, estadual e regional, permitindo o encontro de trabalhadores, ambientalistas, sindicalistas, profissionais da área tecnológica, empresários, militares, entre outros, obedecendo a uma divisão de gênero. Eu fui delegado eleito a partir da representação do CREA-SP. O objetivo da Conferência foi aprimorar o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), por meio da discussão e mobilização da sociedade brasileira. Os trabalhos ocorreram na Universidade de Brasília.
A Conferência Nacional de Meio Ambiente foi um marco importante na construção da cidadania no Brasil. Ela gerou uma corresponsabilidade na sociedade brasileira pela implementação de seus resultados e para a fiscalização da atuação dos governos em todas as suas esferas. Infelizmente parte desses avanços estão ameaçados por ações do Governo Federal que se instalou em janeiro de 2019.
De junho de 2003 até junho de 2004, fui o representante suplente do CREA-SP no Conselho Estadual de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do estado de São Paulo (CONSEMA). Fui indicado para presidir os trabalhos da Comissão Especial de Biodiversidade, Florestas, Parques e Áreas Protegidas, que tinha como tarefa central auxiliar o Conselho Estadual na gestão e acompanhamento das unidades de conservação ambiental do estado de São Paulo.
Também fui representante do CREA-SP no Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de São Paulo, nos períodos de 1998-2000 e 2004-2007. Integrei a Câmara Técnica de Saneamento Ambiental, que analisou problemas como o destino final de resíduos da área hospitalar. Participei também de um grupo de trabalho que gerou a Certificação de Qualidade Ambiental, um tipo de selo verde que deveria ser destinado a projetos de empreendimentos que salvaguardem ao máximo o ambiente. Tive, ainda, a oportunidade de fazer uma apresentação sobre “Recursos hídricos na Grande São Paulo” em uma das reuniões do CADES, por sugestão de membros do plenário, da qual resultou a indicação de se remeter para a Câmara Técnica de Saneamento Ambiental a missão de elaborar uma Campanha da Água para o município de São Paulo. Outra exposição que fiz àquele qualificado plenário foi “Mudanças climáticas e suas implicações para São Paulo”, em 2007. A convivência com técnicos da Prefeitura de São Paulo, ambientalistas e pesquisadores estimulou o debate de alternativas para os problemas ambientais desse município.
Em março de 2006, tive mais uma experiência em reuniões da ONU ao participar da Oitava Conferência das Partes da Convenção de Diversidade Biológica, realizada em Curitiba (PR). Foi mais uma oportunidade de assistir negociações da ordem ambiental internacional e presenciar a pressão de ONGs, as restrições que alguns países apresentam a determinados assuntos e perceber, mais uma vez, a complexidade do tema.
Destaco ainda a participação na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de Janeiro em 2012, que ficou conhecida como Rio+20. Além de organizar um evento na reunião paralela por meio do IEA, que discutiu temas socioambientais que envolviam o Brasil, fui convidado a atuar como mediador dos Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil que teve apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Essa experiência inovadora permitia a um cidadão enviar uma proposta para o plenário da Rio+20 independentemente de ser membro de governo e/ou de uma delegação. Para tal, ele teria que apresentar uma proposta em um dos dez diálogos, a saber: (i) Desemprego, trabalho decente e migrações; (ii) Desenvolvimento Sustentável como resposta às crises econômicas e financeiras; (iii) Desenvolvimento Sustentável para o combate à pobreza; (iv) Economia do Desenvolvimento Sustentável, incluindo padrões sustentáveis de produção e consumo; (v) Florestas; (vi) Segurança alimentar e nutricional; (vii) Energia sustentável para todos; (viii) Água; (ix) Cidades sustentáveis e inovação; e (x) Oceanos. As três propostas mais votadas de cada grupo seriam encaminhadas como resultado da Rio+20. Eu coordenei, com uma colega da França e outra da China, o diálogo II, no qual apresentei uma proposta de taxação das movimentações financeiras para criar um fundo para investimento em tecnologias sustentáveis. Após discussão no grupo, ela foi aprovada para ser encaminhada à plenária, que a referendou e a aprovou entre as encaminhadas aos resultados da Rio+20. Segundo informações da época, cerca de 60.000 pessoas de 193 países participaram das reuniões virtuais de abril a junho de 2012. Nesse período, organizei um livro que procurou contribuir para os debates preparatórios à Rio+20 (RIBEIRO, 2012b).
V. PREMIAÇÕES E DEMAIS DISTINÇÕES
Para um professor, não há nada mais relevante que o reconhecimento de seus alunos. Em meu caso, isso ocorreu em diversas passagens de minha atuação profissional.
A primeira a destacar foi a honrosa indicação como paraninfo das turmas de formandos do curso de Bacharelado em Geografia de 2002 e 2003. Com muita emoção recebi a incumbência de proferir um discurso que pudesse marcar aquele nobre momento na vida dos alunos, seus familiares e amigos. Além de ressaltar a conquista pessoal de cada um, motivo para júbilo, recordo-me de lembrar-lhes a responsabilidade que teriam como profissionais, em quaisquer que fossem as atividades que viessem a desenvolver. Lembrei-lhes do pensamento crítico, uma das marcas da formação do Departamento de Geografia, mas também da importância de buscar alternativas à reprodução da vida em bases diferentes à do padrão hegemônico em nossos dias, que gera muita desigualdade social e graves problemas ambientais. Realcei também a esperança que o Brasil vivia naquele momento com a eleição de uma liderança popular como Presidente da República.
O CREA-SP também honrou-me com uma distinção por serviços prestados na área ambiental em 2009.
Para minha felicidade, tive várias orientandas que receberam distinções acadêmicas, listadas a seguir:
• Simone Scifoni, Prêmio CAPES de melhor Tese de Doutorado de 2007;
• Lucy Lerner, melhor Dissertação de Mestrado do PROCAM e Menção Honrosa de melhor Dissertação de Mestrado do Prêmio ANPPAS de 2008;
• Luciana Ziglio, Premio Betinho - Cooperar Reciclando Reciclar Cooperando - CEMPRE, Camara Municipal de Sao Paulo, 2009.
• Pilar Carolina Villar, melhor Dissertação de Mestrado do PROCAM do período 2008 a 2010;
• Zulimar Márita Ribeiro, melhor Tese de Doutorado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema), 2010;
• Pilar Carolina Villar, melhor Tese de Doutorado do PROCAM do período 2010 a 2012;
• Pilar Carolina Villar, Menção Honrosa do Prêmio CAPES de melhor Tese de Doutorado de 2013;
• Zenaida Luisa Lauda Rodriguez, melhor Tese de Doutorado do PROCAM 2018;
• Zenaida Luisa Lauda Rodriguez, Menção Honrosa de melhor Tese de Doutorado da rede Waterlat, 2019;
• Zenaida Luisa Lauda Rodriguez, Menção Honrosa de melhor Tese de Doutorado do Prêmio ANPPAS, 2019.
VI. UM BALANÇO
Depois de 34 anos como docente universitário, dos quais 31 no DG, afirmo que a universidade atual é muito diferente da que ingressei. A começar pela impossibilidade de ser aprovado como docente apenas com o título de Bacharel, como eu fui. Hoje, a carreira começa com o título de Doutor. Ou seja, a universidade não julga mais conveniente formar seus quadros. Isso pode trazer alguma vantagem, que é a bem-vinda interação com outras visões do conhecimento e culturas universitárias. Mas gera desvantagens, como um menor vínculo com a instituição e o desconhecimento da dinâmica e história institucional de ingressantes.
Outra mudança muito importante é o produtivismo, associado à competição entre docentes, que assola corações e mentes, com sérias consequências pessoais e institucionais. Ao estabelecer métricas quantitativas de produção acadêmica, expressa em artigos publicados em revistas de elevado impacto, a universidade empobreceu, em especial, as Ciências Humanas, que não tinham, e nem necessitavam ter, as métricas empregadas por outros campos do conhecimento para aferir a qualidade de um resultado de pesquisa. Perdeu-se a possibilidade do improviso, do texto especulativo, do ensaio provocador, já que as revistas, mediadas por pares, incitam a uma normatização que transcende as regras formais de submissão. Trata-se de uma verdadeira, e avassaladora, maneira de impor um modelo de ciência, mesmo às Humanidades, que parecem estar próximas a sucumbir a essas demandas. Espero estar enganado neste diagnóstico.
Atuei na CAPES junto à área Interdisciplinar e estive entre os que subscreveram o documento que criou a área de Ciências Ambientais. Participei de duras discussões para que um livro e um capítulo de livro fossem aceitos como resultados de pesquisas, o que era consenso na nova área, mas negado por outras do campo Interdisciplinar. Criaram-se parâmetros para definir um livro, com uma série de exigências a serem cumpridas por editores e autores. Foi o custo para que fossem aceitos, mas ainda com muita resistência, que não foi de todo superada.
Na gestão das políticas socioambientais no Brasil, verifica-se um desmonte a partir de janeiro de 2019. O governo empossado naquele ano, entre outras tantas ações, esvaziou o Ministério do Meio Ambiente ao retirar de seu âmbito a Agência Nacional da Água, bem como o Cadastro Ambiental Rural. Também decretou mudanças no Conselho Nacional de Meio Ambiente e flexibilizou a fiscalização do desmatamento. Como resultado, assistiu-se ao maior desmatamento e quantidade de focos de incêndio da história do Brasil em 2020.
Com este quadro, cabe a pergunta: valeu a pena o esforço despendido?
Sim! Nestes anos convivi com colegas de diferentes áreas do conhecimento, países e unidades da Federação do Brasil, que me ensinaram a ser mais tolerante do que era no começo da minha carreira. Também agradeço aos meus professores, bem como aos geógrafos, mestres e doutores que formei até o momento, pelas ricas discussões travadas em nossas reuniões de trabalho no Laboratório de Geografia Política do DG, o GEOPO, como o chamamos. Agradeço aos pós-doutores que supervisionei até aqui. Por este grupo, que está registrado no CNPq com o nome de “Geografia política e meio ambiente”, passaram geógrafos, mas também arquitetos, advogados, internacionalistas, historiadores, sociólogos, biólogos, engenheiros, entre outros.
Agradeço ao DG e às agências de fomento, que ampararam pesquisas que resultaram em mais capacidade de assimilar o complexo mundo da ordem ambiental internacional. Agradeço à Tamires Oliveira pelo convite a elaborar este texto.
Por fim, mas não menos importante, espero que esse conjunto de publicações, de mestres, doutores e geógrafos formados, possam contribuir para um mundo melhor, menos desigual, no qual as relações humanas sejam pautadas pela solidariedade, tolerância e respeito, com menos impactos socioambientais. Desejo, ainda, que a Geografia que produzi conquiste aceitação política para avançar nessas trilhas.
E sigo na luta, porque tem muito trabalho pela frente...
REFERÊNCIAS
BUCKERIDGE, Marcos; RIBEIRO, Wagner Costa. Uma visão sistêmica das origens, consequências e perspectivas das crises hídricas na Região Metropolitana de São Paulo. In: Marcos Buckeridge; Wagner Costa Ribeiro (Org.). Livro branco da água. A crise hídrica na Região Metropolitana de São Paulo em 2013-2015: origens, impactos e soluções. São Paulo: Instituto de Estudos Avançados, 2018, v. 1, p. 14-21. http://www.iea.usp.br/publicacoes/ebooks/livro-branco-da-agua.
CASTRO, José Esteban; RIBEIRO, Wagner Costa. Waterlat Network International Conference: the Tension Between Environmental and Social Justice in Latin America: the Case of Water Management. São Paulo: CNPq/FAPESP, 2010. http://200.144.254.127:8080/iea/textos/waterlat/index.html.
ESPÍNDOLA, Isabela Battistello; LEITE, Maria Luisa Telarolli Almeida; RIBEIRO, Wagner Costa. South-American Transboundary Waters: The Management of the Guarani Aquifer System and the La Plata Basin Towards the Future. In: R. Brears (Org.). The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies. 1ª ed. Springer International Publishing, 2020, p. 1-35. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-030-32811-5_51-1.
ESPÍNDOLA, Isabela Battistello; RIBEIRO, Wagner Costa. Transboundary waters, conflicts and international cooperation - examples of the La Plata basin. Water International, v. 45, p. 1-18, 2020. DOI: 10.1080/02508060.2020.1734756.
INACIO JR., Paulo; RIBEIRO, Wagner Costa. Tratado de Itaipu: geopolítica e a negociação de 2008-2009. In: Cláudio Antonio Di Mauro; Renata Ribeiro de Araújo; Antonio Cezar Leal (Org.). Sustentabilidade em bacias hidrográficas: políticas, planejamento e governança das águas. 1ª ed. Tupã: ANAP/Associação dos Amigos da Natureza da Alta Paulista, 2019, v. 1, p. 61-78.
HATCH KURI, Gonzalo; TALLEDOS SÁNCHEZ, Edgar. Una mirada a la geografía política brasileña: conversación con el geógrafo Wagner Costa Ribeiro. Investigaciones Geográficas, (102), 2020. https://doi.org/10.14350/rig.60199.
LEITE, Maria Luísa Telarolli de Almeida; RIBEIRO, Wagner Costa. The Guarani Aquifer System (Gas) and the Challenges for Its Management. Journal of Water Resource and Protection, v. 10, p. 1222-1241, 2018. DOI: 10.4236/jwarp.2018.1012073.
MARTINEZ-ALIER, Joan. Ecologismo dos pobres. São Paulo: Contexto, 2007.
MELLO-THÉRY, Neli Aparecida; BRUNO, L.; DUPONT, Veronique; ZERAH, M.; CORREIA, B. O.; SAGLIO-YATZIMIRSKY, Marie-Caroline; RIBEIRO, Wagner Costa. Public Policies, Environment and Social Exclusion. In: Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky; Frédéric Landy (Org.). Megacity slums: social exclusion, space and urban policies in Brazil and India. London: Imperial College Press, 2014, v. 1, p. 213-256.
PAULA, Mariana de; RIBEIRO, Wagner Costa. Hidro-hegemonia e cooperação internacional pelo uso de água transfronteiriça. Waterlat-Gobacit Network Working Papers, v. 2, p. 92-107, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3512.0240.
RAMIRES, Jane; RIBEIRO, Wagner Costa. Gestão dos Riscos Urbanos em São Paulo: as áreas contaminadas. Confins (Paris), v. 13, p. 7323, 2011.
RIBEIRO, Wagner Costa. COVID-19: passado, presente e futuro. São Paulo: Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 2020. https://doi.org/10.11606/9786587621319.
RIBEIRO, Wagner Costa. Shared use of transboundary water resources in La Plata River Basin: utopia or reality? Ambiente e sociedade, São Paulo, v. 20, n. 3, p. 257-270, 2017. https://doi.org/10.1590/1809-4422asocex0005v2032017.
RIBEIRO, Wagner Costa. Justiça espacial e justiça socioambiental: uma primeira aproximação. Estudos Avançados, v. 31, p. 147-165, 2017a. http://dx.doi.org/10.1590/s0103-40142017.31890014.
RIBEIRO, Wagner Costa. Soberania: conceito e aplicação para a gestão da água. Scripta Nova (Barcelona), v. XVI, p. 01-11, 2012. https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/14816.
RIBEIRO, Wagner Costa. Por dentro da Geografia. Coleção em 4 volumes (com Manual do Professor). São Paulo: Saraiva, 2012a.
RIBEIRO, Wagner Costa. Governança da ordem ambiental internacional e inclusão social. 1ª ed. São Paulo: Annablume, 2012b.
RIBEIRO, Wagner Costa. Oferta e estresse hídrico na região Metropolitana de São Paulo. Estudos Avançados (USP Impresso), v. 25, p. 119-133, 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142011000100009.
RIBEIRO, Wagner Costa. Biodiversidade e oferta hídrica: possibilidades para São Tomé e Príncipe. In: Norma Valencio; Wagner Costa Ribeiro (Org.). São Tomé e Príncipe, África: desafios socioambientais no alvorecer do séc. XXI. 1ª ed. São Carlos: Rima, 2010, v. 1, p. 51-69.
RIBEIRO, Wagner Costa. Governança da água no Brasil: uma visão interdisciplinar. 1ª ed. São Paulo: Annablume/Fapesp/CNPq, 2009.
RIBEIRO, Wagner Costa. Geografia política da água. São Paulo: Annablume, 2008.
RIBEIRO, Wagner Costa. Aqüífero Guarani: gestão compartilhada e soberania. Estudos Avançados (USP Impresso), v. 22, p. 227-238, 2008a. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142008000300014.
RIBEIRO, Wagner Costa. Impactos das mudanças climáticas em cidades no Brasil. Parcerias Estratégicas (Impresso), v. 27, p. 297-321, 2008b.
RIBEIRO, Wagner Costa. Gestão da água em Barcelona. Scripta Nova. Barcelona, v. IX, p. 1-12, 2005. https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/982.
RIBEIRO, Wagner Costa. Ecologia política: ativismo com rigor acadêmico. Biblio 3W. Barcelona, v. VII, n. 364, p. 01-20, 2002. http://www.ub.edu/geocrit/b3w-364.htm.
RIBEIRO, Wagner Costa. Trabalho e ambiente: novos profissionais ou nova demanda? Scripta Nova. Barcelona, v. VI, n. 119 (98), p. 01-14, 2002a. http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-98.htm.
RIBEIRO, Wagner Costa. Milton Santos: aspectos de sua vida e obra. Scripta Nova. Barcelona, v. VI, n. 124, p. 01-04, 2002b. http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-124.htm.
RIBEIRO, Wagner Costa. Globalização e Geografia em Milton Santos. Scripta Nova. Barcelona, v. VI, n. 124, p. 01-09, 2002c. http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-124h.htm.
RIBEIRO, Wagner Costa. Mudanças climáticas: realismo e multilateralismo. Terra Livre, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 75-84, 2002d.
RIBEIRO, Wagner Costa. A ordem ambiental internacional. São Paulo: Contexto, 2001.
RIBEIRO, Wagner Costa. A ordem ambiental internacional. São Paulo: Tese de Doutorado. USP, 1999.
RIBEIRO, Wagner Costa. Os militares e a defesa no Brasil: a indústria de armamentos. São Paulo: 1994. Dissertação de Mestrado. USP, 1994.
RIBEIRO, Wagner Costa; ARAÚJO, Regina; GUIMARÃES, Raul Borges. Construindo a Geografia. Coleção em 4 volumes (com Manual do Professor e Caderno de Atividades). São Paulo: Moderna, 1999.
RIBEIRO, Wagner Costa; GAMBA, Carolina; ZIGLIO, Luciana. Geo Conecte live. Coleção em 3 volumes (com Manual do Professor e Caderno de Atividades). São Paulo: Saraiva, 2018.
RIBEIRO, Wagner Costa; GUIMARÃES, Raul Borges; KRAJEWSKI, Ângela. Geografia, pesquisa e ação. São Paulo: Moderna, 2000.
RIBEIRO, Wagner Costa; GUIMARÃES, Raul Borges; POLONI, Delacir Ramos. Aprendendo a construir Geografia. Coleção em 4 volumes (com Manual do Professor). Curitiba: Arco-Íris, 1994.
RIBEIRO, Wagner Costa; SANT’ANNA, Fernanda Mello. Water security and interstate conflict and cooperation (Seguretat hídrica i conflicte i cooperació interestatals). Documents d'Anàlisi Geogràfica, v. 60, p. 573-596, 2014. DOI: https://doi.org/10.5565/rev/dag.150.
RIBEIRO, Wagner Costa; SANT’ANNA, Fernanda Mello; VILLAR, Pilar Carolina. Desafios para a cooperação internacional nas águas transfronteiriças na América do Sul. In: Wagner Costa Ribeiro (Org.). Conflitos e cooperação pela água na América Latina. 1ª ed. São Paulo: PPGH/Annablume, 2013, p. 77-100.
RIBEIRO, Wagner Costa; SANTOS, Cinthia Leone Silva; SILVA, Luis Paulo Batista. Conflito pela água, entre a escassez e a abundância: marcos teóricos. Ambientes: Revista de Geografia e Ecologia Política, v. 1, p. 11, 2019. https://doi.org/10.48075/amb.v1i2.23619.
RIBEIRO, Wagner Costa; ZANIRATO, Silvia Helena; CAPEL, Horacio. Horacio Capel: una mirada sobre el mundo desde la Geografía. GEOUSP: espaço e tempo, p. 195-210, 2010. https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2010.74165.
VALENCIO, Norma Felicidade; RIBEIRO, Wagner Costa (Org.). São Tomé e Príncipe, África: desafios socioambientais no alvorecer do séc. XXI. São Carlos: Rima, 2010.
VILLAR, Pilar Carolina; RIBEIRO, Wagner Costa; SANT’ANNA, Fernanda Mello. Transboundary governance in the La Plata River basin: status and prospects. Water International, v. 43, p. 1-18, 2018. DOI: 10.1080/02508060.2018.1490879.
VILLAR, Pilar Carolina; RIBEIRO, Wagner Costa. The Agreement on the Guarani Aquifer: a new paradigm for transboundary groundwater management? Water International, v. 36, p. 646-660, 2011. DOI: 10.1080/02508060.2011.603671.
ZANIRATO, Silvia Helena; RAMIRES, Jane; AMICCI, Ana; RIBEIRO, Zulimar Márita; RIBEIRO, Wagner Costa. Sentidos do risco: interpretações teóricas. Biblio 3w (Barcelona), v. XIII, p. 1-13, 2008. http://www.ub.edu/geocrit/b3w-785.htm.
ZIGLIO, Luciana Aparecida Iotti; RIBEIRO, Wagner Costa. Socioenvironmental networks and international cooperation: the Global Alliance for Recycling and Sustainable Development - GARSD. Sustentabilidade em Debate, v. 10, p. 396-425, 2019. https://periodicos.unb.br/index.php/sust/article/view/19328.
-
 SALETE KOZEL TEIXEIRA
SALETE KOZEL TEIXEIRA BIOGRAFIA SALETE KOZEL TEIXEIRA
ERA UMA VEZ... E O INÍCIO FOI ASSIM....
“Os fundamentos do que é ‘grande’, em oposição ao que é ‘apenas comum’, são conquistados no início da vida, no meio ou mais tarde... muitas vezes mediante enormes fracassos, elevações do espírito, decisões equivocadas e recomeços impetuosos”. (Estés, 2007)
Com os encantos da lua uma garotinha aterrissa no planeta Terra, às 4:40 horas do dia 25 de novembro de 1947, na Maternidade Cruz Azul, em São Paulo-SP. Uma “paulistana”, conforme o desejo de meus pais, paulistas de nascimento e de coração. Embora nascida na metrópole paulista, fui registrada em Brotas - SP, local de nascimento de meu pai Saulo de Oliveira Teixeira e residência dos familiares paternos. Mamãe, Maria Ottilia Kozel Teixeira, era paulistana, assim como seus irmãos. Como dizia papai: “você é fruto de uma boa miscigenação: português, espanhol, bugre e tcheco”. No ramo paterno, a mistura de português, espanhol e bugre (minha bisavó): Oliveira Pinto e Teixeira de Almeida. No ramo materno, português e tcheco: Monteiro França e Kozel.
Muito das escolhas, e da minha formação, tiveram origem na relação com meus pais. Mamãe era uma mulher muito além de seu tempo, com valores de “outras terras”. Como filha de imigrante europeu teve formação em escola alemã, falava fluentemente o inglês e o alemão. Quando o Brasil passou a participar do conflito da 2ª guerra mundial, em 1942, as escolas alemãs foram fechadas e todo estudo nelas cursados foi invalidado. Na época, o presidente da República, Getúlio Vargas, confiscou todo o patrimônio adquirido pelos imigrantes estrangeiros. Assim, vovô Bohumil Kozel perdeu sua marcenaria, ficou doente e veio a óbito. Mamãe precisou trabalhar para ajudar no sustento da família, atuando como cobradora de porta em porta, secretária, balconista etc. Durante a 2ª guerra serviu o exército como datiloscopista e, posteriormente, conseguiu um emprego numa multinacional americana, coordenando um setor com público majoritariamente masculino. Imaginem essa proeza na década de 40 do século passado! Foi neste contexto que mamãe conheceu papai, que era irmão de um colega de trabalho. Apaixonaram-se e casaram em outubro de 1946. Assim, mamãe precisou se demitir visto que papai não permitia que sua esposa continuasse a trabalhar. Papai tinha formação em contabilidade e era fluente em francês. Fixaram residência em Brotas, no casarão da família Oliveira Teixeira, a casa paterna. Podem imaginar o que representou essa mudança para mamãe, uma mulher livre e “descolada”, tendo que se adequar às lides domésticas na pomposa casa dos sogros, uma família tradicional paulista de antigos fazendeiros?
Foi em meio a essas circunstâncias que eu cheguei, em 1947, cercada de mimos e muito amor. Entretanto, apesar de todo conforto meus pais não estavam felizes; precisavam ter vida própria e resolveram alçar novos voos. Em busca de novas oportunidades, em 1949 integraram a frente migratória paulistana rumo ao norte do Paraná. A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná foi responsável pela colonização do norte do Paraná, com a venda de terras, tendo em vista, principalmente, o cultivo do café e a demarcação de vilas, que deram origem às principais cidades como Maringá, São Jorge do Ivaí, Mandaguari, Mandaguaçu, Apucarana e outras. Seguindo o modelo inglês de parcelamento rural em pequenas propriedades, a companhia foi criando áreas urbanas ao longo do espigão, a cada 10 a 15 quilômetros, ampliando a ferrovia e construindo estradas. É importante lembrar que a destruição da mata para a instalação das cidades e dos lotes rurais alterou a organização do espaço, levando ao extermínio da população indígena e ao desaparecimento de espécies vegetais e animais. Neste contexto, com dois anos de idade eu, meus pais e Tio Homero, irmão de papai, rumamos para Maringá, e no ano seguinte, para São Jorge do Ivaí, onde papai conseguiu emprego como contador, numa serraria. Nossa residência era na colônia dos trabalhadores. Em 1950 nasce minha irmã Selma e, em 1952, Solange. Vivemos esse período em meio aos montes de serragem e das “toras” trazidas pelos caminhões.
Era muito triste ver tantas árvores cortadas e a floresta sendo derrubada. Em 1953, com seis anos, fui matriculada na primeira série do grupo escolar São Jorge, tendo Professora Carmem como a minha primeira professora e alfabetizadora. Em 1954 nasce meu irmão “Saulinho, o caçulinha”, e neste mesmo ano transferimos residência para Paranavaí no noroeste do Estado.
Em Paranavaí, os aventureiros se reorganizaram com suas famílias: Tio Homero como proprietário da torrefação “Café Paranavaí” e papai agente da Transportadora Paulista. A primeira conquista de papai foi comprar para a família uma casa simples de madeira, na Rua Mato Grosso, 484. Foi preciso perfurar um poço no quintal, de onde retirávamos água com balde puxado pelo sarilho. Todos os dias puxávamos vários baldes de água do poço para encher um tambor e ter água para o uso doméstico. Não existia luz elétrica e nossa casa era iluminada com lamparinas e um lampião Aladim, a querosene. Ao vir para o Paraná meus pais enfrentaram muitos desafios, visto que foram criados em situação bem mais confortável. Muitas vezes vi mamãe chorar por todas as dificuldades que precisava superar e pelo medo, pois todos os dias os moradores fechavam suas casas devido ao tiroteio. Ao amanhecer sempre tinha pessoas mortas nas ruas, por causa da disputa de terras entre os capangas do Capitão Telmo Ribeiro, que detinha o poder na região, e pessoas que adquiriam os lotes de terra. Era um verdadeiro banditismo
Guardo com carinho muitas lembranças e aprendizados que tive com papai neste período. À noite, muitas vezes, ficávamos sentados na área externa da casa a observar os astros, quando me dava aulas sobre constelações, recitava poemas em francês como: J’aime deux choses, La rose et voix, La rose par um jour e Et voux pour toujours. Ou a lei de Lavoisier: “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. Nesta época tive, também, as primeiras lições de direção, num jeep 51, quando papai dizia: “muito cuidado com estradas arenosas e poças d’água, mas, principalmente, tenha cuidado com os outros”. Grande sabedoria, que guardo até hoje ao dirigir um carro. Ele era um aventureiro sonhador, um grande companheiro, uma pessoa maravilhosa.
Na nova cidade, prossegui os estudos na Escola Paroquial Nossa Senhora do Carmo, cursando a 2.ª série com a professora Durvalina, e as 3.ª e 4.ª séries com a professora Rosa Noguti. Na época, ao término do antigo “Primário” era necessário fazer um exame de Admissão para ingressar no “Ginásio”, praticamente um vestibular, e era preciso cursinho preparatório. Cursei o preparatório durante um ano, mas não consegui vaga no Colégio Estadual de Paranavaí. Em 1958 prestei novamente o exame de Admissão em Alto Paraná, município vizinho, onde fui aprovada. Portanto, foi preciso cursar a primeira série ginasial na Escola Estadual Agostinho Stefanello, em Alto Paraná, a 18 km de Paranavaí. Isso só foi possível por ter conseguido um passe de estudante, na Viação Garcia, me permitindo realizar essas viagens diárias gratuitamente. No natal ganhei uma bicicleta de presente, que era um meio transporte de casa à rodoviária. Ficava guardada na sala de espera da rodoviária esperando-me para voltar para casa. Foi uma aventura e um desafio muito interessante, tanto as viagens, os colegas e as aulas, sobretudo decorar as declinações em latim para a prova do professor Olímpio e fazer chinelos com bucha vegetal nas aulas de trabalhos manuais com a professora Ilze.
No final do ano de 1959 papai ficou doente e foi levado às pressas de avião para São Paulo. Mamãe e tio Homero foram com ele e nós ficamos na casa da Tia Amélia, esposa do Tio Homero. Após uma semana ele não resistiu e partiu para o plano celeste, em 29 de novembro de 1959. Meu mundo caiu e todos nós vivemos momentos muito angustiantes. Mamãe, viúva, com quatro filhos menores; eu era a mais velha com apenas 11 anos. A família aristocrata do papai tentou intervir propondo repartir as crianças na certeza de que a mamãe não conseguiria gerir a situação. Eu, sob a tutela de meus avós, fui enviada para o Colégio São José, um internato para moças, em Jaú, próximo a Brotas. A ideia foi da minha tia Maria Agnes, irmã Francisca Teresa, que pertencia à Congregação de São José, que dirigia o Colégio em Jaú. Mamãe lutou contra os desmandos da família Oliveira Teixeira e conseguiu a guarda de meus três irmãos: Selma com 9 anos, Solange com 7 e Saulinho com 5 anos. Passou a trabalhar para sustentar a casa e os filhos. Felizmente tínhamos um teto para nos abrigar. Num primeiro momento, ela fez a contabilidade da Torrefação Café Paranavaí, que era de propriedade do Tio Homero, Mas como precisava cuidar dos filhos menores, e da casa, resolveu se dedicar à costura. No início costurava apenas para vizinhos e amigos, mas aos poucos a freguesia foi aumentando devido ao seu primoroso trabalho. Atendia as freguesas em casa e tinha proventos para o sustento da família, possibilitando acompanhar a educação dos filhos.
No internato vivi um dos períodos mais conflituosos de minha vida. Tinha perdido meu querido pai, me arrancaram de casa e me colocaram no colégio, uma prisão. Ferida emocionalmente, e revoltada, ainda era preciso conviver com o rigor
imposto pelas irmãs, e com as alterações hormonais da adolescência. O resultado foi uma grande rebeldia. Estava sempre de castigo. Assim cursei a 2ª série do ginásio, e apesar das agruras me destaquei em geografia, sobretudo pela paixão pelos mapas, e pelo desenho, visto que os mesmos eram desenhados no quadro negro, à mão livre. Naquela época tínhamos exames finais escritos e orais obrigatórios para todos os alunos, independente da média. Nos exames orais de geografia eram sorteados os pontos e tínhamos que desenhar o mapa com o respectivo tema solicitado. Era algo muito instigante!
Ao final do ano mamãe foi me buscar, não permitindo que eu ficasse no internato, contrariando o previsto pela família Oliveira Teixeira, que dizia: “Salete ficará no convento e seguirá os estudos para ser freira”. Retornando a Paranavaí dei continuidade ao curso ginasial, cursando a 3ª e 4ª séries no Colégio Estadual de Paranavaí, concluindo o ginásio em 1962. Nessa época, existiam 12 matérias no currículo escolar ginasial, incluindo Latim, Francês, Inglês, Canto, Desenho, Educação física, Trabalhos manuais, Geografia geral, História geral, e OSPB. Lembro com saudades de alguns professores como professora Neusinha, de História, e o professor Carlos Cagnani, de música. Eram motivadores, encantadores. Entretanto, quando cursava a 4ª série ginasial tive duas experiências angustiantes e apavorantes que, contraditoriamente, me motivaram a seguir a carreira do magistério. Numa aula de Português a professora Elza apresentou minha redação toda marcada em vermelho e, ao invés de me entregar, amassou e jogou no lixo, desconsiderando totalmente o meu trabalho, causando constrangimento perante os colegas de sala. Outra situação chocante ocorreu na aula de matemática. Quando adentramos à sala o quadro negro estava todo preenchido com letras, números e outros símbolos, despertando minha curiosidade... o que seria aquilo? Questionei o professor Gilberto: o que fazem os números junto com as letras? E onde vamos utilizar isso em nossa vida? A resposta foi imediata...“Fora da sala de aula aluna inconveniente”! Fui penalizada com a suspensão das aulas por três dias e mamãe foi convocada a ir ao colégio assinar uma advertência pelo comportamento desrespeitoso da filha. Foram situações horríveis que me marcaram profundamente. Eu não concebia que numa escola onde se interage com o conhecimento, que deveria ser prazeroso, fosse castigada e penalizada pela relação entre acertos e erros e pela curiosidade própria da idade. Foram situações que me levaram a desafiar a mim mesma. Iria seguir a carreira do magistério, pois precisava praticar algo totalmente diferente: estabelecer uma relação respeitosa com os alunos ao mediar o conhecimento.
Nessa fase da vida mamãe se dividia entre as costuras, as lides domésticas e a educação dos filhos. Os cadernos eram todos encapados com papel impermeável colorido e o nome das disciplinas desenhado com letras góticas, em nanquim, ilustrados com lindas alegorias. Tudo com muito capricho e esmero. Nossos uniformes escolares também eram impecáveis. Como mamãe costurava para as proprietárias da Livraria Santa Helena, ficava mais fácil adquirir os materiais escolares para os filhos, permutando com costura. Nessa ocasião, mamãe adquiriu a duras penas uma Enciclopédia Delta Larousse, com 15 volumes e uma coleção de Dicionários Caldas Aulete, para subsidiar o estudo dos filhos e a elaboração dos trabalhos escolares. Solicitou ao Sr. David, marceneiro, uma prateleira para colocar essas preciosidades, a qual foi colocada na sala de casa, em destaque. Mamãe sempre achava um tempinho entre os afazeres para ler um trecho dos livros. Chegou a ler todos os volumes da enciclopédia.
Ao concluir o Curso ginasial a próxima fase era o segundo grau ou colegial. Na época, havia quatro opções: cursar o clássico, científico, contabilidade ou magistério. Num primeiro momento pensei em cursar o científico para me preparar para curso de biologia, mas a vontade de ser professora foi mais forte. Dessa forma, me inscrevi no exame seletivo para ingressar na Escola Normal Colegial Leonel Franca. Fui aprovada e cursei os três anos de magistério com orgulho e satisfação. Ser “normalista” era um privilégio! Na época, os professores eram valorizados e respeitados. O curso foi interessante e os estágios com os alunos da Escola de Aplicação apontavam novas perspectivas. Nas aulas de filosofia o professor Elpídio nos apresentou o “Pequeno Príncipe”, relacionando o conteúdo da disciplina com a obra. Foi algo que jamais esqueci, principalmente a fala da raposa: “tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas”. As aulas de psicologia, ministradas por D. Graça, nos faziam compreender intuição, percepção, ego, superego e Id. Além de aulas interessantes, tinha um grupo de amigas muito solidárias, sobretudo a Toninha, Meire, Livinha, Loris, Marfisa e Eliete. Ainda hoje tenho contato com esse grupo nas redes sociais. Foi um curso libertador! Mamãe também ficou feliz por eu cursar o magistério, uma realização pessoal, visto que almejava ser professora, mas as adversidades não permitiram. Concluí o curso do magistério em 1965, cujo diploma foi motivo de orgulho. Recebi o diploma das mãos de meu sogro Josias Soares de Lima, que considerava um pai.
Novo ciclo se fechou. Era preciso pensar em ingressar numa faculdade. Em princípio, tinha interesse em cursar Agronomia, paixão antiga pela natureza e especialmente pela terra. Mas, naquela época, dificilmente uma moça saía para morar e estudar fora de casa e o curso almejado era a Escola de Agronomia Luiz de Queiroz, de Piracicaba - SP. Foi um sonho, que não era viável por motivos econômicos, sociais e culturais.
Em 1966, com grande alarde pela classe política da época, foi inaugurada a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Paranavaí. Oferecia os cursos de Pedagogia, Letras, Ciências e Geografia. A escolha entre os cursos oferecidos ficou com a Geografia pela correlação com a terra, astros e mapas, que me fascinavam. Era necessário enfrentar o cursinho e novo vestibular, o que aconteceu durante o ano de 1966. Fui aprovada no exame vestibular e ingressei, em 1967, na 2ª turma de geografia da FAFIPA.
Este ano foi emblemático. Ingressei no ensino superior, me casei em 23 de setembro e iniciei minha carreira profissional com a aprovação em concurso para professores nas séries iniciais, no Estado do Paraná: Professora Efetiva Estadual Símbolo MN-1, Nível 12 - 13/03/1967. Inicia uma nova fase da minha vida, com novos desafios. A minha primeira turma de alunos foi uma primeira série A, onde atuei como alfabetizadora, tendo como base a Cartilha Caminho Suave, na Escola de Aplicação da Escola Normal Colegial Leonel Franca, que funcionava na Rua Rio Grande do Norte, o mesmo prédio que era ocupado pela Escola Normal e pela FAFIPA.
No primeiro ano do curso de geografia na FAFIPA me encantavam as aulas do professor Jesus nos apresentando uma Biogeografia “viva”, genial! A Geografia Física, ministrada pelo controverso professor Niéce, era desafiadora e consistia basicamente em Astronomia. Em 1968 cursei o 2º ano da faculdade, juntamente com a gravidez de minha primeira filha, Alexandra, que veio ao mundo em 17/11/68. Felizmente ela era uma criança saudável e eu consegui aprovação em todas as disciplinas. Em 1969 cursei o 3º ano e contei com a ajuda da minha família para cuidar de minha filha. Posteriormente, apareceu um anjo em nossas vidas, D. Chiquinha, que passou a morar em casa e ajudar a cuidar de minha filha e da casa, permitindo que me dedicasse aos estudos e às aulas de uma nova turma na Escola de Aplicação. O Último ano da faculdade também foi conturbado, tendo que conciliar meus estudos com a segunda gravidez, de Larissa, que era aguardada para janeiro. Antecipou-se, após uma queda, chegando em nossa família em 17/12/1970, prematura e com problemas de saúde.
A FAFIPA, como uma faculdade recém-criada, não contava com boa estrutura. Era essencialmente “aulista”, deficiente em biblioteca e laboratórios. Durante os quatro anos do curso de graduação não houve sequer uma aula de campo. Entretanto, nos reuníamos no Diretório Acadêmico Tristão de Ataíde para discutir as questões internas da faculdade, assim como o contexto social e político vigente no momento. Apesar das agruras, fiz ótimos amigos neste período como a Ivone, Maria Maris, Osvaldo, Alcides e José Maria. A formatura da Faculdade ocorreu em 1971.
Com o curso de Licenciatura em geografia concluído foi possível intensificar o trabalho docente de 1ª a 4ª série, no período vespertino, pelo padrão do Estado; e, no período matutino ou noturno, as aulas extraordinárias (5ª a 8ª) de desenho, EMC e Geografia. Foi um momento de grande aprendizado e parcerias.
E, neste contexto, em 1972, durante o período de repressão, discutindo a inexistência de democracia no país nas aulas que ministrava de Educação Moral e Cívica, fui advertida pelo diretor, o qual tinha escuta em sua sala. No ano seguinte, fui enquadrada no AI-5 (1) e não me foram atribuídas aulas extraordinárias. O primeiro Padrão, referente à 1ª a 4ª séries, em 1971 foi colocado à disposição da secretaria do Colégio Estadual de Paranavaí e, posteriormente, realocado na secretaria da Escola Estadual Adélia Rossi Arnaldi, EPG, no distrito de Sumaré, onde residi e trabalhei no período de 5/3/1971 a 19/11/1976. Nesse interstício, tive mais uma gravidez, e, em 08/07/1974, a família é agraciada com a chegada de Igor, “o caçulinha”.
Esse período exigia mais dedicação e atenção com a fase de infância das crianças, o que só foi possível conciliar pela inestimável ajuda de Tia Chiquinha (Francisca Luiza Moreira), que morava conosco e era a 2ª mãe das crianças, enquanto eu e o pai trabalhávamos arduamente. Voltamos a residir em Paranavaí, agora na casa onde vivi desde a infância, pois mamãe mudou-se para Curitiba com meus irmãos Saulo, Solange e o sobrinho Christian.
Então, retomei as aulas de 1ª a 4ª série, agora na Escola Leonel Franca, EPG, atuando até 1978. Foi uma fase em que a maior preocupação era o currículo escolar a ser trabalhado, pois os conteúdos eram fragmentados e distantes da realidade, precisando muitas vezes ser readequados mesmo sem a aprovação da coordenação. Eu priorizava as aulas fora da sala, promover competições, exposições, entrevistas e nada disso era visto com bons olhos pela coordenação e direção da escola.
Por ser uma pessoa contestadora, fui eleita, pelos professores, em 10/05/1979, diretora da Escola e estive no cargo até 14/05/1981. Foi uma experiência complexa gerir pessoas e lidar com os meandros do poder. Um grande desafio! Não foi uma experiência agradável, pela falta de responsabilidade de alguns, bajulação de outros, enfim, o jogo do poder.
No ano de 1980 participei do concurso para professores licenciados do Estado do Paraná e fui aprovada como Professora Efetiva Estadual MPP - 103 Classe “C” nível 3 – disciplina Estudos Sociais.
Ao escolher vaga tive minha lotação fixada na Escola Unidade Polo de Paranavaí, onde trabalhei apenas um ano, por não me adaptar com alunos filhos de pais abastados, desrespeitosos e sem limites. Pedi transferência para a Escola Estadual Enira de Moraes Ribeiro, EPG. Esta escola, localizada num bairro periférico, tinha uma comunidade escolar ávida pelo saber, o que me possibilitou desenvolver um trabalho bem mais gratificante.
Nesta escola, exerci o cargo de vice diretora no período de 07/10/1983 a 02/07/1984, quando fui convidada a assumir a Coordenação da Área de Ensino de Geografia no Núcleo Regional de Educação de Paranavaí.
De 1971 a 1982 a geografia foi suprimida dos currículos escolares, sendo substituída por Estudos Sociais, abrangendo História e Geografia. Os professores das áreas de geografia e história estavam muito descontentes. Organizou-se, então, um grande movimento nacional liderado pala AGB e professores dessas áreas foram em caravanas até Brasília, reivindicando a abertura da área e que a Geografia voltasse aos currículos escolares. Depois de muita luta conseguimos nosso intento desmembrando a área de Estudos Sociais e a Geografia retorna à grade curricular, com autonomia.
A minha trajetória profissional na educação iniciou com a vigência da Lei 4024/61, passou pela Lei 5692/71 e finalizou com a Lei 7044/82.
Em 1984 vivemos momentos de grande euforia na educação paranaense. Foram elaboradas propostas de modificações pedagógicas e a criação dos 22 núcleos de Educação, em todo o território paranaense.
Grande debate educacional foi deflagrado, através dos Seminários “Políticas da SEED”, com a participação de todos os educadores. Nesse momento passei a integrar a equipe de Ensino do Núcleo Regional de Educação de Paranavaí, atuando na coordenação dos professores de geografia dos 28 municípios a ele jurisdicionados.
O trabalho com os professores de geografia foi uma das realizações mais interessantes de minha vida profissional, com a organização de vários Seminários e grupos de estudo. Foi possível, ainda, a realização de um Curso de Aperfeiçoamento em geografia para professores de 1º e 2º graus, em três polos: Nova Esperança, Paranavaí e Nova Londrina. O curso, de 120 horas, foi organizado para atender a demanda dos 260 professores do NRE, durante o ano de 1988.
O Curso foi estruturado em três etapas, com sete minicursos de 16 a 24 horas, ministrados por docentes convidados da UEM e da FAFIPA, cujas temáticas foram: Enfocando Fundamentos da geografia, Estudo do meio, Noção de espaço e tempo, Geografia do Paraná, Quantificação em geografia, Noções de cartografia e Metodologia de ensino de geografia. Posteriormente, este curso se constituiu na pesquisa empírica da minha Dissertação de Mestrado.
Paralelamente à realização de atividades pedagógicas junto aos professores de Geografia, em 28/09/1988 houve RDT, a qual possibilitou a junção dos 2 padrões, em apenas um: como Professora Efetiva Estadual PQ-0585, RDT- 40 horas, o que foi uma grande conquista profissional.
Durante sete anos, de 1984 a 1991, desenvolvi atividades na coordenação da área de Geografia no NRE de Paranavaí. Nesse período ingressei como docente no 3º grau, intensificando minha formação profissional em Geografia, com a participação em dois cursos de Especialização, aprovação em concurso na UEM, ingresso no Mestrado em Geografia na FFLCH/USP, o que abordarei com detalhes no próximo tópico. Em 1991 completei 25 anos de serviço no magistério Público paranaense e solicitei a aposentadoria, o que aconteceu oficialmente em 30/04/1991.
A SAGA DA PÓS-GRADUAÇÃO
A década de 80 representou um divisor de águas em minha vida profissional, com novas perspectivas, novos e instigantes horizontes. Em 1982 ocorreu o convite para substituir o professor Vicente na disciplina de Geografia Econômica na FAFIPA. Foi algo inusitado visto que eu não tinha intenção de atuar na docência do terceiro grau. Mas, enfim, decidi aceitar o desafio. A experiência foi árdua e provocativa, tive que estudar muito e me reinventar, pois entre os alunos existiam bancários, empresários e profissionais com diversas formações. Senti necessidade de continuar os estudos. Foi quando surgiu a oportunidade de um curso de Especialização em Geografia Humana, na PUC (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), em Belo Horizonte. Os cursos eram oferecidos em módulos de 15 dias, durante as férias (julho e Janeiro), com duração de 360 horas, no período de 1884 a 1986. A proposta foi irrecusável, pois os cursos eram oferecidos gratuitamente a professores que quisessem se capacitar. Assim, eu e mais quatro colegas de áreas distintas aceitamos o desafio. Formamos um grupo contemplando as áreas de Matemática (Mirian), História (Helena), Psicologia (Ana), Ciências (Rosinha) e Geografia (Salete).
O curso foi muito interessante, tanto pelo conteúdo como pela capacidade dos docentes e a parceria de colegas provenientes de vários estados do Brasil. Dentre os docentes destaco os professores Oswaldo Bueno Amorim Filho, Janine Le Sann, Lucy Philadelpho Marion e João Francisco de Abreu. Ao ministrar Geografia Urbana, o professor Oswaldo me possibilitou participar pela primeira vez de uma aula de campo, na cidade de Itaúna. Ele também ministrou a disciplina de Geografia Política encantando a todos com seu incrível conhecimento e didática. Nas aulas de Cartografia, Janine Le Sann nos apresentou a Semiologia Gráfica de Bertin. As aulas da professora Lucy Marion, em Geografia Social e Percepção Ambiental, também deixaram saudades, pois me permitiram entrar em contato com uma geografia que eu desconhecia até o momento. Em janeiro de 1986 conclui o curso, com êxito.
Assim, no período de 1982 a 1986 atuei como docente na FAFIPA, ministrando aulas nas disciplinas de Geografia Econômica, Geografia Humana e Regional. O esforço em fazer o melhor trabalho foi reconhecido pelos alunos, sendo homenageada, em 1984, como paraninfa, juntamente com professor Emílio Eugênio Niéce (patrono).
Ainda cursando a especialização em
Belo Horizonte, e atuando na coordenação dos professores de geografia do NRE de Paranavaí, me senti provocada pela falta de conhecimento sobre a Geografia do Estado do Paraná, pois esse conhecimento não constou no currículo do Curso de Geografia da FAFIPA, ficando uma lacuna. Os professores, em geral, também tinham grande interesse em conhecer melhor a geografia do Estado. Dessa forma, em março de 1985, a Universidade Estadual de Maringá ofereceu um Curso de Especialização em Geografia Física do Paraná, com duração de 450 horas. Prosseguindo a saga em busca de preencher as lacunas em minha formação, eu me inscrevi. Com muito sacrifício conciliei as atividades profissionais e familiares percorrendo, com frequência, os 70 km entre Paranavaí a Maringá para assistir as aulas e desenvolver as atividades que o curso exigia.
O curso era composto pelas disciplinas: Cartografia Aplicada e Geografia Física, Climatologia do Paraná, Metodologia e Técnicas de Pesquisa, Geologia do Paraná, Solos do Paraná, Geomorfologia do Paraná, Biogeografia do Paraná, Trabalho de campo I, Trabalho de campo II, Metodologia do Ensino Superior, Teorias de Regionalização em Geografia Física e a elaboração da Monografia. As aulas corresponderam às expectativas, proporcionando um grande aprendizado e muitas descobertas. O ponto alto do curso foram as aulas de campo: a primeira, em âmbito regional, na área circundante a Maringá; e, a segunda, um campo integrado com todos os professores numa viagem de 10 dias pelo estado do Paraná.
professores numa viagem de 10 dias pelo estado do Paraná.
Nessa viagem de campo aconteceu a integração entre os conhecimentos anteriormente abordados, com a participação conjunta dos professores, nos permitindo adentrar numa seara inimaginável.
Os professores Sergio e Issa iniciavam com a Geologia, Giacomini com a Climatologia e a Geomorfologia, Paulo com os Solos, Maria Eugênia com a Biogeografia e Marcos com as Orientações Cartográficas. Pudemos confirmar que “a geografia se faz com os pés”. Fomos muito além dos ensinamentos dos livros, algo que ficou marcado em minha vida. Como a monografia era obrigatória, escolhi como orientador o professor Paulo Nakashima, que ministrava a disciplina de Solos. A antiga paixão pelos solos aflorou novamente e optei por desenvolver a pesquisa: “Dinâmica de ocupação e uso do solo no vale do Ribeirão Suruquá, em Paraíso do Norte - PR”.
A pesquisa teve por objetivo desenvolver estudo sobre uma área delimitada no município de Paraíso do Norte de latossolo roxo, com a aplicação da metodologia de André Journaux, fundamentada na elaboração da Carta da Dinâmica ambiental, que possibilitava realizar a análise da qualidade do solo enfatizando sua conservação e a necessidade de equilíbrio ecológico entre os elementos existentes na área.
A capa da monografia foi uma criação do colega e amigo Roberto Pereira da Silva, geógrafo e destacado artista paranavaiense, propiciando um toque artístico. A representação reflete a ocupação da área, a espacialização e o desenvolvimento da pesquisa. O curso foi concluído em janeiro de 1988, com a defesa da monografia.
Devido ao meu envolvimento na Universidade Estadual de Maringá fui convidada a me inscrever no concurso para professores, sendo aprovada como Professora auxiliar II T-9, em 8/3/1987. Na ocasião não pude ser contratada com T-40 por ainda atuar no NRE de Paranavaí.
Entretanto, com a aposentadoria em 1991, pude intensificar minha carga horária como docente na UEM, transferindo a residência para Maringá, juntamente com a família. Neste período, fui docente de várias disciplinas como Geomorfologia Ambiental, Cartografia, Geografia Regional e Geografia do Paraná. Desta forma, tive oportunidade de desenvolver diversos trabalhos com os alunos, aplicando os conhecimentos adquiridos nos cursos de especialização anteriormente desenvolvidos.
A docência na UEM foi muito marcante. Houve momentos mágicos em que se pode construir o conhecimento de maneira compartilhada e interessante, sobretudo na sala de aula. Entretanto, a parte institucional dessa relação com os colegas, a maioria com maior titulação (mestres e doutores), foi conflituosa desde o início, quando ainda não tinha ampliado a carga horária para 40 horas. Por exemplo: numa das reuniões do Departamento foi apresentado o Projeto Porto Rico, com possibilidade de ampliar o grupo de pesquisa e eu demonstrei interesse em participar. A reação dos coordenadores foi imediata, questionando sobre minha titulação... “qual é a sua titulação para pretender integrar este projeto”? Foi uma situação conflituosa, pois eu não tinha a titulação necessária. Naquela mesma semana, quando fui a uma reunião na Secretaria de Educação em Curitiba, decidi ir a São Paulo me inscrever no mestrado, na melhor universidade do país na época, a USP. Ao chegar ao prédio do Departamento de Geografia da USP me senti perdida num imenso universo, totalmente desconhecido.
Ao pé da rampa do prédio avistei o professor Gil Sodero de Toledo, o qual já conhecia de Eventos para formação de professores de Geografia. Consegui acalmar meu coração quando ele me convidou para conversarmos em seu gabinete. Expliquei a ele a minha intenção em fazer o Mestrado e a situação vivida junto aos colegas na UEM. A acolhida do professor Gil foi providencial, me encaminhando à secretaria para fazer a inscrição no mestrado e me orientando sobre os quesitos necessários. Assim, retornei a Maringá e elaborei o projeto para apresentar na seleção, tendo por base a experiência como coordenadora de Geografia no NRE de Paranavaí. O projeto teve como título: “O Processo de capacitação docente e o ensino de geografia: angústias e reflexões”. Felizmente, fui aprovada e iniciei os créditos em 1989, viajando toda semana para São Paulo, não esquecendo de que nessa ocasião ainda estava trabalhando no NRE em Paranavaí e ministrando algumas aulas na UEM. Foi uma loucura, sobretudo porque não tinha bolsa da Capes, devido ao vínculo empregatício. Assim, era preciso arcar com o custo de passagens e alimentação semanais. Saía de Paranavaí toda terça feira, às 22:00 horas, pela Viação Garcia e chegava em São Paulo às 6:30 horas. Mal dava para tomar um café, pois as aulas iniciavam às 8:00 horas. Participava das aulas pela manhã e à tarde e retornava às 22:00 horas, chegando em Paranavaí às 6:30 horas, para iniciar minha jornada no NRE às 8:00 horas. O desgaste físico e emocional era intenso, pois houve momentos em que precisei costurar para as vizinhas para conseguir comprar as passagens e algumas vezes tive a incompreensão da chefia do NRE, descontando faltas em meu salário, “uma pedra em meu caminho”.
Ao iniciar os créditos para o curso de Mestrado, novos desafios. A primeira disciplina do primeiro semestre de 1989 foi Teoria e Pesquisa em Geomorfologia (posições teóricas e técnicas de pesquisa em geomorfologia), ministrada pelo professor Adilson Avanci, sendo a bibliografia básica em língua inglesa, que eu não dominava(2). A ajuda de mamãe neste momento foi imprescindível, traduzindo o livro base do curso. No segundo semestre de 1989 cursei três disciplinas: Análise Ambiental Urbana e Sensoriamento Remoto, com a professora Magda Lombardi; A Cartografia como meio de comunicação - implicações no ensino de Geografia 1º e 2º graus, com a professora Maria Elena Simielli; e, Análise espacial, regionalização sistemática em Geografia Física - O processo climático e suas interações, ministrada por meu orientador, o professor Gil Sodero de Toledo. Embora os cursos de Especialização tivessem acrescentado muito em minha formação geográfica, os conhecimentos obtidos nesses cursos na USP foram provocativos e de grande aprendizado, mesmo com concentração em Geografia Física, enquanto minha pesquisa era em Ensino de Geografia. O seminário final do curso de Análise Ambiental foi apresentado no mirante do Parque Estadual da Cantareira, uma experiência sensacional.
No 1º semestre de 1990 cursei Construção do Espaço e Política - subsídios para uma renovação da Geografia Política, com docência do professor Willian Vesentini; e o Construtivismo no Ensino das Ciências, na Faculdade de Educação da USP, sendo docente a professora Nidia Pontuska. Assim, completei os 40 créditos obrigatórios e passei a me dedicar à elaboração da dissertação, me qualificando em 29/06/1992. Terminei os créditos em 1990 e no ano seguinte consegui a aposentadoria na SEED/Paraná, transferindo minha residência para Maringá. Na década de 1990 o curso de mestrado ainda era realizado em quatro anos: cursei os créditos no período de 1989 a 1993 e defendi a dissertação em 18/05/1994, com o título: O processo de capacitação docente e o ensino de geografia: angústias e reflexões”.
Em 1993 acontece uma nova ruptura em minha vida pessoal, o divórcio, após 25 anos de união, época em que Igor, meu filho caçula, é aprovado no vestibular da PUC –PR, para cursar Engenharia da computação. Mudou-se para Curitiba onde a Larissa já estava trabalhando e residindo. Foi um momento traumático! Assim, solicitei ao colegiado de curso da UEM ficar à disposição do CIMEPAR, em Curitiba, por dois anos, com o intuito de amenizar a situação. Mas para a minha surpresa o pedido foi negado e tive que tomar uma decisão drástica: assinar minha carta de demissão. Meu desligamento da UEM se consolidou com a Portaria 1950/93.
O que restou da separação foi um carro Fiat 147, onde coloquei os meus pertences e rumei para a casa de meus filhos em Curitiba. Apenas com o salário da aposentadoria da SEED/PR não era possível reorganizar a vida. Precisava trabalhar. Comecei a distribuir currículos em colégios de ensino fundamental e médio. A mão divina me ajudou! Recebi um telefonema da secretaria do grupo Positivo me convidando para realizar uma entrevista. Fiquei surpresa, pois não havia entregue currículo no Positivo. Compareci ao local na hora marcada e fui entrevistada pela professora Cristina, coordenadora do novo projeto da Distribuidora Positivo que visava capacitar professores das escolas conveniadas Positivo, em todo o país. No contexto da entrevista soube que a minha indicação tinha sido de um anjo dos céus, a professora Marcia Cruz, que conhecia meu trabalho com a capacitação de professores e soube que eu estava em Curitiba à procura de trabalho. A entrevista ocorreu na 6ª feira e eu iniciei o processo de treinamento com o grupo selecionado na 2ª feira seguinte. Era um grupo composto por profissionais de diferentes áreas do conhecimento: Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês e Artes.
Fui contratada como Coordenadora Pedagógica de Geografia, na Distribuidora Positivo, em 16/06/1993. Essa oportunidade profissional correspondeu a uma pós-graduação, com novos aprendizados, aliados a excelente salário. Passei a conhecer o Brasil todo, visto que existiam escolas conveniadas Positivo nas principais cidades do país. Das capitais brasileiras, apenas não conheci Boa Vista e João Pessoa. A equipe de trabalho era composta por um grupo solidário e fraterno, pois ficávamos mais tempo trabalhando juntos do que com nossos familiares.
A partilha de conhecimento foi intensa, tanto entre os integrantes do grupo como com os professores das escolas visitadas. Foi um trabalho muito gratificante pelo interesse dos professores em compartilhar conhecimento. Encontrei trabalhos belíssimos desenvolvidos por grupos solitários, em áreas distantes, como no Acre, onde os próprios professores escreveram um livro, “Geografia do Acre”, para utilizar em suas aulas, formando um grupo de estudos entre eles, em local apropriado, com muitos materiais didáticos que todos podiam usar em suas atividades, algo que almejava quando ainda estava no NRE, em Paranavaí.
Já atuava na Distribuidora Positivo quando defendi o mestrado em 18/05/1994 e fui homenageada pelos colegas com uma festa surpresa. Na ocasião, a primeira integrante do grupo a defender um mestrado, algo muito significativo para todos. Essa titulação me garantiu alguns privilégios. Um deles foi acrescentar nos cursos oferecidos aos professores elementos de Epistemologia da Geografia para que pudessem entender melhor o material do Positivo, que era eclético, mesclando várias orientações teórico-metodológicas, sobretudo por ser escrito por várias pessoas, com convicções diferenciadas. Isso tornou os professores mais críticos e passaram a exigir mais, questionando o conteúdo e as atividades que eram apresentados nas apostilas do Positivo.
Neste sentido, ministramos inúmeros cursos para professores em todo o Brasil, de 1993 a março de 1995. Em 1993/1994 ministramos cursos para professores de 5ª a 8ª séries das escolas conveniadas positivo, nas seguintes localidades: Criciúma, São José, Tubarão e Florianópolis (SC); Cuiabá, Tangará da Serra e Rondonópolis (MT); Campo Grande (MS); Brasília (DF); Curitiba, Londrina, Pato Branco e Apucarana (PR); Canoas e Esteio (RS); Rio de Janeiro (RJ); Salvador (BA); Recife (PE); Mossoró (RN); Belém (PA); Manaus (AM); Rio Branco (AC); Porto Velho e Ji-paraná (RO); Anápolis (GO); Belo Horizonte (MG); Vitoria (ES); Campinas, Araçatuba e Agudos (SP); São Luiz (MA); Macapá (AP) e, Gurupi (TO).
Em 1995, fizemos capacitação em geografia para professores de 1ª a 4ª série e seminários de avaliação, nas seguintes localidades: Várzea Grande, Sinop e Barra do Garça (MT); Brasília (DF);Campo Grande (MS); Jundiaí, Lins e Avaré (SP); Uberlândia, Pouso Alegre e Belo Horizonte (MG); Carazinho, Canoas e Bajé (RS); Vitória e Guarapari (ES); Salvador, Teixeira de Freitas e Jacobina (BA); Aracajú (SE); Maceió (AL); Goiânia e Caldas Novas (GO); Rio de Janeiro (RJ); Manaus (AM); Belém, Bragança e Altamira (PA); São Luiz (MA); Mossoró (RN); Recife (PE); Ji-paraná (RO); Rio Branco (AC); Tubarão e Lages (SC); Crato (CE); Floriano (PI); e, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins (TO).
Nesta oficina foram construídas maquetes de Caldas Novas e apresentadas como alternativas didáticas ao ensino de Geografia.
Nesses três anos viajando foi possível desenvolver muitos trabalhos interessantes e inovadores, rompendo com o trabalho pré-definido apresentado pelas apostilas, ou seja, ministramos cursos que propiciassem “ir além da apostila e desenvolver uma geografia mais viva e interessante”. Entretanto, embora motivador e instigante, este trabalho foi cansativo e rompia com os vínculos familiares: nas datas importantes sempre estávamos fora de casa, em viagem. A família eram os colegas de viagem.
Em dezembro de 1995, quando cheguei em Curitiba, soube que haveria no final de 1996 um concurso em Geografia Humana, para docentes, no Departamento de Geografia da UFPR. Ao refletir sobre a situação resolvi me inscrever, embora minha formação básica fosse na área de Geografia Física. Apesar de ainda estar vinculada ao Positivo, com a aprovação no concurso teria que fazer uma escolha. Optei pela Universidade. Enfim, voltaria a ser docente em uma universidade pública! Fui contratada como Professora Assistente-I DE, da Universidade Federal do Paraná-PR, pela portaria n. 6678 de 7/2/ 96. No início foi difícil, pois o salário do Positivo era muito maior do que o da UFPR, mas me adaptei às novas condições, pois foi uma escolha bem consciente.
Na UFPR iniciei com a docência das disciplinas Geografia Humana e Fundamentos da Geografia e, posteriormente, Geografia Regional e Percepção em Geografia. Não foi fácil enfrentar as disciplinas da área humana, pois, como já disse, minha formação básica era prioritariamente na área de Geografia Física. Alguns colegas questionavam: “Afinal, você é da área Humana ou Física”? Como ingressei na vaga do professor Lineu Bley, que lecionava Percepção em Geografia, me vi na obrigação de dar continuidade a esse legado e tive respaldo dos conhecimentos adquiridos nas aulas de Lucy Marion, na PUC-MG, quando cursei a especialização. Novos desafios....
Devido à minha trajetória e a paixão pelo ensino de geografia reorganizei o LABOGEO (Laboratório de Geografia) e passei a desenvolver projetos como a “Feira Geográfica Itinerante”, que apresentava a Geografia nas escolas de Ensino Fundamental e Médio de Curitiba. Passei a atuar mais detidamente na licenciatura, com um grupo de bolsistas. Atuei como coordenadora do Projeto PROLICEN/LICENCIAR, da Feira Geográfica Itinerante e do Projeto “A geografia do Cotidiano na sala de aula - a construção da Maquete ambiental”, no Colégio Estadual Leôncio Corrêa, EPSG, de março a dezembro de 1996.
Estávamos num período de grande reestruturação curricular norteados pelos pressupostos teóricos/éticos da Lei 9394/96, onde o Ensino Médio é entendido como aprofundamento do Ensino Fundamental, pelo viés metodológico, privilegiando uma abordagem interdisciplinar entre as áreas do conhecimento e os saberes disciplinares do seu aprendizado. Assim, recebi o convite para participar da organização do “Seminário Curricular para o Ensino Médio - Perspectivas da Implantação”, que ocorreu em Faxinal do Céu (Centro de Treinamento de Professores da SEED), no período de 19 a 23/10/1998 (3). Neste seminário aconteceram Oficinas, Mesas Redondas e Palestras, visando a interdisciplinaridade entre as três áreas: Ciências Humanas e suas tecnologias, Linguagens Códigos e suas tecnologias e Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Cerca de 1200 professores de todo o estado do Paraná estiveram presentes. A Equipe de trabalho foi composta pelos professores: Salete Kozel (Geografia), Jairo Marçal (Filosofia), Rubens Tavares (História) e Wanirley Pedroso Guelfi (Sociologia).
O Projeto “A Geografia do Cotidiano na sala de aula - a construção da Maquete ambiental” também teve desdobramentos em 2002. A convite da UNILIVRE (Universidade Livre do Meio Ambiente) e da SEED-PR integrei uma equipe de professores para organizar o Curso “Capacitação em Mapas e Maquetes: os diferentes olhares para as representações do Espaço paranaense”, destinado a professores de Geografia e História da rede estadual paranaense. O objetivo era fazer uma reflexão sobre as representações histórico-geográficas no estado do Paraná, por meio da construção e utilização de mapas e maquetes e sua implantação como material pedagógico. Vários materiais e textos foram elaborados, cujas dinâmicas foram apresentadas pelas seguintes atividades: Entre o real e o imaginário, Do simbólico ao real, Do bidimensional ao tridimensional, Trilhas e rumos, O espaço virtual, O olhar dos viajantes, Ações e reações - o espaço dinâmico. Participaram destas oficinas 1500 professores, em 3 grupos de 500. A equipe foi composta pelos professores Elton Luiz Barz e Ione Moro Cury (História), Leny Mary Góes Toniolo (Educação Ambiental), Mário Cezar Lopes (Geografia), Nilson Cesar Fraga (Geografia), Rubens Tavares (História), Salete Kozel Teixeira (Geografia), e os oficineiros Hugo Moura Tavares (História), Marcia Cruz (geografia), Marcia M. Fernandes Oliveira (Geografia), Maria Alice Collere (Geografia) e Martin Antonio Boska (Geografia).
Neste momento, o Departamento de Geografia da UFPR estava se organizando para propor a pós-graduação em Geografia. Precisava, portanto, de docentes com maior titulação. Assim, houve o incentivo para que todos fizessem o doutorado. Novamente a necessidade de alçar novos voos. Fiz minha inscrição para a seleção no doutorado na USP, no início de 1997. Com a aprovação, iniciei os créditos em abril de 1997. Apresentei o projeto “Proposta de simbologia Cartográfica aplicada à Educação ambiental e ao ensino de geografia”, tendo a Profa. Maria Elena Simielli como orientadora.
É importante ressaltar que no Doutorado pude, enfim, concretizar meu antigo sonho: “estudar os solos e cursar agronomia na ESALQ de Piracicaba”, o que aconteceu no período de 7 a 19 de julho, referente ao 1º semestre/97, quando cursei a disciplina “Análise Estrutural da Cobertura pedológica”, com docência do professor Alain Ruellan,CNRS-França e a equipe de solos da ESALQ de Piracicaba. Curso concentrado e realizado nas dependências de uma Escola Agrícola em Espírito Santo do Pinhal - SP (10 créditos). Neste curso, os conhecimentos teóricos e empíricos se interconectaram e realizamos em equipe vários trabalhos como “Analise da Cobertura pedológica”, de uma área delimitada previamente. “UMA GRANDE REALIZAÇÃO”!
Como não havia conseguido dispensa das atividades na UFPR, no 2º semestre de 1997 decidi cursar, como ouvinte, uma disciplina no MADE/UFPR, que me despertou grande interesse: Epistemologia da complexidade - tendo como docente a professora Iria Zanoni Gomes. Foi um curso excelente, proporcionando grande reflexão a partir das leituras de Capra, Prigogine e Atlán.
No primeiro semestre de 1998 cursei a disciplina: Visualização da Informação geográfica - Teoria e Técnica, na USP, ministrada pela professora Regina Araújo Almeida. Em julho de 1999 me qualifiquei e me preparei para viajar. Em 1/10/1999 parti para a França com uma Bolsa sanduíche no Laboratoire Espace et Culture - Paris IV Sorbonne - sob a orientação do professor Paul Claval. Fixei residência na Maison Avicene na Cité Universitaire em Paris. Foi um intenso período de desafios, estudos e aprendizados tendo em vista a elaboração da tese. Com as leituras e a orientação do professor Claval houve uma mudança no projeto de pesquisa e os mapas mentais foram o principal aporte para o desenvolvimento da pesquisa empírica.
O período de vigência da bolsa foi de outubro de 1999 a janeiro de 2000. Terminei de escrever a tese e defendi em 23/11/2001, com o título: “Das imagens às linguagens do geográfico: A Curitiba capital ecológica”. Enfim, estava titulada para encarar a vida acadêmica sem restrições.
Um momento de grande realização profissional e emocional, sobretudo para mamãe, que estava muito feliz com a filha doutora pela USP, a maior e mais conceituada universidade do país. Um sonho familiar realizado.
A trajetória relacionada à titulação acadêmica tem mais um capítulo em 2010 (1/8/2010 a 31/12/2010) com o Estágio de Pós-doutorado realizado no LABOTER, na UFG, em Goiânia/GO, sob a supervisão da Profa. Maria Geralda de Almeida, a quem dedico grande apreço e admiração. A pesquisa proposta foi o “Delineamento paradigmático e aprofundamento teórico-metodológico sobre: ‘espaço e representação’ e ‘geografia humanista/cultural’”, que teve por objetivo “Identificar e analisar os ‘paradigmas que sustentam a abordagem Humanista/cultural’ na geografia brasileira contemporânea”.
Os aprendizados foram muitos com a inserção em atividades e projetos realizados no LABOTER, cujo enfoque era basicamente em Geografia Humana. Participei de trabalhos de campo na Comunidade Quilombola dos Kalunga e, em Goiânia, acompanhando pesquisadores que estudavam Folias de Reis e Festejos da padroeira em Moquém, GO. Neste período tive a oportunidade de conhecer e estabelecer parceria com a brilhante pesquisadora italiana Giuliana Andreotti, que na ocasião era professora visitante na UFG. Participamos juntas, com um grupo de alunos, em um trabalho de campo em Brasília, desenvolvendo pesquisa sobre Geografia emocional. Este trabalho gerou a publicação de Andreotti “Brasília, capital de paixões antes que de poder”, publicado na revista Presença Geográfica, UNIR – vol. 03, n.01, 2016. Houve, ainda, o desenvolvimento de cooperação científica e técnica entre as instituições envolvidas, como a realização de atividades previstas nos protocolos de cooperação estabelecidos entre os Departamentos de Geografia das Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal do Paraná. Posteriormente, recebi o convite da professora Giuliana para atuar como professora visitante na Universitá degli Study di Trento - Itália (Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali), o que ocorreu no período de janeiro a 31 de julho de 2011.
COM A CHANCELA DO DOUTORADO A VIDA ACADÊMICA SE INTENSIFICA
Com a defesa do doutorado as atividades na UFPR se intensificam. Além da docência na graduação e na especialização, elaborei um projeto na área ambiental: “Diagnósticos e perspectivas da Educação ambiental na Bacia do Alto Iguaçu e Região Metropolitana”, subprojeto de pesquisa integrada ao projeto: “Apropriação da natureza
FIGURA 26 – Momento da defesa. Professores que compuseram a banca e minha família presente.
e tipologia de paisagens da Região Metropolitana de Curitiba e Bacia do Alto Iguaçu”. Este projeto tinha por objetivo estabelecer um diagnóstico sobre os Projetos de Educação ambiental desenvolvidos nos municípios integrantes da Bacia do Alto Iguaçu e Região Metropolitana.
Como integrante do Projeto PROLICEN/LICENCIAR dei continuidade, no LABOGEO, ao projeto “Feira Geográfica Itinerante”, com a realização de palestras, cursos e feiras, na perspectiva de divulgar o curso de Geografia e estabelecer parcerias com os professores que atuavam nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, e o LABOGEO.
PUBLICAR É PRECISO ...
Logo após concluir o mestrado, em 1991, elaborei o primeiro artigo: “Análise crítica das representações cartográficas nos livros didáticos de 1º e 2º graus”, que foi publicado no Boletim Paulista de Geografia (70), 2º sem. AGB-SP, São Paulo, 1991.
Os ecos de uma intensa trajetória pelas searas do ensino de geografia ainda se faziam presentes com a dissertação defendida recentemente e várias publicações subsequentes.
Em 1996, quando já atuava como docente da UFPR, houve o convite da Editora FTD para escrever um livro de Metodologia para professores de Geografia. A experiência de vários anos trabalhando com a capacitação de professores de Geografia serviu de base para desenvolver essa obra. Convidei o Prof. Roberto Filizola para escrevermos em parceria algo que preenchesse a lacuna percebida na formação dos docentes, em vários cursos que atuamos conjuntamente.
Assim, em novembro de 1996 foi publicado o livro: “Didática de Geografia: Memórias da Terra. O Espaço vivido”, publicado pela Editora FTD, São Paulo-SP, fazendo parte da coleção Metodologias.
No mesmo ano, publiquei na Revista Ra’E Ga – O espaço geográfico em análise (1), Departamento de Geografia da UFPR, o artigo “Subsídios ao conceito espontâneo em localização espacial e o ensino da geografia”. Ressalta-se a importância do entendimento das inter-relações existentes no espaço geográfico, para que as pessoas tenham clareza quanto aos conceitos que envolvem essa compreensão. Nessa perspectiva, propus averiguar como o conceito de "localização espacial" é elaborado por alunos de diferentes faixas etárias, tendo como aporte o Construtivismo Piagetiano. A pesquisa teve por objetivo demonstrar a importância de se conhecer como os conceitos geográficos são construídos e sua implementação no ensino de 1° e 2° graus.
Em 1998, ainda, movida pelo questionamento sobre o papel da Geografia nos currículos escolares elaborei o artigo “Ensinar geografia no terceiro milênio. Como? Por quê?”, publicado na Revista Ra’E Ga – O espaço geográfico em análise. O objetivo foi discutir o conhecimento geográfico nos diferentes momentos históricos, marcado pela dinâmica social, assim como seu reflexo no ensino fundamental, médio e universitário, propondo analogias entre o fazer pedagógico vigente e os diversos paradigmas. A proposta era propiciar a reflexão quanto à importância da geografia para os habitantes do Planeta Terra, no século XXI.
Com o desenvolvimento do projeto “Maquete ambiental” junto aos alunos do Colégio Leôncio Correia, EPSG, em 1999, documentei e apresentei os resultados obtidos no artigo “Produção e reprodução do espaço na escola: o uso da maquete ambiental”, que foi publicado na Revista Paranaense de Geografia. No mesmo ano, em parceria com Amélia Nogueira, foi elaborado o artigo “A geografia das representações e sua aplicação pedagógica: contribuições de uma experiência vivida”, que foi publicado na Revista do Departamento de Geografia (13), da FFLCH - USP.
Nesse período eu tinha concluído os créditos do doutorado e tanto eu como Amélia desenvolvíamos pesquisa relacionada às representações e os mapas mentais, sob a orientação da Profa. Maria Elena Simielli. O objetivo deste artigo era ampliar as discussões a respeito da geografia, que se constroem a partir da apreensão do espaço vivido, ressaltando as percepções e representações do espaço e tendo como pesquisa empírica experiências realizadas com alunos. A partir do debate sobre “mapas mentais”, com o respaldo em vários autores, propusemos uma ampliação do entendimento do conceito de representação e sua importância no cotidiano das pessoas.
Em novembro de 2001, o colega de departamento Francisco Mendonça e eu organizamos o primeiro Colóquio Nacional de Pós-Graduação em Geografia, tendo como temática central “A epistemologia da geografia contemporânea face a sociedade global”. O colóquio teve uma conferência/debate com o Professor Paul Claval e três mesas redondas temáticas: Geografia Crítica, Geografia Ambiental e Geografia Cultural, ramos da geografia brasileira que sobressaíam como importantes correntes do pensamento geográfico brasileiro. Esse evento teve por objetivo fortalecer a pós-graduação que se estruturava no Departamento de Geografia da UFPR. Tive oportunidade de participar das discussões na Mesa redonda sobre Geografia cultural, expondo parte da pesquisa desenvolvida no doutorado sobre as Representações no geográfico.
A preocupação com as representações espaciais sempre esteve presente, tanto no cotidiano dos grupos sociais como nas pesquisas geográficas, sendo posteriormente estruturadas pela cartografia, incorporando aportes linguísticos, da comunicação, cultura, valores, significados e ideologias. O conceito de representação espacial para os geógrafos se estrutura na fusão de várias correntes contemporâneas, incorporando o conceito de representação social oriundo da sociologia da representação ao arcabouço da psicologia social. (4) Esse colóquio gerou o livro: “Elementos de Epistemologia da geografia contemporânea”, publicado pela Editora da Universidade Federal do Paraná, em 2002, com impressão da 2ª edição em 2004.
Ainda decorrente da pesquisa da tese publiquei, em 2005, um capítulo do Livro: “A Aventura cartográfica. Perspectivas, pesquisas e reflexões sobre a cartografia humana”, organizado por Jörn Seemann. O capítulo intitulado “Comunicando e representando: mapas como construções socioculturais” evidencia que uma imagem, ao ser construída ou decodificada, passa por diversos filtros e linguagens e este caminho propicia desvendar os marcos significativos das representações, perpassados pelos aspectos socioculturais.
As pesquisas com viés ambiental se intensificam com os projetos desenvolvidos tanto no LABOGEO “A geografia do cotidiano e a construção da maquete ambiental”, como na docência do curso de Especialização em Ensino de geografia e Educação ambiental, na UFPR e no projeto Banpesq: “Diagnósticos e perspectivas da Educação ambiental na Bacia do Alto Iguaçu e Região metropolitana”. Essas pesquisas geraram alguns artigos como “Educar ‘ambientalmente correto’ desafio ou simulacro para a sociedade consumista do século XXI?”. Neste artigo procurei evidenciar aspectos da crise ambiental e de percepção, o que exige ressignificação das maneiras de apropriação do espaço e das relações sociais ressaltando, ainda, a importância da educação ambiental para além da retórica, em direção a ações transformadoras.
No livro “Geografia, ciência do complexus: ensaios transdisciplinares”, organizado por Aldo Dantas da Silva e Alex Galeno, em 2008, publiquei o artigo: “Das ‘velhas certezas’ à (Re) significação do geográfico”. Neste artigo, refleti sobre a busca e a superação do pensamento dicotômico que separa sociedade e natureza, destacando a importância dos aspectos socioculturais para a compreensão do espaço geográfico, ressaltando a necessidade de compreender os fenômenos em sua inteireza, pois entendemos que os estudos de partes isoladas não nos permitem apreendê-los em sua essência.
Com o incentivo da CAPES/ PROCAD/Amazônia, integrando UNIR e UFPR, foi possível ampliar as parcerias com o Projeto “A Festa do Boi Bumbá em Parintins - AM: Espaço e Representação”, integração que ocorreu no período de 2007 a 2011. Com a inquietação de um grupo de amigos surgiu o ousado e desafiador projeto, cujas questões norteadoras foram: Qual seria o papel do boi na cultura amazônica? Como os festejos relacionados ao boi surgiram e se estruturaram em Parintins, uma ilha situada no rio Amazonas?
O objetivo do projeto foi investigar as representações culturais das comunidades ribeirinhas, ao longo dos rios Amazonas e Madeira, no que tange à festa do Boi Bumbá, bem como identificar o processo de formação das comunidades ribeirinhas a partir de sua história recente e referencial espacial, por meio de discussão teórica e trabalho de campo com equipe interdisciplinar e interinstitucional, visando pesquisar a identidade cultural e sua espacialidade. Para investigar o que se propunha era necessário ir a campo. Assim, o professor Josué, docente da UNIR, organizou e coordenou uma expedição que nos possibilitou ir a campo. Um barco recreio, típico dos meios fluviais amazônicos foi fretado para a viagem de 29 dias, percorrendo os rios Madeira e Amazonas. Partimos de Porto Velho, com destino a Parintins, aportando em alguns núcleos urbanos e comunidades ribeirinhas, investigando as representações culturais ao longo do trajeto, quando vivemos situações que causaram variadas sensações: surpresa, medo, êxtase ou até indignação. A equipe de pesquisa foi uma mescla de graduandos, pós-graduandos e professores/pesquisadores. Os representantes da UNIR foram: Prof. Josué da Costa Silva, Profa. Maria da Graça Nascimento Silva, pós-graduandos Wendell Tales de Lima, Gustavo Abreu e Adnilson de Almeida Silva, além dos graduandos em Geografia, Lindinalva Azevedo de Oliveira e Josimone Batista Martins. Os professores da UFPR foram: Salete Kozel, Sylvio Fausto Gil Filho e Roberto Filizola; os pós-graduandos em Geografia Fernando Rosseto Galego, Ana Helena C. de Freitas Gil; e os graduandos Camila Jorge, Mayara Morokawa e Leandro Bamberg.
Como pesquisadores convidados tivemos a companhia do Prof. Paul Claval, da Paris IV Sorbonne e Benhur Pinós da Costa, da UFAM. Na condução e comando do barco o experiente capitão João, auxiliado por mais 5 tripulantes, entre eles Dimas, um brilhante cozinheiro. Nossa expedição foi empreendida entre 10 de junho e 7 de julho de 2007. Vivemos uma experiência ímpar e inusitada, que relatamos no livro: EXPEDIÇÃO AMAZÔNICA: Desvendando espaço e representações dos festejos em comunidades amazônicas. “A festa do boi-bumbá: Um ato de fé”.
Enfim, “(...) o barco que navegou pelas águas dos rios da Amazônia levando nossos primeiros olhares, nossas emoções, nossos sonhos, nos apresentou uma Amazônia única e pessoal. Sentimo-nos como os primeiros geógrafos a desvendar um mundo novo”. Os resultados das pesquisas foram documentados na publicação acima citada, que veio a lume em 2009. O livro é composto por 11 artigos, organizados em tópicos: Festividades e religiosidade na Amazônia, O brincar de boi em Parintins, Imagens fotográficas da Expedição Amazônica e Múltiplas representações: questão indígena, esporte, educação e saúde. Lembro que todos os artigos foram elaborados pelos integrantes da expedição.
Cabe ressaltar que os mapas mentais foram o eixo norteador da pesquisa que desenvolvemos em parceria com Luciley de Feitosa Souza, em Parintins, com o título: “Parintins, que espaço é esse? Representação espacial sob a ótica do morador e do visitante”. “A pesquisa nos levou a perceber as significações tanto individuais como coletivas que emergem no espaço parintinense. Os mapas mentais como aporte metodológico nos propiciaram refletir sobre os homens históricos e sociais que ao longo de suas vivências e experiências incorporam diferentes vozes, criando um complexo universo de signos, propiciando o Dialogismo”.
A parceria UFPR/UNIR iniciada com o PROCAD Amazônia, foi ampliada entre as duas instituições, em 2011, com a aprovação do DINTER. Com a inquietação em busca das origens das festividades do boi na Amazônia em 2009 fomos a São Luiz no Maranhão, juntamente com Josué e Roberto, integrantes da expedição amazônica, participar dos festejos do Bumba meu boi. Nessa busca, detectamos que a origem da festividade tem o seu embrião no estado do Maranhão. Ouvimos depoimentos de que se brinca de boi nas diversas comunidades maranhenses há mais de 100 anos, se constituindo numa tradição cultural. Com a migração de contingentes nordestinos para a Amazônia, no ciclo da borracha, a tradição relacionada à festa do boi se expandiu para este espaço.
As festividades relacionadas ao boi nos motivaram a aprofundar o tema com o projeto “Espacialidades da Festa do boi no contexto das festividades em território brasileiro” (2012 a 2015), tendo como objetivo investigar o papel do festejo do boi na estruturação do espaço brasileiro, tendo em vista a reflexão sobre a espacialidade e as territorialidades, à luz da Geografia Cultural. Com esse projeto procuramos revelar o que esses festejos possuem em comum. O boi de mamão, por exemplo, é um espetáculo festivo, que consegue colocar nas ruas os problemas da sociedade e, através da música e do humor, criticá-los. Há quem diga que essa brincadeira do litoral paranaense cura todos os males... O boi-bumbá amazônico, por sua vez, incorporou ao mito da morte e ressurreição do boi, ritos indígenas. Nas quentes noites do festival guajaramirense os brincantes compõem tribos que dramatizam nas pistas do bumbódromo rituais que promovem o reviver do boi. Coreografias incorporam mitos e lendas da Amazônia para potencializar os poderes de um pajé. O mesmo pode ser dito em relação aos festejos em São Luís, no Maranhão, e em Santo Antônio de Leverger, no Mato Grosso, onde, igualmente, os costumes sofrem mudanças ao mesmo tempo em que oferecem resistência à exploração imposta pelas relações de poder. Não se trata, portanto, de uma tradição congelada no tempo, mas de um conjunto de práticas integrantes da cultura popular. Neste projeto foram desenvolvidas quatro teses de doutorado: Maísa F. Teixeira (2014), com o tema: As representações espaciais simbólicas e os sentidos do lugar da Festa do Boi à serra em Santo Antonio de Leverger/MT; Luciléa F. Lopes Gonçalves (2016), com o tema: Entre sotaques, brilhos e fitas: tecendo geograficidades por meio dos bois Rama Santa e Maioba; Roberto Filizola (2014), Duelo na Fronteira: entre a dimensão de uma nova espacialidade e a construção de uma identidade de resistência; e, Beatriz Furlanetto (2011), com a tese: Paisagem sonora do boi-de-mamão no litoral paranaense: a face oculta do riso.
A pesquisa “Das imagens às linguagens do geográfico: Curitiba, a Capital ecológica”, defendida como tese de doutorado no Departamento de Geografia da USP – São Paulo, em 2001, teve como objetivo investigar como as pessoas constroem e decodificam signos referentes ao espaço geográfico, tendo como parâmetro o estudo de caso sobre Curitiba, a “Capital ecológica”, cuja estratégia metodológica foi desenvolvida por meio de mapas mentais e turísticos, visto que essas representações podem refletir condutas e atividades cotidianas das pessoas em relação ao ambiente, tornando-se o fio condutor das práticas dos sujeitos num movimento constante de pensar, sentir e agir.
Desde a defesa da tese, o trabalho com mapas mentais foi se consolidando e inúmeras monografias, dissertações e teses se estruturaram, reforçando a validade e a importância desse procedimento metodológico, que recebeu o nome de “Metodologia Kozel”. Essa perspectiva me motivou a publicar a tese, o que aconteceu em 2018, pela Editora da Universidade Federal do Paraná, abrilhantada com o prefácio do estimado Professor Paul Claval, emérito pesquisador da Université Paris IV Sorbonne - França.
A síntese do trabalho de pesquisa e de orientação, com a metodologia que desenvolvi a partir dos Mapas mentais, foi estruturada na obra: “Mapas mentais: Dialogismo e Representação”.
Tive a grata satisfação de ter essa obra prefaciada pelo eminente Professor Oswaldo Bueno Amorim Filho, da PUC/MG. O livro foi organizado em duas partes: a primeira, “Um panorama sobre os Mapas mentais”, onde estruturei teoricamente o tema, enfatizando aspectos importantes de sua aplicação nas pesquisas, sobretudo como diagnóstico e aspectos controversos apontados pela subjetividade inerente. A segunda, “Dando voz aos protagonistas da pesquisa”, é constituída por vinte artigos evidenciando as pesquisas desenvolvidas por meus ex-orientandos, abordando temas variados com a aplicação da metodologia dos mapas mentais, como: Representação e ensino, Educação indígena, Educação ambiental, Percepção e representação da paisagem e do lugar, Representação do turismo e Espacialidades das festas.
Cabe ressaltar, ainda, a importância das parcerias estabelecidas entre a UNIR e a UFPR que, após a realização do PROCAD/Amazônia, com a expedição geográfica, cursos e orientações de teses, tivemos aprovado o DINTER/UNIR/UFPR. Foi um processo de aperfeiçoamento acadêmico, em que 22 professores foram selecionados e dentre eles estiveram sob a minha orientação: Alex Mota dos Santos, Gustavo do Amaral Gurgel, Gustavo Henrique de Abreu Silva e Klondy Lúcia de Oliveira Agra. Após trilhar pelas searas da pesquisa teórica e empírica e vários trabalhos de campo, todos defenderam suas teses. Alex com a tese intitulada: Cartografia dos povos e das terras indígenas de Rondônia (2014); Gustavo Gurgel com Geografia da Re-Existência: Conhecimentos, Saberes e Representações geográficas na Educação Escolar Indígena do Povo Oro Wari - RO (2016); Gustavo Abreu com a tese: A paisagem musical rondoniense: poéticas de uma urbanidade beradera (2016); e, Klondy, com Águas da Amazônia: sentidos, percepções e representações (2015).
Ainda sob esse prisma, vale ressaltar que foram publicados artigos síntese da tese de Gustavo Amaral e de Alex, na obra “Mapas mentais: Dialogismo e Representação”, por desenvolverem procedimentos metodológicos utilizando os mapas mentais; o artigo do Gustavo intitulado: Mapas mentais e as representações geográficas na educação escolar indígena do povo OroWari-RO; e, de Alex Mota dos Santos, O olhar de professores indígenas de Rondônia sobre o lugar. Com a orientação dessas pesquisas tive a oportunidade de participar de vários trabalhos de campo em aldeias indígenas no estado de Rondônia e conhecer uma realidade até então desconhecida. Dessa parceria também decorreu o convite para participar como coautora da obra: Geografia da Re-existência: conhecimento, saberes e representações geográficas na educação escolar indígena do povo OroWari-RO, juntamente com Gustavo Amaral Gurgel, em 2019.
Em 2013, na UFG foi organizada uma publicação em homenagem ao eminente geógrafo Paul Claval: “É geografia é Paul Claval”, Editora FUNAPE/UFG, Goiânia, GO, tendo como organizadores Maria Geralda Almeida e Tadeu Alencar Arrais. Convidada a participar, surge o artigo “Contribuição de Paul Claval à Geografia Brasileira”, escrito em coautoria com Luciley de Feitosa, uma ex-orientanda da UNIR.
Ao pensar a trajetória acadêmica sob o prisma das parcerias e ampliação dos horizontes, emerge a ponta de um grande iceberg: a fundação da rede NEER (Núcleo de Estudos em Espaço e Representação), em 2004, no DGEO/ UFPR. Surge durante um importante Evento da pós-graduação, realizado em Florianópolis, em 2002, no momento em que muitos pesquisadores da ciência geográfica se encontravam inquietos ao perceber que suas pesquisas não se encaixavam nos temas propostos. Observou-se que 66% dos trabalhos apresentados caracterizavam-se na categoria OUTROS, inclusive o meu trabalho. Algo estranho estava acontecendo! Afinal, qual era a proposta dos pesquisadores encaixados em OUTROS? Basicamente questões sociais, culturais, ambientais, e do ponto de vista teórico epistemológico, fundamentados na teoria da representação.
Diante dessa realidade, pensamos em convidar colegas que compunham este grupo para criar um novo espaço, onde fosse possível amplificar e aprofundar o diálogo acerca das pesquisas marcadas pelos fundamentos teóricos e metodológicos ligados à Geografia Social e à Geografia Cultural, e tendo como fio condutor a teoria das representações.
O embrião desse grupo, com ampla vivência nas chamadas geografias marginais, foi formado pelos professores Oswaldo Bueno Amorim Filho (PUC-MG), com experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Urbana, atuando principalmente com cidades médias; e também com Geopolítica, epistemologia da Geografia e Geografia humanista cultural; Sylvio Fausto Gil Filho (UFPR), com atuação em Geografia Cultural, epistemologia da Geografia Humana, Geografia da Religião e Filosofia da Religião; e, Salete Kozel (UFPR), com desempenho em Geografia, Ensino e Representação, Educação ambiental, Estudos de percepção em Geografia, Mapas Mentais, Linguagem e Representação, Geografia e manifestações culturais. (5)
Aproveitando a presença do Prof. Paul Claval, pesquisador da Universidade de Paris IV Sorbonne - Paris, que se encontrava na UFPR participando de atividades acadêmicas, apresentamos, para sua apreciação, nossa proposta de criação do Núcleo de estudos. Tendo seu aval, nos reunimos para o “lançamento da pedra fundamental”, em 19 de outubro de 2004, nas dependências do Departamento de Geografia da UFPR.
O incentivo e o aval do Prof. Paul Claval nos encorajaram a dar prosseguimento à proposta, e estendemos o convite para alguns colegas comporem o grupo, realizando, em 2006, o primeiro Colóquio do NEER, nas instalações da UFPR, em Curitiba.
As primeiras parcerias ocorreram em 2004 e 2005, e envolveram o Prof. Dario de Araújo Lima (FURG), com inserção em Geografia Cultural e Curadoria, destacando produção científica de curadoria e pesca artesanal; Josué da Costa Silva (UNIR), com atuação em Geografia Cultural, Espaço e Representações, Religiosidade Popular, Populações Tradicionais; Maria Geralda Almeida (UFG), com destacada atuação na área de Geografia Cultural, particularmente temas como: Manifestações Culturais, Turismo, Territorialidade e Sertão; Álvaro Luiz Heidrich (UFRGS), com inserção em Geografia Humana, atuando com os temas: Geração e perda de vínculos territoriais, Territorialidades humanas, Identidade e Globalização; Nelson Rego (UFRGS), proveniente da Educação, com atuação em Ensino e Representação, com ênfase em geração de ambiências e instrumentalização para o ensino de Geografia; Icléia Albuquerque de Vargas (UFMS), atuante nas áreas da Geografia e da Educação, principalmente com os temas: Educação Ambiental, Geografia Cultural, Pantanal, Meio Ambiente, Turismo e Percepção Ambiental; Ângelo Serpa (UFBA), atuante nas áreas de Geografia Urbana, Geografia Cultural, Planejamento Urbano e Planejamento Paisagístico; Wolf Dietrich Sahr (UFPR), atuando com Geografia Social e Geografia Cultural; Roberto Filizola (UFPR), voltado ao Ensino e Representação de Geografia e Formação de professores, Fronteira Emocional em espaços escolares, Metodologia do Ensino e Interculturalidade, na perspectiva das geografias emocionais Alexandre M. Diniz (PUC/MG) com experiência na área de Geografia Humana, atuando principalmente com Geografia do Crime e da Violência, Geografia Urbana e Geografia Regional.
Como se pode observar, esse grupo de pesquisadores, embora com formação diversa e atuação distinta, tinham sua inserção nas áreas cultural, social e ambiental, tangenciando planejamento e educação. Nessa perspectiva, o NEER se propôs a ampliar e aprofundar a abordagem cultural na Geografia, focando nos estudos sobre o espaço e suas representações, entendendo as representações como uma ampla mediação, que permite integrar o social e o cultural, além de contemplar a temática do ensino de Geografia. Isso exposto, em novembro de 2006 foi realizado o I Colóquio do NEER (Núcleo de Estudos em Espaço e Representação), na UFPR, em Curitiba.
Com a realização do I Colóquio, o NEER se consolidou como núcleo de estudos e, de acordo com a composição dos quatro eixos temáticos (Epistemologia da Geografia, Representação e Ensino, Geografia da Religião e Territorialidades e suas representações), previamente definidos, ficou estabelecida a participação dos pesquisadores nesses grupos, tendo em vista a apresentação das pesquisas e as parcerias firmadas. Vale recordar que na reunião dos pesquisadores, ocorrida durante esse evento, ficou acordado que o NEER (Núcleo de Estudos em Espaço e Representação) seria uma rede não formal e não hierarquizada, interinstitucional. Uma rede temática que, de fato, possibilitasse a integração de Programas de Pós-graduação e de pesquisadores isolados, assim como núcleos, grupos e projetos de pesquisa. Ficou definida a realização do II Colóquio, em 2007, em Salvador, na UFBA, sob a coordenação do Prof. Dr. Ângelo Serpa, o que de fato se consumou.
Em 2007 foi lançada uma publicação que sintetizou as apresentações dos pesquisadores no I Colóquio Nacional do NEER, ocorrido em 2006, em Curitiba. Trata-se do livro “Da percepção e cognição à representação: reconstruções teóricas da Geografia Cultural e Humanista” - SILVA, J. da C.; GIL FILHO, S. F.; e KOZEL, S. (org.), refletindo a vitalidade da escola cultural da geografia brasileira e sua capacidade de explorar novos rumos, cruzar tradições e reinterpretar esses domínios.
Nessa obra publiquei o capítulo: “Mapas mentais - uma forma de linguagem: perspectivas metodológicas”, evidenciando o mundo cultural como um mundo que ultrapassa a soma de objetos, que tem uma forma de linguagem que emerge do sistema de relações sociais onde se imbricam valores, atitudes e vivências e essas imagens passam a ser entendidas como Mapas mentais.
O II Colóquio Nacional do NEER ocorreu no período de 5 a 8 de dezembro de 2007, em terras soteropolitanas e teve como tema Espaços Culturais: Vivências, Imaginações e Representações. O evento teve o Professor Claval como conferencista e consolidou o NEER como rede de discussões e parcerias. Foram convidados mais três colegas e o NEER passou a contar com 18 pesquisadores, envolvendo 12 programas de Pós-Graduação em Geografia.
Os trabalhos apresentados, as discussões e reflexões que ocorreram durante o evento, foram publicados no livro “Espaços Culturais: vivências, imaginações e representações”, organizado por Ângelo Serpa e publicado pela EDUFBA, em 2008. Após a reunião dos integrantes da rede foi definido que o III NEER aconteceria em Porto Velho (RO), em 2009, sob a coordenação do Professor Josué da Costa Silva, com o tema Espaço e Representações: Cultura e Transformações de Mundos. O Colóquio ocorreu no período de 01 a 06 de novembro de 2009, com ampliação dos temas abordados pelos pesquisadores nas mesas redondas, incluindo Sexualidade, gênero e representação do espaço; Modos de vida: imaginário e representação do lugar; e, A poética cultural da Amazônia: nossas representações. Foi enfatizada a questão regional da Amazônia, sua cultura e modos de vida, o que foi aprofundado pelos convidados que pesquisam a realidade local. Na ocasião tivemos como convidada a pesquisadora Giulliana Andreotti, professora da Universitá degli Studi di Trento, Itália.
É importante destacar que dois dos pesquisadores convidados que participaram do evento, Adnilson de Almeida Silva e Lucileyde Feitosa Sousa, integravam o PROCAD-UNIR/UFPR, envolvendo UFPR e UNIR, numa parceria de capacitação docente para o Curso de Geografia, e que teve início em 2008 e término em 2011. Adnilson defendeu a tese intitulada “Territorialidades e identidade do coletivo Kawahib da terra indígena Uru-Wau-wau em Rondônia: Orevaki até (reencontro) dos marcadores territoriais”, em 31/03/2010, sob a orientação do Prof. Sylvio Fausto Gil Filho (UFPR) e tendo como coorientador o Prof. Josué da Costa Silva (UNIR). Lucileyde defendeu a tese: “Espaços dialógicos dos barqueiros na Amazônia: uma relação humanística com o rio”, defendida em 2012, orientada pela Profa. Salete Kozel (UFPR) e tendo como coorientador o Prof. João Carlos Sarmento, da Universidade do Minho (Portugal), onde realizou bolsa sanduíche entre 20/01/2011 e 20/07/2011. Nessa ocasião, ainda, foram convidados para compor o NEER os colegas: Joseli da Silva (UEPG), Rooselvelt José Santos (UFU), Gilmar Mascarenhas (UERJ), Wendel Henrique (UFBA). Christian Dennys Monteiro de Oliveira (UFC), Claudia Zeferino Pires (UFRGS), Jean Carlos Rodrigues (UFTO), Maria das Graças Silva Nascimento Silva (UNIR) e Sonia Regina Romancini (UFMT).
Destarte, a rede NEER agregou mais sete pesquisadores, totalizando 25 integrantes e envolvendo 17 programas de pós-graduação em Geografia. Após o evento ficou estabelecido que o IV Colóquio do NEER ocorreria em 2011, em Santa Maria – RS, sob a coordenação do Prof. Benhur Pinós da Costa. O IV Colóquio Nacional do NEER ocorreu no período de 22 a 25 de novembro de 2011, em Santa Maria - RS, tendo como tema: As múltiplas espacialidades culturais: interfaces regionais, urbanas e rurais. Este evento, com um grupo maior, possibilitou dar maior visibilidade às linhas de pesquisa dos integrantes da rede NEER e seu fortalecimento com os Grupos de Trabalho coordenados pelos pesquisadores da área.
Em 2010, durante o pós-doutorado no LABOTER – IESA/UFG, desenvolvi a pesquisa sobre a Geografia Cultural e Social no Brasil, que gerou o artigo “Um panorama sobre as geografias marginais no Brasil”, publicado no livro “Maneiras de ler geografia e cultura”. Essa publicação sintetizou as reflexões ocorridas no evento e teve como organizadores: Álvaro Luiz Heidrich, Claudia Luiza Zeferino Pires e Benhur Pinós da Costa. Desta forma, os eixos das linhas de pesquisa do NEER são: Espaço e Cultura (urbano, agrário e regional), com onze pesquisadores; Ensino e Representação, com nove pesquisadores; Festas e festividades populares e turismo, com oito pesquisadores; Populações tradicionais, Território/Identidade e Cidadania - Sertão, Amazônia, com sete pesquisadores; Cultura e Comunicação, com quatro pesquisadores; Memória e Patrimônio, com quatro pesquisadores; Espaço e Religião/Santuários, com quatro pesquisadores; Espaço político, social e cultural-, com dois pesquisadores, e Teoria da Geografia Cultural, com dois pesquisadores.
Ao final do evento ficou definido que o V Colóquio Nacional do NEER se realizaria de 26 a 30 de novembro de 2013, em Cuiabá, sob a coordenação da Profa. Sonia Regina Romancini, da UFMT. O V Colóquio Nacional do NEER - Núcleo de Estudos em Espaço e Representação ocorreu no período de 26 a 30 de novembro de 2013, em Cuiabá-MT, tendo como tema: As representações culturais no espaço: perspectivas contemporâneas em Geografia. Os trabalhos apresentados, reflexões dos GTs e as mesas foram documentados na publicação eletrônica: “As representações culturais no espaço: Perspectivas contemporâneas em Geografia”. ROMANCINI, S. R.; ROSSETO, O. C.; NORA, G. D. (orgs.).Após este colóquio, a rede NEER passa a ser composta por 25 pesquisadores, vinculados a 19 instituições nacionais e uma americana (Jörn Seemann, Ball State University).
O VI Colóquio do NEER foi previsto para Fortaleza (CE), em novembro de 2016, sob a coordenação do Prof. Christian Dennys Monteiro de Oliveira, quando o NEER completaria 10 anos de existência, implícito no tema “Os outros somos nós - 10 anos de NEER”, tendo ocorrido no período de 20 a 26 de novembro de 2016, em Fortaleza, conforme previsto. Neste evento Alessandro Dozena da UFRN foi convidado a integrar a rede NEER.
Neste colóquio, Sylvio e eu proferimos a conferência de abertura apresentando um resumo dos 10 anos do NEER, o que ficou registrado nos anais do Evento com a publicação: Os outros somos nós - NEER (2006-2016).
A síntese dos primeiros 10 anos do NEER, enfatizando as parcerias e os eventos realizados: Cinco Colóquios, em diferentes realidades brasileiras, sempre alternando a coordenação (Curitiba - PR, Salvador - BA, Porto Velho - RO, Santa Maria - RS, Cuiabá - MT e Fortaleza - CE). Realização de um PROCAD e um DINTER, integrando a UFPR e a UNIR, titulando vinte doutores. Foram realizadas cinco publicações, sendo duas digitais, contendo o teor das conferências, mesas redondas e artigos apresentados nos eventos. Dois pós-doutorados: Salete Kozel (UFPR), sob a tutoria de Maria Geralda Almeida (UFG) e Sylvio Fausto Gil Filho (UFPR) sob tutoria de Álvaro Luiz Heidrich (UFRGS). Inúmeras bancas de defesa de teses e de dissertações, bem como de concurso na UFPR, UFRS, UFMT, UFU, UFG, PUC-MG, UFC. Parceria entre colegas na realização de cursos na pós-graduação. Trabalho de campo em parceria: Expedição Amazônica - UFPR/UNIR, e Festança de Vila Bela da Santíssima Trindade - UFPR/UFMT, ambos gerando publicações como produto.
O VII Colóquio no NEER ocorreu em 2018, em Diamantina – MG, sob a coordenação de Alexandre Magno Diniz, no campus da UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no período de 15 e 19 de Outubro, com o tema: A metomorfose, cujo símbolo seria uma borboleta saindo da crisálida, representando a maturidade do Núcleo que, partindo de uma condição marginal, conquistando o respeito e o reconhecimento da comunidade geográfica nacional. Neste Colóquio, participei da mesa redonda: “Borboleta: Potências e perspectivas epistemológicas (Teórico e metodológicas)”, apresentando o tema: EMOÇÕES EM VÔO NAS PAISAGENS CULTURAIS: A Paisagem emocional na perspectiva de Andreotti.
Os trabalhos apresentados, reflexões dos GTs e mesas foram documentados na publicação eletrônica: Metamorfoses possíveis compartilhadas: Leituras em Geografia Cultural, DINIZ, Alexandre Magno, ALVIM, Ana Márcia Monteiro, PEREIRA, Doralice Barros, DEUS, José Antonio Souza de, PÁDUA, Letícia (orgs). Neste evento, ainda, apresentei, em coautoria com Luciléa Ferreira Lopes Gonçalves, o trabalho “Ritmos da vida, ritmos da festa: Análise da geograficidade dos brincantes do Bumba meu boi no Maranhão”, que reflete parte da tese de doutorado que Luciléa defendeu em 2016, sob a minha orientação.
Após o evento, em reunião, os gestores da rede NEER decidiram que a realização do próximo Colóquio seria na Cidade de Goiás – GO, sob a coordenação da Maria Geralda de Almeida (UFG), em parceria com os colegas da UEG. O evento estava programado para outubro de 2020, mas com a pandemia ficou adiado para um momento mais oportuno.
A rede NEER conta atualmente com 15 instituições parceiras em atividade: UFRGS e UFSM (RS); PUC/MG, UFU - UFMG (MG); UFBA e UNEB (BA); UFG e UEG (GO); UFPR e UEPG (PR); UNIR (RO); UFMT (MT); UFTO (TO); UFRN (RN); e, Ball State University (USA), com 22 pesquisadores gestores.
Contribuir na criação da rede NEER e atuar nessa incrível rede de parcerias foi sem dúvida uma das maiores e mais gratificantes fases da minha trajetória, rompendo com a dualidade da minha formação: da paixão pelos solos e pela questão ambiental para pensar a sociedade e sua dinâmica, sobretudo na ótica da cultura. Quando ainda estava na faculdade sonhava em conquistar o mundo, mas essa conquista somente se consolidou e se eternizou na trajetória ... “o caminhante faz seu caminho ao caminhar”, como escreveu o poeta espanhol Antonio Machado.
Minha trajetória foi marcada pela participação em inúmeros Eventos (Encontros, Simpósios e Seminários) Cursos, Mesas Redondas, no Brasil, Argentina, Cuba, França, Itália e Venezuela. Oportunidades e perspectivas diversas, proporcionando novos aprendizados e delineando caminhos inusitados, muitas vezes conturbados e desafiadores. Poderia ser melhor? Não sei. Sei apenas que me sinto feliz por ter batalhado para a realização de meus sonhos.
E, ainda hoje, “desaposentada”, continuo orientando teses doutorais, atuando como supervisora de pós-doutorado e organizando livro em parcerias. Em 2018, recebi o convite do amigo e parceiro da rede NEER, Nelson Rego, para fazer parte da organização de um livro digital, convênio UFRGS e Universidade do Minho - Portugal. A proposta ousada e interessante tinha o seguinte teor: Aceitamos ou não a convocação de cartografias a serem feitas e/ou analisadas? Cartografias de mundos até então invisíveis? Trata-se de uma criação que se torna viável mediante o encontro entre o pesquisador e o campo que o olhar narrativo, geográfico e cartográfico institui como campo de descobertas e representações. (6)
Com este intuito, foi organizado o livro “Narrativas, Geografias e Cartografias: para viver é preciso espaço e tempo”, composto por 43 artigos, em 1300 páginas, integrando dois volumes. É um incrível mosaico que reflete uma geografia viva, plural, múltipla e atual, uma geografia dinâmica dos espaços vivos e inquietantes. Um olhar geográfico que evidencia por meio das representações os grupos humanos. Uma cartografia sensível e muito particular, que proporciona desvelar relações espaciais visíveis e invisíveis, implícitas. E essas cartografias constituem-se em representações que constroem narrativas e geografias.
Sob este prisma, quem é Salete Kozel Teixeira? Uma professora e pesquisadora inquieta e apaixonada pelo inusitado... por desvelar as facetas do espaço geográfico e as especificidades do LUGAR ... nuances e encantos ... “a alma do lugar” que dá sentido à nossa existência.
REFERÊNCIAS
AMARAL, G. G., KOZEL, S. Geografia da Re-existência: conhecimento, saberes e representações geográficas na educação escolar indígena do povo OroWari-RO. Porto Velho: Temática Editora, 2019.
BRASIL (MEC). 1971. Lei 5692/71.
BRASIL (MEC) 1998. PCN’s.
CARDOSO, J. A.; WESTPHALEN, C. Atlas Histórico do Paraná. 2. ed. Curitiba: Chain, 1986.
COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ. Colonização e Desenvolvimento do Norte do Paraná. Publicação comemorativa do cinquentenário da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. São Paulo: Editora Ave Maria, 1975.
DINIZ, A. et al. (orgs.) Metamorfoses possíveis compartilhadas: Leituras em Geografia Cultural. Belo Horizonte: Editora Grupo Editorial Letramento, 2019.
DURKHEIM, E. Sociologia e Filosofia, Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1970.
ESTÉS, C. P. A ciranda das mulheres sábias. Ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Tradução Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.
FILIZOLA, R. KOZEL, S. Didática de Geografia - Memórias da Terra - o Espaço Vivido. São Paulo: SP, Editora FTD, 1996, 110 p.
KOZEL, S. Produção e reprodução do espaço na escola: o uso da maquete ambiental. Revista Paranaense de Geografia – AGB - Seção Curitiba - PR (4) pp. 28-32, 1999.
KOZEL T. S.; NOGUEIRA, A. B. A geografia das representações e sua aplicação pedagógica: contribuições de uma experiência vivida. Revista do Departamento de Geografia. FFLCH-USP. São Paulo: Humanitas, n.13, p. 239-257, 1999.
KOZEL T. S. Das Imagens às Linguagens do geográfico: a Curitiba “Capital ecológica”. Tese Doutorado. FFLCH-USP, São Paulo, 2001.
KOZEL, S. As representações no geográfico. In: MENDONÇA, F.; KOZEL, S. (orgs.) Epistemologia da geografia contemporânea. Curitiba: Editora da UFPR, 2002, 2ª edição em 2004.
KOZEL, S. Educar “ambientalmente correto”: desafio ou simulacro para a sociedade consumista do século XXI?”. In: Revista de Estudos Universitários (2), v. 30, jun., Sorocaba, SP: UNISO, 2004, pp. 39-55.
KOZEL, S. Comunicando e Representando: Mapas como construções socioculturais. In: SEEMANN, J. (org.). A Aventura cartográfica, Perspectivas, pesquisas e reflexões sobre a cartografia Humana. Fortaleza, CE: Expressão Gráfica Editora, 2005.
KOZEL, S. Mapas mentais - uma forma de linguagem: perspectivas metodológicas. In: KOZEL, S. et al. (orgs). Da percepção e cognição à representação: Reconstruções teóricas da geografia cultural e humanista. São Paulo: Ed. Terceira Margem, 2007, p. 114-138.
KOZEL, S. Das “velhas certezas” à (Re) significação do geográfico. In: DANTAS da SILVA, A. A.; GALENO, A. (orgs.). Geografia: Ciência do complexus: ensaios transdisciplinares. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2008, pp. 160-180.
KOZEL, S. et al. (orgs.) Expedição Amazônica: Desvendando espaço e representações dos festejos em comunidades amazônicas. “A festa do boi-bumbá: Um ato de fé”. Curitiba: SK Editora, 2009.
KOZEL, S.; SOUZA, L. F. Parintins, que espaço é esse? Representação espacial sob a ótica do morador e do visitante. In: KOZEL, S. et al. (orgs.). Expedição Amazônica: Desvendando espaço e representações dos festejos em comunidades amazônicas. “A festa do boi-bumbá: Um ato de fé”. Curitiba: SK Editora, 2009, pp. 117-143. KOZEL, S. Um panorama sobre as geografias marginais no Brasil. In: HEIDRICH, A. et al. (orgs.). Maneiras de ler geografia e cultura. Porto Alegre: Imprensa Livre: Compasso, lugar, cultura, 2013, v.1, p. 12-27 (documento eletrônico).
KOZEL, S.; FEITOSA, L. Contribuição de Paul Claval à Geografia Brasileira. In: ALMEIDA, M. G.; ARRAIS, T. A. (orgs.). É geografia é Paul Claval. Goiânia: Editora FUNAPE/UFG, 2013.
KOZEL, S.; GIL FILHO, S. F. Rememorando a trajetória...10 anos de NEER. In: MONTEIRO,C.D. et al. (Orgs.). Os outros somos nós - NEER (2006-2016). 1. ed. Timburi, SP: Editora Cia. do ebook, 2017, v. 1.
KOZEL, S. (autora e organizadora). Mapas mentais: Dialogismo e Representação Curitiba: Editora Appris, 2018.
KOZEL, S. Emoções em vôo nas paisagens culturais: a paisagem emocional na perspectiva de Andreotti. In: DINIZ, A. M. (org.). Metamorfoses possíveis compartilhadas: Leituras em Geografia Cultural. Belo Horizonte: Editora Grupo Editorial Letramento, 2019 (eletrônico).
KOZEL TEIXEIRA, S. Das Imagens às Linguagens do geográfico: Curitiba, a “Capital Ecológica”. Curitiba: Ed. UFPR, 2018.
KOZEL TEIXEIRA, S. Representação e ensino: aguçando o olhar geográfico para os aspectos didático-pedagógicos. In: SERPA, A. (org.) Espaços culturais: vivências, imaginações e representações. Salvador: EDUFBA, 2008.
LIMA, S. T. Análise crítica das representações cartográficas nos livros didáticos de 1º e 2º graus. Boletim Paulista de Geografia - AGB-SP (70), São Paulo, 2º sem. 1991, pp. 53-64.
LIMA, S. T. Dinâmica de ocupação e uso do solo no Vale do Ribeirão Suraquá em Paraiso do Norte, PR. Monografia de Especialização. UEM, Maringá, 1987.
LIMA, S. T. O processo de capacitação docente e o ensino de geografia: angústias e reflexões. Dissertação Mestrado. FFLCH - USP. São Paulo, 1993.
MENDONÇA, F; KOZEL, S.; (ORGS.) Elementos de Epistemologia da geografia contemporânea. Curitiba: Editora da UFPR, 2002, com reimpressão da 2ª edição em 2004.
MONBEIG, P. A zona pioneira do Norte do Paraná. In: Associação dos Geógrafos Brasileiros. AGB, n. 3, Ano 1, São Paulo: 1935, pp. 221 a 236.
NAPOLITANO, M. História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2016.
MOSCOVICI, S. Des Représentations colletives aux représentations sociales. In: JODELET, D. et al. Les représentations sociales. Paris: PUF, 1989.
MULLER, N. L. Contribuição ao estudo do norte do Paraná. Bol. Paulista de Geografia, (22), pp. 55-95, 1959.
PENCK, W. (1953). Morphological analysisof land forms: a contribuition tophysical geology. London: Macmillan, 420 p.
REGO, N.; KOZEL, S.; AZEVEDO, A. F. (orgs) Narrativas, Geografias e Cartografias: para viver é preciso espaço e tempo. Porto Alegre: IGEO, Editora Compasso, 2020 (eletrônico).
ROMANCINI, S. R.; et al. (orgs.). As representações culturais no espaço: Perspectivas contemporâneas em Geografia. Porto Alegre: Editora Imprensa Livre, 2015 (eletrônico).
SILVA, T. R. N. da; ARELANO, L. R. G (1982). Orientações legais na área do currículo, nas esferas federal e estadual a partir da lei 5692/71. In: Caderno CEDES, n. 13, Currículos e programas: como vê-los hoje? 4. ed. Campinas: Papirus, 1991.
TEIXEIRA, S. K. Subsídios ao conceito espontâneo em localização espacial e o ensino da geografia. Revista Ra’E Ga – O espaço geográfico em análise (1). UFPR, Departamento de Geografia, Curitiba, PR: Ed. Tec Art, 1997, pp. 61-74.
TEIXEIRA, S. K. Ensinar geografia no terceiro milênio. Como? Por quê? Revista Ra’E Ga – O espaço geográfico em análise (2). Ano II, 1998, UFPR, Departamento de Geografia, Curitiba, PR: Ed. Tec Art, 1998, pp. 141-151.
WESTPHALEN, C.; BALHANA, A.; PINHEIRO MACHADO, B. História do Paraná. Curitiba: Grafipar, 1969.
NOTAS
1 Ato Institucional Número Cinco (AI 5) foi emitido pelo Presidente Artur da Costa e Silva, em dezembro de 1968. Forma de legislação durante o regime militar, resultando na perda de mandatos das pessoas contrárias ao regime militar.
2 PENCK, W. (1953) Morphological analysisof land forms: a contribuition tophysical geology. London, Macmillan, 420 p.
3 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÈDIO. Relatora Conselheira Guiomar Namo de Melo. Parecer CEB 15/98, aprovado em 01/06/98
4 DURKHEIM, E. Sociologia e filosofia, Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1970.
MOSCOVICI, S. Des Représentations colletives aux représentations sociales. IN: JODELET, D. et al. Les représentations sociales. Paris: PUF. 1989.
5 KOZEL, S.; GIL FILHO, S. F. Rememorando a trajetória...10 anos de NEER. In: OS OUTROS SOMOS NÓS - NEER (2006-2016).
6 Narrativas, Geografias e Cartografias: para viver é preciso espaço e tempo. Porto Alegre, IGEO, Editora Compasso, 2020.
-
 ROGERIO HAESBAERT DA COSTA
ROGERIO HAESBAERT DA COSTA MÚLTIPLOS TERRITÓRIOS DE MEMÓRIA
Rogério Haesbaert
SÍNTESE BIOGRÁFICA PROPOSTA:
1- DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO HISTÓRICO
Composição familiar: terceiro de 4 irmãos (dois casais), pai (José Flores da Costa) descendente de portugueses, mãe (Eulita Haesbaert da Costa) descendente de alemães
Trajetória espacial/residencial: 1958- São Pedro do Sul (RS); 1958-1963- São José do Louro (zona rural vizinha à então vila de Mata); 1964-1967: Mata (emancipada de General Vargas em 1965); 1967-1969: General Vargas (denominada São Vicente do Sul em 1969); 1970-1982: Santa Maria (5 bairros diferentes); 1982-atual (exceto 1991-92 e 2002-03): Rio de Janeiro (bairros: Santa Tereza, Fátima, Copacabana, Botafogo); 1991-92: Paris; 2002-2003: Londres.
Percurso estudantil pré-universitário: 1965-1966: Grupo Escolar de Mata; 1967-1969: Escola Estadual Borges do Canto/São Vicente do Sul; 1970-71: Colégio Estadual Coronel Pilar/Santa Maria; 1972-1975: Colégio Estadual Profa. Maria Rocha/Santa Maria (ensino profissionalizante: Tradutor e Intérprete – 1973-1975);
Atuação profissional: auxiliar de empacotador – Lojas Riachuelo (Santa Maria, 1972); atendente no Crédito Educativo da Caixa Econômica Federal (UFSM, 1978-79); professor de Geografia: curso preparatório LT (Santa Maria, 1977); Fac. Ciências e Letras Imaculada Conceição (Santa Maria, 1980-82); UFSM-curso de férias (Santiago, 1981 e 1982); Colégio Pentágono Bahiense (Rio de Janeiro, 1983-84); Colégio Andrews (Rio de Janeiro, 1984-1985); Secr. Educ. RJ (Rio de Janeiro, 1985); PUC (Rio de Janeiro, 1985-87); Col. Brig. Newton Braga/Min. da Aeronáutica (Rio de Janeiro, 1985-87); Universidade Federal Fluminense (Niterói, Graduação: 1985-2019, Pós-Graduação: 1999-atual); Universidade de Buenos Aires (Bs. Aires, Pós-Graduação: 2017-atual); professor visitante nas universidades: Paris VIII, Toulouse-Le Mirail, UNAM-CRIM (Cuernavaca), Colegio de Michoacán (La Piedad), Politécnica Salesiana (Quito) e Antioquia (Medellín)
2- PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA A GEOGRAFIA BRASILEIRA
- Datas e locais de constituição da carreira na Geografia: 1976-1979: Licenciatura em Geografia / 1977-1980: bacharelado, Universidade Federal de Santa Maria; 1982-1986: Mestrado em Geografia, UFRJ; 1990-1995: Doutorado em Geografia Humana, USP (1991-92: estágio doutoral no Instituto de Ciências Políticas-Paris); 2002-2003: Estágio pós-doutoral na Open University, Milton Keynes, Inglaterra.
- Pesquisas expressivas realizadas que marcaram o perfil acadêmico: A Campanha Gaúcha e o resgate da identidade regional (mestrado); Gaúchos e Baianos: modernidade e desterritorialização (doutorado); O mito da desterritorialização (pós-doutorado); Globalização e regionalização – regiões transfronteiriças entre países do Mercosul; Sociedades de In-segurança e des-controle dos territórios; Território como categoria da prática numa perspectiva latino-americana.
- Autores de que recebeu influência: geógrafos: Bertha Becker (orientadora de mestrado; organização de livro e evento); Milton Santos (professor no mestrado e doutorado; pesquisa no mestrado); Jacques Lévy (supervisor em estágio doutoral); Doreen Massey (supervisora em estágio pós-doutoral; tradução de livro, eventos); não-geógrafos: Gilles Deleuze e Felix Guattari (livro “O mito da desterritorialização”); Michel Foucault e Giorgio Agamben (livro “Viver no Limite”): pensadores descoloniais latino-americanos (livro “Território e Descolonialidade”).
- Algumas parcerias de pesquisa ao longo da carreira – Brasil: Lia Machado (Faixa de Fronteira – Min. da Integração Nacional); Carlos Walter Porto-Gonçalves (livro “A nova desordem mundial”); Ana Angelita Rocha (biografia de Doreen Massey); Sergio Nunes e Gulherme Ribeiro (livro “Vidal, Vidais”); Fania Fridman (grupo CLACSO e livro Escritos sobre espaço e história); Frederico Araújo (livro Identidades e territórios); Argentina: Perla Zusman (UGI e livro “Geografías Culturales”); Chile: Pablo Mansilla (Univ. Católica de Valparaíso, projeto de pesquisa).
- Livros marcantes da carreira: RS: Latifúndio e identidade regional (P. Alegre: Mercado Aberto, 1988); Des-territorialização e identidade: a rede “gaúcha” no Nordeste (Niterói: EdUFF, 1997); Territórios Alternativos (Niterói e São Paulo: EdUFF e Contexto, 2002); O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004, editado em espanhol pela ed. Siglo XXI); Regional-Global: dilemas da região e da regionalização na Geografia contemporânea (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010; editado em espanhol pela CLACSO/UBA em 2019); Viver no limite: território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contenção (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014; editado em espanhol em 2020 pela ed. Siglo XXI); Território e Descolonialidade: sobre o giro (multi)territorial/de(s)colonial na América Latina (Buenos Aires: CLACSO, 2021)
3- AVANÇOS TEÓRICOS E CONTROVÉRSIAS
- Maiores contribuições conceituais e metodológicas realizadas: debates sobre região/regionalização (rede regional e região como arte-fato), regionalismo e identidade regional/territorial; território, multi/transterritorialidade e des-territorialização, contenção e exclusão/precarização territorial; debate modernidade-pós-modernidade; influência, na Geografia, das filosofias (pós-estruturalistas?) de Deleuze e Guattari, Foucault e Agamben; pensamento de Doreen Massey; pensamento descolonial na Geografia latino-americana.
- Principais controvérsias, críticas e embates sobre a produção científica realizada: debate sobre território para além de suas perspectivas estatal (incluindo as noções de multi/transterritorialidade e corpo-território) e funcional (incluindo a dimensão simbólica do poder) – criticado por Antonio Carlos Robert de Moraes; desterritorialização como precarização territorial, território e região como categorias de análise, da prática e normativas; influências “pós-modernas” e/ou pós-estruturalistas – debate com Blanca Ramírez (México) sobre o estruturalismo de “O mito da desterritorialização”
Decidi aproveitar a oportunidade deste convite para fazer um balanço autobiográfico de trajetórias que, em maior ou menor grau, formaram minhas múltiplas geografias vividas. Não se trata exatamente de uma “egogeografia”, nos moldes propostos por Jacques Lévy pois, como afirmam Yann Calbérac e Anne Volney, num número especial da revista “Géographie et Cultures”:
Para além da (auto)bio-geografia de geógrafo que visa, pelo relato de vida, compor uma figura de pesquisador(a) ao ancorá-lo nos lugares em que a carreira se desdobra, ou além da abordagem egogeográfica inspirada por Jacques Lévy, que pretende construir a autoridade de um(a) autor(a) graças a um retorno sobre sua produção científica, este número [estas memórias, no meu caso] convida[m] a explorar as múltiplas relações entre o ego (dimensão identitária do sujeito epistêmico) e a geografia (conjunto de conhecimentos e de métodos) (Calbérac e Volnev, 2015).
Redigir um memorial acadêmico (como fiz em 2015 para concurso de professor Titular) ou como, neste caso, um conjunto múltiplo de memórias, numa “autobiografia”, não é tarefa fácil, pois nossa lembrança é sempre seletiva e nem sempre aquilo que nos parece mais relevante – ou “crítico” – o seria sob o olhar de um outro. Realizar um balanço e uma análise crítica de nossa contribuição é ainda mais temerário. Corre-se todo o tempo o risco da falta e/ou do egocentrismo. Nossas trajetórias são moldadas não apenas pelo que é possível transpor em relatórios burocráticos, mas se revestem da dimensão do vivido que, muitas vezes, é a única capaz nem tanto de explicar, mas, pelo menos, de fazer compreensíveis nossas opções e feitos, não apenas no âmbito pessoal mas também na esfera mais estritamente profissional-acadêmica. Da mesma forma que as categorias analíticas que racionalizamos não podem ignorar seu uso enquanto categorias da prática, no senso comum cotidiano (pois é com elas que, em última instância, agimos), também devemos pensar nossos caminhos numa íntima associação entre construção intelectual e práticas da geografia vivida. Talvez nem tanto mas um pouco concordando com Clarice:
É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei-o bem, mas não posso dizer. Sobretudo tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar não só não exprimo o que sinto como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ou pelo menos o que me faz agir não é o que eu sinto, mas o que eu digo. (Lispector, 1943:11)
Por isso, acredito que somente um conjunto de memórias onde se cruzem sensibilidade e razão, experiência concreta e reflexão teórica, é capaz de revelar a riqueza labiríntica desses percursos. Com o cuidado, sempre, para não cair nem no esquecimento que ignora pontos e personagens significativos, nem na pretensão e/ou na arrogância que enaltecem exageradamente algumas de nossas realizações.
Romper com a dicotomia entre o subjetivo e o objetivo, a emoção e a razão, pois essa ordenação de memórias permite – ou melhor, poderíamos dizer, “exige” – a sua permanente imbricação é, portanto, um dos grandes méritos de uma autobiografia ou mesmo de um memorial. Como se trata sobretudo de uma tarefa individual, podemos lembrar o que nos afirma o saudoso geógrafo e amigo Maurício Abreu em seu artigo “Sobre a memória das cidades”:
O espaço da memória individual não é necessariamente um espaço euclidiano. Nele as localizações podem ser fluidas ou deformadas, as escalas podem ser multidimensionais, e a referenciação mais topológica do que topográfica (ABREU, 1998:83). (1)
Nesse sentido a literatura e seus escritores também podem ser acionados para nos recordar que não é nada fácil, e mesmo contraproducente, buscar “linhas” ou regularidades numa história pessoal, ainda que pelo viés acadêmico. O grande Guimarães Rosa, por exemplo, nos alerta que “as lembranças da vida da gente se guardam em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimentos, uns com os outros não se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância” (2) . Isso nos faz lembrar também da leitura genealógica foucaultiana, que privilegia as rupturas e as descontinuidades. Quando se trata de memória, fica ainda mais difícil encontrar um fio condutor que demonstre a continuidade da lembrança. Ela é feita em pedaços, e somente o menos importante é que permite falar em continuidade. O novo efetivamente emerge nos momentos de descontinuidade com o que já estava concebido, repetitivamente dado.
Talvez pudéssemos pensar também que na própria vida concreta os momentos de fato relevantes são aqueles que rompem com as continuidades e estabelecem rupturas. Nesse sentido, o novo, o que inaugura uma nova etapa ou descoberta, só pode brotar do sentido do “fazer diferença” que representam determinados momentos – e lugares, eu acrescentaria. Quem/aquilo que “faz diferença” em nossas vidas é quem/aquilo que nos instiga à mudança, rumo a outras perspectivas de mundo. E quem
faz diferença, obviamente, é o Outro. Daí uma marca que posso identificar, desde agora, na minha trajetória: a busca do Outro que eu fui buscar, através da Geografia, pela diferença que fazem os nossos múltiplos espaços de vida – relembrando imediatamente a noção de espaço de Doreen Massey como a esfera da multiplicidade. Daí a proposta de intitular este relato “Múltiplos territórios de memória”. São muitos os referentes espaciais que moldam nossas trajetórias e que permitem um processo de des-reterritorialização plural e constante.
Como afirma Assmann, pesquisadora na área de estudos culturais:
"Após intervalos de suspensão da tradição, peregrinos e turistas do passado retornam a locais significativos para eles, e ali encontram uma paisagem, monumentos ou ruínas. Com isso ocorrem “reanimações”, mas quase tanto o lugar reativa a recordação quanto a recordação reativa o lugar (Assmann, 2011)."
Com Assmann, deduz-se que lugares viram quase “sujeitos” pois, ao serem observados, podem instigar determinadas sensibilidades e ações. Assim, estamos bem acompanhados quando identificamos, em espaços do nosso passado – ou do passado que se condensa no presente (lembrando a “acumulação desigual de tempos” de Milton Santos), a força de determinados referenciais concretos que, imbuídos de um profundo simbolismo, podem provocar em nós uma espécie de atualização de viagem no tempo.
Gostaria de tecer primeiro as linhas gerais e as bases primeiras do ambiente vivido e familiar que permitirão, ao longo do percurso, transmitir um pouco da minha interpretação pessoal sobre vínculos importantes que possibilitaram construir a condição de geógrafo. Geógrafo que se envolveu com problemáticas e conceituações tentando pensá-las com um olhar de algum modo próprio, o que resultou em algumas contribuições e na inserção em debates mais amplos em nível da Geografia brasileira e, hoje, também, estrangeira, especialmente a latino-americana.
Mas há um roteiro proposto e, com base nele, elaborei uma síntese inicial, esperando não esquecer itens, muitos deles desdobrados também ao longo do texto. Em resumo, parto da ideia de ruptura geográfica ao longo da trajetória intelectual e de vida para delinear, de saída, alguns momentos fundamentais de mudança – ou, em termos mais especificamente geográficos, de des(re)territorialização – a saber:
1. A mudança do interior semirrural do Rio Grande do Sul (morei em zonas rurais e duas pequenas cidades, de 1.500 e 3.000 habitantes) para o polo regional que é Santa Maria, centro militar, estudantil e religioso. Essa mudança, aos 12 anos, representou uma grande abertura intelectual. Numa leitura simplista, poderia afirmar que se tratou de um salto do local para o regional – como cidade universitária, Santa Maria também me abria os olhos para as escalas nacional e mundial, auxiliado por meu radinho de ondas curtas e por meus correspondentes estrangeiros e de diversas cidades do Brasil.
2. A saída de Santa Maria, aos 23 anos, para realizar o mestrado no Rio de Janeiro, e aí permanecer – costumo dizer que saí direto do interior do Rio Grande do Sul para a megalópole, sem “estágio” em metrópole; toda uma alteração de modo de vida – e de identidade – se verificou aí, relativizando o regional e afirmando, definitivamente, o nacional (de nuança carioca).
3. A residência de um ano em Paris, durante o chamado doutorado-sanduíche, levou-me a desenvolver uma outra perspectiva sobre o Brasil e, pela primeira vez, fez-me confrontar com uma identidade latino-americana. Uma década depois, com o pós-doutorado, somou-se o ano de residência em Londres, cidade ainda mais global e cosmopolita, contribuindo para mudar uma perspectiva sobre o mundo, numa interação entre suas múltiplas escalas.
Nasci no final dos anos 1950 (31 de março de 1958) no interior semirrural do Rio Grande do Sul – a pequena São Pedro do Sul, da qual não guardei lembranças, pois com poucos meses de vida minha família (então com um casal de irmãos) mudou para a zona rural de Mata, vila que só se emanciparia de General Vargas (depois denominada São Vicente do Sul) em 1965. Ali nasceu outra irmã – somos uma família de quatro irmãos – e foi onde passei meus primeiros cinco anos de vida. Uma vida marcada pela atividade no campo e pelo contato com a grande família de avôs, tios e primos Haesbaert que viviam na localidade chamada São José do Louro . (3) Enquanto a família de meu pai era descendente de portugueses que povoaram a chamada Campanha Gaúcha, minha mãe descendia de migrantes alemães – meu tataravô (Johan Peter Haesbaert), proveniente de Hamburgo, na Alemanha, foi o primeiro pastor luterano na fundação de Novo Hamburgo.
A união de meus pais revela um pouco a integração entre Serra (“Colônia” ítalo-germânica, minifundiária e agrícola) e Campanha (de herança luso-espanhola, latifundiária e pastoril) que marcou a história do Rio Grande do Sul. Esse legado migrante e esse encontro de geografias marcaria também a minha trajetória acadêmica até o doutorado, e ajuda a compreender um pouco porque região, identidade, território e des-territorialização estiveram sempre no centro de minhas investigações.
É interessante perceber que, desde pequeno, sem uma razão clara, até porque estava envolvido concretamente num ambiente geográfico bastante limitado, sentia-me atraído por espaços distantes e desde muito cedo a curiosidade por saber o que se passava em outros cantos do mundo se revelou muito forte, o que incluía o meu inusitado interesse por mapas. Aos seis anos de idade, mesmo morando na zona rural, meus parentes e algumas visitas se divertiam me convidando a subir num banquinho e “discursar” sobre cidades e países distantes. Um tema recorrente era o Rio de Janeiro e o Pão de Açúcar, conhecido através de capas de “folhinhas”, os calendários da época. A partir dos sete anos passei a pedir como presente de aniversário e Natal lápis de cor e cadernos com paisagens na capa para neles (re)desenhar mapas e descrever diferentes regiões do mundo. Dos nove para os dez anos cheguei a redigir, manuscrito, um “almanaque mundial” de países para a biblioteca da escola.
É curioso relembrar o quanto, na infância e adolescência, a ansiedade (às vezes até a angústia) me tomava na busca por uma alternativa a um mundo que muitas vezes me parecia por demais acanhado e opressor. Minha inusitada paixão pelos mapas e descrições de lugares e a leitura/escrita como “diversão predileta” me tornavam de certa forma um estranho nesses ambientes onde transitava, lugarejos cuja condição urbana – ou urbanidade – era ficção dentro da alargada definição político-administrativa de urbano como toda sede de distrito (“vila”) ou município (“cidade”), independente da população.
No interior do Rio Grande do Sul, marcado por uma forte cultura de raízes patriarcais e machista, as barreiras do controle social eram ainda mais cerceadoras. Isso me leva a imaginar que também podemos discutir uma espécie de desterritorialização em nível pessoal, mais subjetiva ou psicológica, quando também individualmente nos vemos como que descontextualizados do espaço-tempo em que vivemos e ao qual, de início sem nenhuma alternativa de escolha, fomos atrelados.
A mudança da zona rural – São José do Louro – para a vila de Mata veio acompanhada da minha entrada na única escola local, o “Grupo Escolar”. Embora diminuta, sem nenhuma rua calçada, a vila – que se emanciparia no ano seguinte à nossa chegada – era servida por trem, uma grande atração, que me amedrontava e seduzia ao mesmo tempo. O trem significava a conexão mais vigorosa com o mundo, o vínculo com o desconhecido, a grande abertura para outras geografias. Uma diversão era, do alto da coxilha, contar os vagões do trem; outra, reunir pilhas velhas transformadas em trens deslocados em sulcos pelo chão. A chegada do “P”, o trem de passageiros, mobilizava o vilarejo.
Lembro de meu aniversário de seis anos e a coincidência com a dita “revolução”, o golpe militar de 1964. Foi minha primeira viagem de trem, com meu pai, convidado por minha tia e madrinha, que aniversariava um dia antes e que residia em São Pedro do Sul. Viagem de apenas 30 quilômetros, mas que para mim pareceu enorme. Lamentei foi antecipar a volta, todos atentos à “ameaça de guerra” e a mobilização do exército na vizinha Santa Maria, cidade que, na época, dizia-se, abrigava o segundo maior contingente militar do Brasil, dada sua posição geopolítica equidistante das fronteiras então mais sensíveis do país, com a Argentina e o Uruguai.
A religiosidade era forte. Fiz a “primeira comunhão” aos 7 anos de idade e compareci a uma reunião convocada pelo pároco com jovens voltados à “vocação sacerdotal”. Para lugarejos rurais ou quase rurais como aquele, o seminário, localizado num centro regional da Campanha, Bagé, era a grande oportunidade para garantir educação gratuita e o prosseguimento dos estudos, já que em Mata só havia “ensino primário”, até a atual quinta série. Lembro da enorme frustração quando o padre me considerou muito criança para decidir sobre o sacerdócio, deu-me um livreto ilustrado sobre a vida no seminário e mandou-me de volta para casa.
Minha família era marcada pela instabilidade financeira e pela des-reterritorialização: ao longo de meus primeiros 20 anos de vida mudamos 10 vezes, numa média de uma mudança de residência a cada dois anos. Com isso, mudava também a escola, e os transtornos eram grandes. Apenas para um exemplo, ao mudarmos de São Vicente do Sul (então chamada General Vargas) para Santa Maria eu havia estudado francês como segunda língua e fui obrigado, nas férias, por minha conta, a estudar inglês para poder acompanhar os estudos. Ao nos mudarmos de Mata para São Vicente do Sul, meus irmãos mais velhos que, para estudar, moravam com os avós em Santa Maria, tiveram uma enorme perda ao trocarem uma excelente escola pública pelo único “Ginásio” de São Vicente do Sul. Ali, mesmo no início da adolescência, estudando à noite, eles começaram a trabalhar – minha irmã como balconista numa livraria e meu irmão vendendo passagens na estação rodoviária. Eu, mesmo entre nove e dez anos, também consegui um trabalho como vendedor de revistas a domicílio. Em Santa Maria, aos 14, teria meu primeiro emprego com carteira assinada, como auxiliar de empacotador.
Uma grande frustração de meu pai era eu e meu irmão não nos envolvermos com ele nas “lides campeiras”. Autoritário e com um severo e muito próprio senso de justiça, meu pai era um típico representante da cultura gaúcha pastoril, e nossa reação, como que negando a vida do campo, ele muito criticou. Relutou muito em mudar para uma cidade maior para que pudéssemos estudar. Minha mãe, ao contrário, sempre gostou de ler e estudar, mas não teve a oportunidade de ir além da terceira série (dizia que havia aprendido na escola rural tudo o que a professora sabia). Ela é quem nos estimulava para que buscássemos outro caminho. Assim, foi graças ao auxílio dos filhos formados (meu irmão é médico e minha irmã mais velha, como eu, professora universitária) que meus pais tiveram uma velhice mais tranquila.
Não eram raras as reações enérgicas e mesmo violentas de meu pai a uma resposta contrária a comandar uma carreta e uma junta de bois ou a colocar os arreios e fazer um percurso (que ele nos forçava) a cavalo. Aos seis anos eu já tinha a tarefa, todas as tardes, de buscar o terneiro no campo, o que pra mim representava uma provação, pois era comum o bezerro sair em disparada e eu, para a indignação de meu pai, chegar em casa chorando porque não havia logrado o intento.
Minha identificação, definitivamente, não era com o ritmo e a tranquilidade do campo que meu pai tentava, a muito custo, nos impor. Preferia a agitação dos centros urbanos – mesmo que uma cidade “de verdade”, como a vizinha Santa Maria, fosse apenas alcançada nas férias a partir de uma muito esperada viagem de fusca proporcionada por um tio que ali residia. Em casa, inovações tecnológicas como luz elétrica e rádio só chegariam por volta dos sete anos de idade. Desenhava-se assim, gradativamente e com muita dificuldade, uma nova geografia, para mim muito mais múltipla e estimulante.
O professor de Geografia do 1º ano do então Ginásio (hoje correspondente à 5ª série, pois na 4ª realizei o então temido “exame de admissão”) convidou-me para um concurso em plena praça de São Vicente do Sul durante a Semana da Pátria, onde até o prefeito e o pároco locais formulavam perguntas. Ganhei como prêmio um dicionário de quatro idiomas ilustrado com mapas e entrada grátis para o cineminha local por dois anos. Lembro que isso me fez ficar muito conhecido, mas a sensação era a de ser percebido como alguém “fora do lugar”, que vivia na biblioteca ou enfurnado nos livros.
A paixão pela Geografia continuou se fortalecendo e a nova mudança, para Santa Maria, cidade média de mais de cem mil habitantes à época, sede da primeira universidade pública do interior do país, fundada em 1960, representou a primeira grande ruptura na minha trajetória de vida. Ali também, logo após a chegada, participei de vários concursos sobre Geografia (através de um programa de rádio chamado “Música e Cultura”, cujo prêmio era um determinado valor para gastar numa loja de roupas da cidade). Foi aí que me deparei com a clássica Geografia dos livros didáticos de Aroldo de Azevedo, que eram indicados para leitura pelo programa.
Logo depois da chegada a Santa Maria, criei o “Clube Amigos da Quadra” entre os vizinhos de quarteirão e passei a organizar um jornalzinho mimeografado, que tinha até “patrocinador” (um dos vizinhos que trabalhava numa concessionária de automóveis). A partir daí comecei a pensar se faria também o vestibular para Comunicação Social – “também”, porque para Geografia nunca tive dúvida. Cursar “Tradutor e Intérprete” como ensino profissionalizante no “Científico” (atual ensino médio) também foi mais um estímulo para escrever. Acabei publicando algumas crônicas no diário “A Razão”, todas elas de natureza geográficas.
O quanto um ambiente social e geográfico representa condição básica na trajetória de quem pertence às classes subalternas às vezes só é devidamente percebido quando nos deparamos com algumas situações concretas. Algum esforço a nível individual, é claro, deve ser considerado, mas, além do fato de ele obrigatoriamente ser muito mais árduo no caso dos subalternos, as condições do que, simplificadamente, denominamos “ambiente social e geográfico” é fundamental, sobretudo no que se refere às oportunidades favorecidas pelo Estado em termos de ensino público de qualidade e empregos e/ou bolsas como garantia de alguma autonomia financeira.
Na impossibilidade de realizar grandes viagens, eu acabava viajando por mapas e enciclopédias. Durante um tempo passava todos os sábados na biblioteca pública de Santa Maria. Numa família grande, de 14 tios e inúmeros primos, felizmente pude contar também com a ajuda de parentes distantes: uma prima de Criciúma, em Santa Catarina, patrocinou minha primeira viagem para conhecer o mar, sozinho, aos 11 anos (com troca de ônibus em Porto Alegre); um primo que se aventurou a trabalhar numa companhia de navegação no exterior e foi parar na Suécia pagava os fascículos de minha coleção de Geografia Ilustrada e, de vez em quando, me presenteava pelo correio com exemplares (muito esperados) da National Geographic. Nesse circuito é importante acrescentar ainda, mais tarde, um presente fundamental na minha formação: no início do ensino superior, escrevendo ao IBGE, fui brindado com uma coleção de dezenas de exemplares do Boletim Geográfico e da Revista Brasileira de Geografia.
Outra fonte básica de informação e que me proporcionou “viajar” por lugares muito distantes, fazendo uma espécie de conexão local-global pré-internet, foram os correspondentes postais. Depois de uma argentina que conheci na rodoviária de São Vicente do Sul e que me enviava folhetos da agência de turismo em que trabalhava, de uma chilena de Valparaíso (a partir de anúncio em diário de Porto Alegre, e que só recentemente fui conhecer pessoalmente), expandi amplamente o número de correspondentes ao colocar anúncio numa revista do Rio de Janeiro destinada ao público jovem e onde propunha “trocar selos, mapas e postais”. Cheguei a receber mais de 100 cartas e mantive cerca de 30 correspondentes durante vários anos, alguns deles do exterior, como Canadá (que depois me visitou em Santa Maria), Alemanha (que depois visitei em Nuremberg) e México. Essa foi a primeira forma que encontrei para, de algum modo, partilhar múltiplas territorialidades, conhecendo outras culturas e preparando o terreno para contatos que puderam se materializar, tempos depois, com viagens efetivas pelo Brasil e pelo mundo.
Em síntese, essa foi minha “entrada”, na infância e na adolescência, no universo geográfico dos mapas e da descrição de lugares, regiões e países, que me levou a desenvolver uma grande admiração pela Geografia – nem tanto a “ciência geográfica”, que eu ainda mal conhecia, através de mapas e descrições elementares, mas a geografia cotidiana, vivida, que tanto afeta o senso comum através da simples curiosidade por saber o que se passa em outros cantos do mundo e do quanto é rica – e desigual – a diferenciação do ecúmeno terrestre.
Essa multiplicidade de territórios que, concreta ou virtualmente, iam se sobrepondo na minha trama de vida, sem dúvida ajuda a entender a força futura de minha percepção da multi ou mesmo transterritorialidade de tantos grupos sociais – alguns diriam até, da condição multiterritorial inerente à condição humana. Condição essa que, dependendo da situação econômica e cultural, não só permite vivenciar, concomitantemente, múltiplos territórios, como também oferece distintas – e profundamente desiguais – possibilidades de transitar entre territórios diferentes. De algum modo, desde pequeno, desconfortável com a territorialidade que me era imposta, estive em busca de um outro espaço, e esse outro, eu descobriria ainda na adolescência, na verdade, também era parte de mim mesmo. A desterritorialização que vivíamos com tanta troca de residência era experimentada também subjetivamente: meu território era múltiplo, e Santa Maria seria apenas o começo de uma longa trajetória de busca e trânsito por múltiplas territorialidades.
A Geografia que recebi em minha formação básica na Universidade Federal de Santa Maria, na segunda metade dos anos 1970, em pleno ensaio para a saída da ditadura militar, foi basicamente uma Geografia tradicional e amplamente descritiva. Mas, pautado numa herança “enciclopédica” (ao memorizar as capitais, o desenho e características dos diferentes países do mundo), eu não condenava essa Geografia. O que me indignava eram professores que, como a esposa e a filha do reitor (professoras de Geografia medíocres que, por nepotismo, se tornaram docentes universitárias), usavam uma descrição tão elementar e inútil que suas aulas se transformavam num exercício de paciência e comiseração. “Virou lenda” a leitura em sala de aula, durante mais de um mês, da carta de Pero Vaz de Caminha na disciplina de Geografia do Brasil.
Alguns professores, entretanto, como os de Geomorfologia (o geógrafo e exímio desenhista Ivo Muller Filho) e Geologia (o geólogo Pedro Luiz Sartori) foram marcantes. A tal ponto que nos dois primeiros anos minha inclinação maior foi pela Geografia Física – até hoje com carga inicial mais forte na maioria dos cursos de graduação. Já no segundo semestre do curso assumi a monitoria de Mineralogia e Petrografia, o que me levou, mais tarde, a ser convidado pelo professor Pedro para um inesquecível trabalho de campo com coleta de amostras de rochas em todo o planalto catarinense, de Chapecó, no oeste, a São Joaquim, no leste do estado (4).
Também graças a essa formação uma das primeiras disciplinas que ministrei no ensino superior (na FIC – Faculdade Imaculada Conceição, hoje Universidade Franciscana, em Santa Maria) foi Mineralogia. Um currículo que em nada parece se relacionar com as linhas de pesquisa que segui logo depois, mas que marcou de tal modo minha formação que a isso delego a constante preocupação em não dicotomizar sociedade e natureza, Geografias Física e Geografia Humana. Isso já estava evidente em um de meus primeiros artigos de divulgação, “Pela unidade da Geografia”, publicado no diário Correio do Povo, de Porto Alegre, em 1979; (5)
Eram tempos complicados, politicamente turbulentos, com o início da “abertura”, e geograficamente agitados, com a disputa entre uma Geografia quantitativa de matriz neopositivista, dita também pragmática, por suas ligações com o planejamento, e uma Geografia crítica de matriz marxista, recém chegada ao contexto brasileiro. Em Santa Maria, de certo modo uma “periferia distante”, ainda dominada por uma Geografia “tradicional” e descritiva, eu vivia um duplo dilema. Difundida desde o final dos anos 1960 no Brasil, especialmente na UNESP-Rio Claro, no IBGE e na UFRJ (onde ainda em 1982 fui obrigado a fazer provas de Matemática e Estatística para ingressar no mestrado), a chamada Geografia quantitativa só apareceria no final do curso de graduação e a novata Geografia crítica marxista simplesmente, na UFSM, não existia.
O ingresso na primeira turma do curso de bacharelado (curiosamente denominado “curso de Geógrafo”, como constava até na pasta vendida pelo Diretório Acadêmico) deu-se após novo exame vestibular, depois de já ter cursado um ano de licenciatura. A conhecida hesitação dos cursos de Geografia, Brasil (e mundo) afora, entre as áreas de Ciências Humanas e Exatas/Naturais chegou ao extremo de colocar-se o curso de bacharelado num Centro (o de Ciências Matemáticas e da Natureza como ocorre, por exemplo, com o curso de Geografia da UFRJ) e o de licenciatura em outro (Filosofia e Ciências Humanas, como na Geografia da USP).
O contexto político da época também merece ser comentado, principalmente porque estive envolvido diretamente com a política estudantil, presidindo um Diretório Acadêmico. A politica altamente conservadora do período militar fazia com que a grande maioria do movimento estudantil, principalmente em universidades interioranas como Santa Maria, fosse cooptado pela Arena, o partido governista (e sua fictícia oposição, o MDB, que assegurava a máscara democrática do regime). Durante vários anos experimentei o ocultamento pela mídia do que se passava no país, especialmente para quem vivia no interior e sem acesso às raras mídias de oposição, associado a uma avalanche de publicações governamentais (algumas gratuitas, como a revista “Rodovia”, que eu recebia). Infelizmente só fui adquirir efetiva consciência política através de um radinho de ondas curtas (onde sintonizava programas em português de rádios como Deutsche Welle, Central de Moscou e Rádio Pequim), com alguns correspondentes estrangeiros que enviavam artigos de exilados brasileiros (como Francisco Julião, das Ligas Camponesas, no México) e, já no terceiro ano de universidade, a participação, fundamental, no Congresso Nacional de Geógrafos de Fortaleza em 1978.
O fascínio pelas viagens, quaisquer que fossem, por lugares diferentes, faz parte do meu envolvimento, desde a infância, com uma espécie de “heterotopia” que bem mais tarde fui descobrir, primeiro em Foucault, depois em Lefebvre – na verdade este antecedendo àquele em termos de proposição. Para Lefebvre, em sua teoria do “espaço diferencial”, comentada em “A Revolução Urbana”, a heteropia é o “o outro lugar e o lugar do outro, ao mesmo tempo excluído e imbricado” (2004:120) – e que, ele fazia questão de enfatizar, não era representada pela separação, pela segregação que, mesmo lado a lado, distancia, e sim pelos contrastes, superposições e justaposições – uma espécie de multiterritorialidade. Para este autor, as diferenças e a heterotopia, condizente com minha atração pelas cidades, referia-se basicamente ao urbano, pois “as diferenças que emergem e se instauram no espaço não provêm do espaço enquanto tal, mas do que nele se instala, reunido, confrontado pela/na realidade urbana” (2004:117).
Como lugar de encontro e sobreposição de diferenças, dirá Lefebvre, “todo espaço urbano teve um caráter heterotópico em relação ao espaço rural” (2004:117) – embora hoje, com as novas tecnologias, nem tanto. Para uma criança e adolescente como eu, morador do campo e de embriões de cidades, as diferenças brotavam de uma apropriação do espaço em que era impossível segmentar a diferença que o próprio espaço dito natural incorporava, “produzia”, e a diferença mais estrita dessa perspectiva urbana lefebvreana. O espaço, em maior ou menor grau de urbanidade, para mim, até hoje, é um “potencializador de diferenças” (ou da multiplicidade, como diria Massey [2008]) – o espaço geográfico, em seu mais amplo sentido, efetivamente, “faz diferença” – ou melhor, pode fazer diferença, dependendo da sensibilidade e do “afeto” (a capacidade de afetar e ser afetado) constituinte da geo-história de cada um de nós.
A ida ao III Encontro Nacional de Geógrafos, em Fortaleza, foi outro momento de ruptura muito representativo. A viagem foi realizada com grande dificuldade – consegui dinheiro emprestado com meu avô e tive o apoio de amigos correspondentes ao longo dos quatro dias de percurso. O momento mais aguardado era o do retorno de Milton Santos ao país, depois de muitos anos de uma espécie de autoexílio no exterior. A mesa-redonda que ele dividiu com Maurício Abreu, representante de outra linha teórica, a geografia quantitativa neopositivista de matriz norte-americana, tornou-se até hoje um momento emblemático da Geografia brasileira. Maurício se tornaria depois meu professor no mestrado e um de meus maiores amigos . (6) O Encontro de Fortaleza também me proporcionaria a leitura da cópia clandestina de “A Geografia, isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra”, de Yves Lacoste, fotocopiada e distribuída durante o evento por estudantes da Universidade Federal Fluminense.
Com relação à ruptura com a visão tradicional e conservadora de Geografia veiculada pelo curso, ressalto dois fatores principais: meu empenho em participar desses eventos da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), fundamentais na minha formação extracurricular, e o contato com professores externos, alguns convidados especialmente para ministrar módulos de disciplinas do bacharelado que não encontravam docentes no nosso próprio Departamento, como “Geografia Teorética” (um dos nomes equivocados da Geografia quantitativa neopositivista) e “Geografia Aplicada”.
A primeira foi ministrada por Dirce Suertegaray, uma de nossas poucas professoras com pós-graduação (nesse caso, mestrado na USP), contratada como colaboradora já que estava vinculada também à Unijuí (universidade desde então reconhecida por posicionamentos críticos). Dirce, que depois foi também diretora da AGB, é hoje uma das mais reconhecidas pesquisadoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. “Geografia Aplicada”, ministrada de forma concentrada, coube aos geógrafos convidados Aluizio Capdeville Duarte e Luiz Bahiana, do IBGE/Rio de Janeiro. Destaque especial teve Aluízio Duarte, responsável depois, via correio, pela orientação de minha monografia de conclusão de curso, relativa à delimitação da área central de Santa Maria. Ele havia realizado pesquisa, referência relevante, sobre a área central do Rio de Janeiro e teve, depois, participação importante no debate que travei sobre a questão regional durante o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Com base na herança dos encontros e cursos da AGB, até hoje incentivo muito os estudantes a participarem desses eventos, fundamentais para fortalecer o espírito crítico e estimular a abertura para novos horizontes teóricos. Os encontros e cursos promovidos pela AGB, tanto em nível nacional quanto estadual (a sempre atuante AGB-Porto Alegre), foram, assim, imprescindíveis na minha formação. Foi num desses encontros estaduais, em Caxias do Sul, que tive travei meu primeiro contato pessoal com Bertha Becker, depois minha orientadora de mestrado na UFRJ.
Meu grande dilema intelectual na graduação foi que, ao mesmo tempo em que me deparava com autores, principalmente geógrafos ligados ao IBGE e à UNESP de Rio Claro, que abraçavam uma Geografia neopositivista ou quantitativa que eu praticamente desconhecia, também tomava conhecimento da renovação crítica proporcionada pela Geografia de fundamentação marxista, representada principalmente pelas figuras de Yves Lacoste em sua “revolucionária” perspectiva de uma Geografia “para fazer a guerra”, e Milton Santos, o grande geógrafo brasileiro que retornava de sua espécie de exílio e que acabaria sendo meu professor durante o mestrado na UFRJ e o doutorado na USP.
Como as mudanças nunca são lineares e unidirecionais, não se pode esquecer do convívio concomitante com a crítica, de caráter mais epistemológico (e menos político-ideológico), da chamada Geografia Humanista – aqui mais conhecida, à época, como “Geografia da Percepção”. Nesse sentido foi muito importante um minicurso ministrado em 1980 pela geógrafa Lívia de Oliveira, uma das pioneiras desse pensamento na Geografia brasileira. Também ficou nítida para mim a relevância dessa perspectiva mais subjetiva do espaço quando de uma crítica que foi feita a meu trabalho sobre a delimitação da área central de Santa Maria, no Encontro da AGB em Porto Alegre, em 1982 . (7)
Um outro momento de ruptura espacial que representou uma transformação efetiva no meu modo de ver a Geografia – e o próprio espaço vivido – foi o saída de Santa Maria para cursar o mestrado no Rio de Janeiro, “com a cara e a coragem”, em 1982. Na verdade, minha intenção inicial era cursar pós-graduação na Universidade de São Paulo – principalmente pela maior identificação com a linha teórica crítica ali predominante. A opção pelo mestrado na UFRJ, mesmo com seus temidos exames de Matemática e Estatística, deu-se em função, fundamentalmente, de três fatores: a forma mais democrática de seleção – um concurso geral e aberto – ao contrário da USP, onde o ingresso era (e ainda é) feito diretamente com o orientador e suas vagas; o antigo fascínio pela cidade e o fato de já ter conhecido a geógrafa Bertha Becker, que me estimulou a candidatar-me ao mestrado em sua instituição.
A escolha pelos temas da diferença/desigualdade regional e da identidade pode ser vinculada às experiências vividas no interior do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, percebendo o encontro entre duas visões de mundo, muitas vezes antagônicas, simbolizadas pelas geografias e histórias diversas de meu pai e minha mãe. Enquanto o primeiro representava o velho “gênero de vida” gaúcho-campeiro, identificado com a pecuária extensiva e o latifúndio e amplamente moldado pelas práticas do chamado tradicionalismo gaúcho, minha mãe carregava uma herança imigrante da “Serra” minifundiária, pautada na ética protestante da ascensão social pelo trabalho, principalmente o trabalho agrícola.
Em segundo lugar, acredito que essa minha aproximação com o tema identitário (que se estenderia até meu doutorado) teve relação também com a busca por explicar a questão identitária representada, em nível mais individual, pela nem sempre fácil relação travada com meu pai e, através dele, com a identidade regional em seu conjunto. A identidade vista enquanto processo ambíguo e contraditório está, assim, indissociavelmente ligada às dinâmicas de diferenciação, pois só se constrói o “idêntico” (ou o “semelhante”) pela construção, concomitante, do diferente. Esse jogo permanente entre identidade e diferença está moldado sempre, é claro, como enfatizado na dissertação de mestrado em relação à identidade gaúcha, por um histórico de desigualdade e poder onde hegemonia e subalternidade se conjugam na imposição daquilo que Gramsci, reunindo coerção e consenso, definiu como bloco hegemônico ou bloco histórico – neste caso, também, um bloco agrário.
Ao falar dessa construção teórico-conceitual não há como, agora, através dessas memórias, não retomar meandros da própria relação com meu pai, sempre contraditória. Minha relação com seu espaço de referência identitária, a Campanha gaúcha, seria moldada por uma profunda ambiguidade, entre a atração e a repulsa. Vagar por aquele horizonte aberto do Pampa era um convite ao desafio (misto de fascínio e temor) pela abertura permanente para o novo, o ilimitado, e pela sensação de vulnerabilidade e não ocultamento do que ainda está por surgir. Os imensos latifúndios são ao mesmo tempo símbolo de liberdade e de dominação, através das cercas impostas sobre o modo de vida livre dos povos originários. Meu pai também portava, um pouco, essa representação: rígido, intempestivo, temido e marcado por uma afetividade reprimida, um forte e muito próprio senso de justiça, ao mesmo tempo que imerso em uma recorrente situação de fragilidade econômica.
O mestrado na UFRJ e a vivência da cidade do Rio de Janeiro para um gaúcho do interior do Rio Grande do Sul foi um dilema e um enorme aprendizado. A dificuldade da adaptação foi grande, mas o Rio era também um espaço profundamente estimulante, onde tive o privilégio de viver experiências marcantes, incluindo as políticas, como a campanha eleitoral de Brizola e as manifestações pelas Diretas-Já. Com as dificuldades financeiras, não conseguindo sobreviver apenas com a bolsa e a poupança que havia construído, tive de recorrer a vários empregos, começando por dar aulas para o “1º Grau” (da 6ª à 8ª séries) em Jacarepaguá e Botafogo, fazendo concurso para o magistério estadual (aulas para adultos no Sambódromo) e para o ministério da Aeronáutica (aulas para 2º Grau no Colégio Brigadeiro Newton Braga, na ilha do Governador) e também dando aulas na PUC-Gávea, para só enfim, em 1986, ingressar na Universidade Federal Fluminense.
Entre os professores do mestrado, além dos geógrafos Bertha Becker, Maria do Carmo Galvão, Roberto Lobato Corrêa e Maurício Abreu, da socióloga Ana Clara Ribeiro e do filósofo Hilton Japiassu, tive o privilégio de ser aluno de Milton Santos, durante sua rápida passagem pela UFRJ. No período em que cursei sua disciplina, fui convidado para trabalhar em sua pesquisa sobre as transformações urbanas na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente as consequências do Projeto Rio, que então se desdobrava na área do Complexo de favelas da Maré. Esse projeto implicava na remoção de um grande número de famílias da zona de palafitas para conjuntos habitacionais – agora mais próximos, dadas as críticas sofridas pelas remoções para áreas distantes, efetuadas na década de 1960 (caso, emblemático, da Cidade de Deus) . (8)
Milton Santos teria um papel importante na minha formação. Primeiro, pelo significado de sua fala no Encontro de Geógrafos de Fortaleza, em 1978. A partir daí, as leituras de livros como “Por uma Geografia Nova”, “O espaço dividido” e “Economia Espacial: críticas e alternativas” (que ganhei de meu pai como presente de formatura) foram decisivas. Além do convite para a pesquisa na favela da Maré, no congresso da AGB em Porto Alegre (1982) ele me apresentaria o geógrafo Jacques Lévy. Uma década depois, com o próprio incentivo de Milton (e uma carta de apresentação que até hoje muito me orgulha), Jacques Lévy se tornaria meu orientador durante a bolsa de doutorado sanduíche no Instituto de Estudos Políticos de Paris. Tentei a orientação de Milton no doutorado, na USP, mas ele estava sobrecarregado de orientações. Destaco, entretanto, suas relevantes contribuições através da disciplina que cursei e de sua participação no exame de qualificação, além do generoso prefácio que fez ao livro que resultou da tese, “Des-territorialização e identidade: a rede ‘gaúcha’ no Nordeste” (Haesbaert, 1997) (9) . No doutorado tive a orientação do geógrafo Heinz Dieter Heidemann, cujo grupo de debates muito me estimulou durante o período em que, mesmo morando no Rio de Janeiro, viajava semanalmente para o doutorado na USP.
As atividades desenvolvidas com Bertha Becker durante o mestrado também devem ser ressaltadas. Com ela participei de projetos e organizei eventos, com destaque para um encontro internacional da UGI, em Belo Horizonte. Um desses eventos resultou no livro “Abordagens Políticas da Espacialidade” (Becker, Haesbaert e Silveira, 1983), com a participação dos geógrafos Edward Soja, Arie Schachar, Walter Stöhr e Miguel Morales. A pesquisa de mestrado resultou no livro “RS: Latifúndio e identidade regional” (Haesbaert, 1988), tendo como principal contribuição a elaboração de um conceito de região a partir da realidade econômica, política e cultural da Campanha gaúcha. (10)
A questão regional atravessou diretamente minha vida acadêmica ao longo de toda a década de 1980 e tem a ver não apenas com o regionalismo e a identidade regional vividos, mas também com a aposta em uma Geografia minimamente una e “integradora”. Começou pela publicação do livro “Espaço & Sociedade no Rio Grande do Sul” (Haesbaert e Moreira, 1982) e de um breve artigo sobre a regionalização do Rio Grande do Sul (na ótica centro-periferia), em 1983. A questão seria retomada em pelo menos três livros na década de 1990: “Blocos Internacionais de Poder”, de 1990 (com diversas reedições), “China: entre o Oriente e o Ocidente”, de 1994a, e “Globalização e Fragmentação no mundo contemporâneo” (como organizador e autor de dois capítulos), em 1998 (com segunda edição atualizada em 2013).
Esses últimos, juntamente com “A Nova Desordem Mundial”, escrito com o colega Carlos Walter Porto-Gonçalves, em 2006, constituem o resultado, em grande parte, de minha inserção, desde 1985, na Universidade Federal Fluminense, na área de “Geografia Regional do Mundo” – uma área pouco valorizada em termos de pesquisa se comparada com outras áreas da Geografia, pelo menos no Brasil. Por isso esses trabalhos de divulgação, de ampla inserção paradidática (“Blocos Internacionais de Poder” foi adquirido em programa governamental para bibliotecas escolares), vieram preencher uma lacuna, especialmente em relação ao ensino, onde são temáticas recorrentes, mas com grande carência de bibliografia. Abriram também perspectivas mais amplas de minha participação em projetos educativos, como a consultoria ao suplemento cartográfico “Mundo – Divisão Política” (jornal O Globo, 1993), debate e consultorias na TV Futura/Fundação Roberto Marinho (1995-96), e convites para minicursos em instituições como o Colégio Pedro II e a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro.
Durante praticamente todo meu período de Universidade Federal Fluminense trabalhei com teoria da região/regionalização. Desses debates resultaram artigos como “Região, Diversidade Territorial e Globalização” (1999) e “Morte e vida da região: antigos paradigmas e novas perspectivas da Geografia Regional” (apresentação na UNESP-Presidente Prudente, 2001). Finalmente, em 2010, publiquei o livro “Regional-Global: dilemas da região e da regionalização na Geografia contemporânea”, publicado também em espanhol em 2019.
Como contribuições teóricas, além do conceito de região já comentado, propus a noção de “rede regional” (Haesbaert, 1997), a partir da experiência des-re-territorializadora dos migrantes sulistas (ditos “gaúchos”) no interior do país. No livro “Regional-Global” elaborei a concepção de região como arte-fato, a fim de superar a dicotomia entre região como simples artifício metodológico e a região como fato concreto, evidência empírica . (11) Boa parte dessas proposições teórico-conceituais teve como pano de fundo importantes trabalhos de campo, como os que desenvolvi na Campanha gaúcha, no mestrado, nos cerrados nordestinos (especialmente o oeste baiano), no doutorado, no leste paraguaio (com os “brasiguaios”), durante a primeira pesquisa como bolsista CNPq (1998-2002), e na fronteira Brasil-Paraguai (especialmente no Mato Grosso do Sul) durante o projeto de regionalização da faixa de fronteira desenvolvido junto com o grupo Retis, da UFRJ . (12)
Outro reflexo dessa importância da questão regional em minhas investigações foi o nome dado a nosso grupo de pesquisa, criado em 1994 como “Núcleo de Estudos sobre Regionalização e Globalização (NUREG)”. Somente em 2020, com a entrada de um segundo “líder”, Timo Bartholl, ele teve sua denominação modificada para “Núcleo de Estudos Território e Resistência na Globalização”, mantendo, entretanto, a mesma sigla. O NUREG, juntamente com o PET – Programa Especial de Treinamento, que implantei na UFF em 1996 e em cuja tutoria permaneci por 4 anos, representaram ambientes de intenso debate, intercâmbio e pesquisa, tendo por ele passado inúmeros alunos de graduação, incluindo 18 bolsistas de iniciação científica, 14 bolsistas PET e 20 com trabalhos de conclusão de curso, estudantes de mestrado (29), doutorado (21) e pós-doutorado (9), além de pesquisadores estrangeiros em diversos tipos de intercâmbio.
O primeiro grande projeto fundamentalmente teórico em nossas investigações veio com a pesquisa de pós-doutorado, realizada na Open University (Inglaterra), sob supervisão de Doreen Massey (2002-2003), com quem passou a ser desdobrado intenso intercâmbio pessoal e acadêmico .(13) Refiro-me às reflexões que resultaram no livro “O mito da desterritorialização: do ‘fim dos territórios’ à multiterritorialidade” (Haesbaert, 2004), que pode ser considerado meu trabalho de maior repercussão, já tendo onze edições em português e duas em espanhol (editora Siglo XXI, México). Este livro marca a consolidação de uma segunda grande linha conceitual de debates, já aberta antes da tese de doutorado, centrada no território e nos processos de des-reterritorialização.
Embora só se tornem majoritárias na passagem dos anos 1990 para os 2000, as reflexões sobre o território vêm de longa data, remontando à influência dos trabalhos de Bertha Becker, Milton Santos e da leitura de Deleuze e Guattari, nos anos 1980. Bertha Becker incorporava o debate do território, especialmente em seus escritos sobre o papel do Estado e a “ordenação” do território. Um dos livros chave de Milton Santos nesse tema foi “O espaço do cidadão”, de 1987. Assim, em meio à finalização do livro “RS: Latifúndio e Identidade Regional”, escrevi um artigo publicado no suplemento “Ideias”, do Jornal do Brasil, em 1987, intitulado “Territórios Alternativos”. Nele eu destacava a relevância da perspectiva geográfica e as novas alternativas que se colocavam a partir da abordagem de autores como Michel Foucault e Felix Guattari (citando também Castoriadis e Baudrillard).(14) Esse artigo me inspiraria, quinze anos depois, abrindo e dando nome ao livro “Territórios Alternativos” (Haesbaert, 2002).
A preocupação com o território se intensificou na década de 1990, com a publicação de artigos, especialmente em congressos – um deles é precursor, no título e no conteúdo, de proposições muito mais aprofundadas, uma década depois, em “O mito da desterritorialização”. Trata-se de “O mito da desterritorialização e as ‘regiões-rede’” (Haesbaert, 1994b), onde era discutida a íntima relação entre território e rede e a conceituação de território-rede (15). O livro resultante da tese de doutorado (Haesbaert, 1997) trouxe no próprio título a questão da des-territorialização e apresentou o conceito de multiterritorialidade, que seria desdobrado em trabalhos posteriores e representaria uma contribuição importante no nosso campo, inclusive entre cientistas sociais de outras áreas. Era uma época de tamanho domínio do debate territorial que território muitas vezes se confundia com a própria noção de espaço. Tentávamos ali, à luz da experiência migrante, precisar um pouco mais o conceito (16).
A influência dos debates sobre território acabou se expandindo, especialmente com a publicação de “O mito da desterritorialização” (em 2004 no Brasil e em 2011 no México), influenciado pela obra de Deleuze e Guattari (especialmente “O Anti-Édipo” e “Mil Platôs”) e, uma década depois, “Viver no limite”. Neste livro diálogo com ideias como a biopolítica de Michel Foucault e o Estado de exceção de Giorgio Agamben, aprofundando noções como as de contenção, precarização e exclusão territorial. Empiricamente, volto-me para a realidade das favelas do Rio de Janeiro.
Nos anos 2000 cabe mencionar também a participação em debates a nível governamental – além do projeto desenvolvido com a UFRJ para o Ministério da Integração Nacional, já comentado, ocorreu em 2003 a “Oficina sobre a Política Nacional de Ordenamento Territorial”, em Brasília. Ali, debatendo a concepção de território a ser incorporada nessa política, tive a satisfação de discutir com colegas geógrafos como Antônio Carlos Robert de Moraes (que, defendendo uma visão estatal, discordava de minha noção de território), Wanderley Messias da Costa e Bertha Becker. O debate foi intenso, principalmente entre uma visão que eu chamaria predominantemente “de cima para baixo”, das dinâmicas territoriais centrada na própria figura do Estado, e outra mais “de baixo para cima”, focada na vivência/prática cotidianas de seus habitantes. Diversos convites recebidos de áreas externas à Geografia, como a Sociologia, a História, os Estudos Culturais, as Artes, a Literatura, a Economia, a Comunicação e até mesmo a Medicina Social demonstram a amplitude de nossa inserção no debate sobre o território, a territorialidade e os processos de des-reterritorialização.
O diálogo teórico-filosófico que pautava nossas reflexões buscou desde o início questionar as abordagens monolíticas e o autoritarismo de uma ciência objetivista e heterônoma sem, no entanto, menosprezar a busca pelo rigor conceitual, analítico, a permanente retroalimentação entre teoria e prática e, sobretudo, a prioridade à crítica social (17) . Foi assim que estivemos entre os primeiros geógrafos a questionar o excessivo racionalismo “moderno” em leituras materialistas mais ortodoxas e a inserir a dimensão cultural, mais subjetiva, na constituição do espaço geográfico. Evidências disso são artigos como “O espaço na modernidade” (escrito com Paulo Cesar da Costa Gomes em 1988), “Filosofia, Geografia e crise da modernidade” (de 1990) e “Questões sobre a (pós)modernidade” (de 1997), todos republicados em “Territórios Alternativos” (Haesbaert, 2002). No intenso debate que se travava na época entre modernidade e pós-modernidade, uma das proposições foi de que uma perspectiva distinta e transformadora da modernidade envolveria: ... a possibilidade de que, rompendo com os dualismos, se assuma um projeto profundamente renovador, que nunca se pretenda completo, acabado, que respeite a diversidade e assimile, ao lado da igualdade e do “bom senso”, a convivência com o conflito e a consequente busca permanente de novas alternativas para uma sociedade menos opressora e condicionadora – onde efetivamente se aceite que o homem é dotado não apenas do poder de (re)produzir, mas sobretudo de criar, e que a criação é suficientemente aberta para não se restringir às determinações da razão. (Haesbaert, 1990:84)
O estágio de doutorado na França, sob supervisão de Jacques Lévy, entre 1991 e 1992 foi outro momento vivido de clara ruptura de trajetória, principalmente na minha perspectiva de olhar o mundo (aquilo que mais tarde eu definiria como a característica mais marcante potencializada pelo espaço geográfico: a mudança de perspectiva). Na França – e nas inúmeras viagens realizadas a partir dali, especialmente aquelas ao Marrocos e à China/Tibet (ambas em 1992) – pude perceber pela primeira vez uma “identidade latina” – ou “latino-americana” – que, de outra forma, não seria tão nítida (18). Esse impacto das viagens no modo de olhar o mundo – que começara virtualmente com os “correspondentes” da juventude – se fortaleceu a tal ponto que boa parte de minhas economias passou a ser canalizada para essas viagens. Além das muitas viagens a trabalho, onde quase sempre proponho acrescentar uma saída de campo, durante muito tempo planejei viagens de férias nas quais, sem outro compromisso que o de um relato, redigia escritos pessoais e tirava fotos que acabaram servindo como material para dois livros de crônicas: “Por amor aos lugares” (2017) e “Travessias” (2020).
Essas viagens acabavam, de um modo ou de outro, problematizando a minha identificação pessoal e com os lugares. A questão identitária, assim, nunca saiu completamente do meu campo de preocupações. Meu memorial para professor Titular, ao qual recorri para parte deste relato biográfico, termina com o item “De volta ao início: questão de identidade”. Trata-se da busca permanente de um sentido de vida, sempre atrelado ao espaço onde nos movemos. Presente tanto no título do livro de minha dissertação de mestrado quanto no do doutorado, “identidade” é tratada a partir de sua caracterização como processo social (de “identificação”), de sua imbricação indissociável com relações de poder (o “poder simbólico”) e de sua multiplicidade. Assim, desde o artigo “Identidades territoriais”, de 1999, diversos trabalhos aprofundaram o debate teórico da questão, culminando em 2007 com a organização do livro “Identidades e territórios”, num projeto conjunto com Frederico Araújo (IPPUR-UFRJ).
Durante alguns anos dividi com Perla Zusman (UBA) a representação latino-americana do comitê de Geografia Cultural da UGI, tendo como resultado evento e livro (“Geografías Culturales”, 2011), com a presença de geógrafos como Neil Smith, Gil Vallentine, Paul Claval, Jacques Lévy, Vincent Berdoulay, Daniel Hiernaux e Alicia Lindon, além de diversos brasileiros. Em duas realizações do “Simpósio Nacional Discurso, Identidade e Sociedade” (2001 e 2006), organizado pelo departamento de Letras da UFRJ e PUC-Rio, participei como membro da comissão científica e como conferencista, além de ter publicado capítulos de livro. Os eventos promovidos por artistas mineiros na Oi Futuro-Belo Horizonte e no Museu da Pampulha (além de outro, sem publicação, na FAOP-Ouro Preto), resultaram em obras bilíngues onde também publiquei dois capítulos de livro. A artista Marie Ange Bordas, que tem um reconhecido trabalho vinculado a campos de refugiados, estimulada por meu conceito de multiterritorialidade, convidou-me para participar de publicação por ela organizada e de mesa-redonda de lançamento da obra no SESC-Pompeia (São Paulo).
Diversos outros debates envolvendo o tema foram realizados, incluindo análise da identidade brasiguaia, a questão do hibridismo cultural e, um pouco mais recente, uma associação entre transterritorialidade e antropofagia – essa forma muito brasileira, definida no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, de “deglutir” o outro e fazer dele, sempre, algo diferente. Maior hibridismo cultural, às vezes moldado de forma violenta e/ou compulsória, como aquele de muitas diásporas migratórias, mescla-se com novas formas de apego a identidades (nacionais, regionais, locais) tidas como fechadas e que, quando vinculadas a um território específico, alimentam o fenômeno dos novos territorialismos. Abre-se um amplo leque de questões, revalorizando a questão cultural-identitária, cultura vista sempre como cultura política, sem falar na mercantilização que até a imagem dos lugares pode transformar em instrumento de compra e venda.
“Não concluindo”, com a questão da identidade (e toda a polêmica que envolve o tema nos nossos dias, incluindo aqueles que questionam o termo e propõem um tratamento teórico “para além da identidade”) podemos dizer que “voltamos ao início”, já que toda a nossa trajetória foi marcada, de um modo ou de outro, pela (des)construção identitária, seja em nível mais pessoal, seja em um nível acadêmico em sentido estrito. Isso para afirmar que nossos caminhos de investigação não podem nunca ser desvinculados das questões com as quais nos encontramos mais direta e pessoal e/ou socialmente envolvidos.
Identidade/identificação lembra também o contexto espaço-temporal em que está inserido nosso pensamento, aquilo que hoje banalizou-se como “lócus de enunciação” ou “lugar de fala”. Pois é a partir da valorização desses contextos geo-históricos ou da nossa geopolítica do conhecimento (como diria, entre outros, Ramon Grosfoguel) que nos inserimos, a partir do debate pós-colonial nos anos 2000 (iniciado com a leitura de Stuart Hall), na abordagem dita descolonial, de bases latino-americanas. A participação em diversos eventos na Colômbia (universidades de Antioquia e Javeriana, de Medellín), na cidade do México, na Argentina (Mendoza e Córdoba, além de cursos ministrados em Tucumán e Buenos Aires), com estadas também em Cuernavaca e Zamora (México, onde conheci a experiência autonomista de Cherán), Quito (Equador, onde visitei uma comunidade cayambe), Lima (Peru) e Chile (com visita a uma comunidade mapuche) – tudo isso me despertou para a realidade latino-americana e acabou me levando a debater o conceito de território a partir do corpo (tal como proposto pelos movimentos feminista e indígena) e a refletir sobre a abordagem descolonial na Geografia. Isso resultou no meu último livro, “Território e descolonialidade”, publicado pela CLACSO/Buenos Aires. De alguma forma é a minha “identidade latino-americana” que finalmente se coloca no centro de minhas preocupações, em todo o jogo político-econômico que coloca a questão territorial numa inédita centralidade.
Dois momentos iniciais que considero decisivos para essa guinada rumo ao chamado giro territorial (que eu denomino também multiterritorial) descolonial na América Latina, além das leituras iniciais sobre pós-colonialidade (que se fortaleceram no pós-doutorado com Doreen Massey, em 2002-2003), foram a redação do livro “Regional-Global”, cuja conclusão coloca claramente a questão, e a organização do “IV Encontro da Cátedra América Latina e Colonialidade do Poder: para além da crise? Horizontes desde uma perspectiva descolonial”, em 2013, juntamente com os colegas Carlos Walter Porto-Gonçalves, Valter Cruz (UFF) e Carlos Vainer (UFRJ). Nesta ocasião foram nossos convidados pensadores chave nessa perspectiva de pensamento, como Anibal Quijano, Catherine Walsh, Alberto Acosta, Edgardo Lander e Luis Tapia.
É importante lembrar ainda que todo esse trabalho acadêmico estava sempre associado a atividades administrativas e em órgãos institucionais, como a vice-coordenação da Pós-Graduação por duas vezes (partilhada com o companheiro Marcio Pinon), a participação por vários anos no comitê do Vestibular e na avaliação PIBIC, além do comitê editorial da editora da UFF. Em nível nacional, participei do comitê assessor da Capes e fui representante de área junto ao CNPq. Participei ainda da fundação e, durante duas décadas, do comitê editorial da revista GEOgraphia. Nela ainda hoje sou responsável pelas seções Nossos Clássicos (que esteve também ligada ao livro “Vidal, Vidais”, organizado com os colegas Sergio Nunes e Guilherme Ribeiro) e Conceitos Fundamentais da Geografia (onde já participaram geógrafos convidados, como Paulo Cesar da Costa Gomes, Sandra Lencioni, Leila Dias, Werther Holzer e Iná de Castro).
Poderia dizer, assim, que fui gradativamente ampliando minha escala geográfica em termos de envolvimento na investigação. Da área central de Santa Maria no trabalho de conclusão de curso aos gaúchos da Campanha, no mestrado, passei aos migrantes sulistas no Nordeste, no doutorado, segui ainda pelos brasileiros (a grande maioria sulistas) no Paraguai. Somente fui deixar o vínculo com os “gaúchos” (e sua/minha identidade) ao incorporar de fato o Rio de Janeiro e sua multiterritorialidade, o que ocorreu basicamente com a pesquisa “Sociedades de in-segurança e des-controle dos territórios”, efetivada entre 2007 e 2013. Foi quando iniciou, também, meu apoio a movimentos populares como o MCP – Movimento das Comunidades Populares, especialmente seu projeto na favela Chico Mendes, no complexo de favelas do Chapadão, uma das áreas mais problemáticas em termos de precarização social no Rio de Janeiro.
A partir de 2014 a escala de pesquisa ampliou-se para o âmbito continental, tratando do “território como categoria da prática social numa perspectiva latino-americana”, consolidando assim a abordagem territorial a partir “de baixo”, de seu uso como ferramenta da prática, política, entre múltiplos grupos sociais subalternos. Como indiquei, essa ampliação veio como consequência tanto da intensificação do diálogo inspirador com colegas como Carlos Walter Porto-Gonçalves e Valter Cruz quanto dos laços com outros países da América Latina, na condição de professor visitante ou como membro efetivo de programas de pós-graduação (caso ainda hoje da Pós-Graduação em Políticas territoriales y ambientales da Universidade de Buenos Aires e do doutorado em Ciências Sociais da Universidade de Tucumán).
Com isso chego ao final dessa “autobiografia”, intitulada “Múltiplos territórios de memória”. Lamento não ter conseguido alcançar plenamente algumas das metas colocadas de início, como não ser “euclidiano” no caráter sequencial e metódico do relato ou não dissociar razão e emoção, teoria e prática. Acabei conseguindo isso um pouco mais ao falar de minha infância e adolescência. Depois a trajetória intelectual acabou sendo priorizada. Mas espero que o leitor entenda – afinal, quem por ventura ler essas linhas, a maioria certamente será de geógrafos, interessados mais na geografia como campo “científico” do que na geografia individualmente vivida. Espero não ter sido por vezes demasiado cansativo – ou mesmo, como ressaltado no início, egocêntrico.
Como uma espécie de “conclusão inconclusiva” – já que biografia, teoricamente, termina apenas com o fim de uma vida (embora saibamos quantas releituras poderão brotar depois) – eu diria que intitulei “múltiplos territórios de memória” por dois grandes motivos. Primeiro, porque nossa memória, como mencionado no início, é sempre seletiva e geo-historicamente situada – em cada momento e local fazemos uma leitura diferente de nós mesmos, explicitando certos pontos e ocultando outros. Segundo, porque a multiplicidade espacial/territorial é a grande marca que posso identificar na minha trajetória de vida.
Assim como falei de múltiplas rupturas a partir das mudanças geográficas e das viagens, múltiplas territorialidades iam se acumulando ao longo do tempo. Algumas enfraqueciam, outras emergiam com força, mas posso dizer que todas elas, em distintos níveis, continuaram sempre fazendo parte de mim. Seletivamente, é claro, mas numa construção híbrida, num amálgama que sempre foi um traço importante que carrego. Somar e sobrepor, mais do que dividir e excluir. Envolver-se e buscar compreender o espaço/território do Outro. Abertura para a multiplicidade do mundo, para a diversidade do outro, que é também a minha. Tarefa difícil, mas cada vez mais necessária, num mundo tão polarizado e excludente.
Na minha história, a geografia, a diferença que é o espaço e que se multiplica através dele, sempre amalgamou paixão e razão. Transpor limites, fronteiras, para desvendar outros espaços, construir novos horizontes, foi um desafio constante que me coloquei. Nem por isso tem a ver com uma espécie de self made man (neo)liberal – que tanto critico. Sem desconhecer a força que o indivíduo tem – ou melhor, pode ter – gostaria de finalizar lembrando o quanto o Outro e o coletivo têm papel na minha trajetória, e o quão pouco eu teria sido sem eles:
- meu pai e seu gauchismo (que, criticamente, me instigou ao longo de tantos anos de estudos), uma relação conturbada, mas ao mesmo tempo uma vida que, prolongada por 91 anos, proporcionou o tempo indispensável para que também nos amássemos;
- minha mãe, estímulo maior, sensibilidade e resistência, a quem eu afirmava em minha dissertação de mestrado: “teu carinho plantou sementes que outros campos (não importa) estão fazendo brotar”;
- minhas irmãs e irmão, cada um a seu modo, solidários na luta por superar as dificuldades de toda ordem, do emocional ao financeiro;
- meus professores, mestres complacentes e/ou desafiadores, e a escola pública, esta que cursei e em que trabalhei quase a vida toda, grandes responsáveis por me possibilitarem romper com a reclusão da minha condição de classe e de gênero;
- meus estudantes, alunos-mestres, especialmente aqueles do grupo de debates, que me ensinam cotidianamente, há décadas, os (i)limites da razão e o quanto a emoção com ela caminha junto e é indispensável para fortalecer e dignificar o trabalho acadêmico;
- meus colegas de universidade, parceiros de tantas batalhas, na gestão e na renovação de nosso departamento, na criação da pós-graduação, na valorização de nossa revista, na promoção de eventos ou no simples diálogo cotidiano dos corredores às bancas de conclusão de curso (quanto aprendizado conjunto).
- meus grandes, “velhos” amigos, batalhadores como eu, cada um com sua história de luta a nos ensinar, pelo exemplo, o quanto a vida é política, e o quanto o afeto é uma das armas mais poderosas que se pode mobilizar;
- meus amigos da ação direta, do trabalho abnegado, da ajuda mútua, das diferentes frentes de luta, que, apesar de tudo, não abrem mão de sua fé em outros mundos/territórios, sempre múltiplos, e que nunca cessarão de, conosco, batalhar por eles.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABREU, M. 1998. Sobre a memória das cidades. Revista da Faculdade de Letras – Geografia Vol. XIV.
ABREU, M. 1997. Memorial para o concurso de professor Titular na UFRJ. Rio de Janeiro (inédito).
ASSMANN, A. 2011. Espaços da Recordação: formas e transformações da memória cultural. Campinas: Editora Unicamp.
BECKER, B.; HAESBAERT, R. e SILVEIRA, C. (orgs.) 1983. Abordagens políticas da espacialidade. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Geografia.
BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. 2005. Proposta de reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Brasília: Ministério da Integração Nacional.
CALBÉRAC, Y. e VOLNEY, A. 2015. J'égo-géographie, Géographie et Cultures, n° 89/90.
HAESBAERT, R. 1988. RS: Latifúndio e identidade regional. Porto Alegre: Mercado Aberto.
HAESBAERT, R. 1990. Blocos Internacionais de Poder. São Paulo: Contexto.
HAESBAERT, R. 1991. A (des)ordem mundial, os novos blocos de poder e o sentido da crise”. Terra Livre (AGB) n. 9.
HAESBAERT, R. 1994a. China: entre o Oriente e o Ocidente. São Paulo: Ática.
HAESBAERT, R. 1994b. O mito da desterritorialização e as “regiões-rede”. Anais do 5º Congresso Brasileiro de Geografia v. 1. Curitiba: Associação dos Geógrafos Brasileiros.
HAESBAERT, R. 1997. Des-territorialização e identidade: a rede “gaúcha” no Nordeste. Niterói: EdUFF.
HAESBAERT, R. (org.) 1998 (2ª ed. 2013). Globalização e Fragmentação no mundo contemporâneo. Niterói: Editora da UFF.
HAESBAERT, R. 2002. Territórios alternativos. S. Paulo e Niterói: Contexto e EdUFF.
HAESBAERT, R. 2004. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
HAESBAERT, R. 2010. Regional-Global: dilemas da região e da regionalização na Geografia contemporânea. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
HAESBAERT, R. 2013. A global sense of place and multi-territoriality : notes for a dialogue from a “peripheral” point of view. In: Featherstone, D. e Painter, J. (orgs.) Spatial politics: essays for Doreen Massey. Oxford: Wiley-Blackwell.
HAESBAERT, R. 2014. Viver no limite: território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contenção. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
HAESBAERT, R. e MOREIRA, I. 1982. Espaço e sociedade no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Mercado Aberto.
HAESBAERT, R. e ROCHA, A. 2020. Doreen Massey, 1944-2016. In: Bright, E. e Novaes, A. (orgs.) Geographers: biobliographical studies. Londres: Bloomsbury Academic.
HAESBAERT, R. e ZUSMAN, P. 2011. Geografías culturales: aproximaciones, intersecciones, desafíos. Buenos Aires: Editora da Facultad de Filosofía y Letras da UBA.
LEFEBVRE, H. 2004 (1970) A Revolução Urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG.
LISPECTOR, C. 1943. Perto do coração selvagem. Rio de Janeiro: Rocco (disponível em: https://prceu.usp.br/repositorio/perto-do-coracao-selvagem/)
MASSEY, D. 2008. Pelo espaço. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
PETERS, M. 2000. Pós-estruturalismo e filosofia da diferença. Belo Horizonte: Autêntica.
SANTOS, M. 1997. Prefácio. In: Haesbaert, R. Des-territorialização e Identidade: a rede “gaúcha” no Nordeste. Niterói: EdUFF.
NOTAS:
1 Substitui a última palavra, “geográfica”, por “topográfica”, por entender que o topológico é outra perspectiva para a leitura do espaço geográfico.
2 Agradeço a Amélia Cristina Bezerra por essa expressão de Guimarães Rosa.
3 À época, além dos avós, viviam ali 6 de seus 11 filhos. Hoje restam ali apenas primos, sendo que um deles criou um museu (“Fragmentos do tempo”) que recupera um pouco a memória da região e da família.
4 Nesse trabalho ele confirmou sua tese de que os últimos derrames de lava do planalto meridional eram ácidos, dando origem a uma rocha distinta do basalto e que ele denominou “granófiro”.
5 "... sinto-me na responsabilidade não de atentar para uma “nova geografia”, cujo próprio sentido de “nova” é duvidoso, mas de defender seu caráter fundamental (...): a geografia como síntese, (...) de unificação das características fisionômicas e de relação no espaço em que se desenvolvem as atividades humanas. (...) ciência que nunca poderia estar seccionada, como está hoje, em trabalhos “físicos” e “humanos”, como se fazer geografia fosse trabalhar em Geografia Física ou Geografia Humana [grifados "em" e "ou"]. Afinal, o que visam nossos estudos geográficos senão a síntese, a visão global de tudo aquilo que contribui para a explicação de um ambiente, tal como é, e possibilitando prognosticar seu quadro futuro, com base também em etapas passadas?” (Correio do Povo, 17 Ago. 1979)
6 Sobre sua participação nessa mesa, Maurício assim se referiria: “A mesa redonda foi uma experiência que jamais esqueci. Ao contrário de Milton, que era ovacionado a cada ataque que fazia à ditadura cambaleante, que era aplaudido a cada crítica que fazia ao neopositivismo ou ao establishment geográfico, que levava a plateia ao delírio com seu discurso engajado, marxista, até pouco tempo atrás impensável de ser proferido numa universidade sem perseguição política ou mesmo encarceramento, tudo o que recebi da multidão foi silêncio e indiferença. De alguns recebi inclusive o rótulo de ‘reacionário’, e mesmo de ‘imperialista’. Embora não concordando de forma alguma com isso, não havia clima para retrucar. A festa era de Milton e não minha. Ao invés de brilhar, fui eclipsado. Até hoje admiro, entretanto, a coragem que tive ao enfrentar aquela multidão. E continuo gostando muito do trabalho que apresentei naquela tarde”. (ABREU, 1997)
7 O geógrafo paranaense, Lineu Bley questionou-me, a partir de sua perspectiva “humanística”, sobre o objetivismo de minha abordagem. Mesmo reconhecendo a importância da teoria que eu utilizava, destacou que ela ignorava a percepção dos próprios habitantes sobre o que seria a “área central” de sua cidade.
8 Milton propôs a aplicação de questionários (que defini em amostragem de uma centena) junto à Vila do João, conjunto recém inaugurado a cerca de 1,5 km da área residencial original. O discurso era de que com esse “pequeno deslocamento” não teriam ocorrido mudanças negativas importantes na vida dos moradores. A pesquisa demonstrou o contrário, desde o desrespeito a laços de vizinhança e o tamanho (padronizado) das casas até dificuldades no acesso a comércio e serviços. O trabalho foi apresentado no Congresso de Geógrafos de São Paulo, em 1984. Lembro a minha tensão (e ao mesmo tempo honra e gratidão) quando Milton chegou para assistir à apresentação.
9 Neste prefácio ele afirma que o estudo “foi feito com maestria notável, o autor manejando, com propriedade, princípios oriundos da filosofia e de diversas ciências humanas, de modo a produzir uma síntese geográfica com grande riqueza interdisciplinar” (p. 11), “um trabalho sério e documentado, escrito em uma linguagem meticulosa e agradável, mas sobretudo uma análise e uma síntese originais, um estudo fadado a servir como modelo de método (...) e uma importante contribuição teórica à compreensão atual de categorias tão controvertidas quanto as de territorialidade e identidade” (Santos, 1997:12).
10 “... um espaço (não institucionalizado como Estado nação) de identidade ideológico-cultural e representatividade política, articulado em função de interesses específicos, geralmente econômicos, por uma fração ou bloco ‘regional’ de classe que nele reconhece sua base territorial de reprodução”. (Haesbaert, 1988:22)
11 “... qualquer análise regional que se pretenda consistente (e que supere a leitura da região como genérica categoria analítica, ‘da mente’) deve levar em conta tanto o campo da produção material quanto o das representações e símbolos, ideais, tanto a dimensão da funcionalidade (político-econômica, desdobrada por sua vez sobre uma base material-‘natural’) quanto do vivido (simbólico-cultural, mais subjetivo) – em outras palavras, (...) tanto a coesão ou lógica funcional quanto a coesão simbólica, em suas múltiplas formas de construção e des-articulação – em que, é claro, dependendo do contexto, uma delas pode acabar se impondo sobre – e refazendo – a outra”. (Haesbaert, 2010:117)
12 Esse projeto esteve vinculado ao Ministério da Integração Nacional e foi realizado entre 2004 e 2005, através de licitação e foi coordenado pela geógrafa Lia Machado. A participação nesse projeto foi relevante não apenas do ponto de vista de minha primeira experiência direta em projetos governamentais (e consequente diálogo com autoridades como o próprio ministro da Integração Nacional – Ciro Gomes, à época), mas também pelo rico intercâmbio com o Grupo Retis de pesquisa e o trabalho de campo pela região de fronteira entre várias cidades-gêmeas (de Saltos del Guayrá-Guaíra, no Paraná, a Bella Vista-Bela Vista, no Mato Grosso do Sul), incluindo um encontro com lideranças políticas hegemônicas e dos movimentos sociais em Ponta Porã. Seus resultados foram publicados em um livro (Brasil, 2005).
13 Esse intercâmbio incluiu convite para Doreen Massey vir ao Brasil (UFF e ANPEGE-Fortaleza, 2005), tradução de seu livro “For Space” (Massey, 2008), capítulo de livro (em sua homenagem) colocando em diálogo sua concepção de lugar e a nossa de multiterritorialidade (Haesbaert, 2011), participação em mesa-redonda em sua homenagem, após seu falecimento, no encontro da AAG (Boston, 2016) e redação de sua biografia para o livro “Geographers: biobliographical studies” (Haesbaert e Rocha, 2020). A grande amizade com Doreen também me proporcionou viagens de lazer conjuntas, como a que realizamos a Jericoacoara, no Ceará, e ao Lake District, na Inglaterra.
14 Deste artigo, ressalto os seguintes trechos: “Rompendo com uma postura empobrecedora que por longa data marcou as rupturas teóricas radicais ocorridas dentro da Geografia, divisamos hoje um desejo relativamente comum do geógrafo em resgatar suas raízes e assimilar a diversidade com que o novo se manifesta, buscando com isso respostas mais consistentes e menos simplificadoras para as questões que se impõem através da ordenação do espaço e do território. (...) Ao lado da corrente majoritária de geógrafos ainda engajados em torno de teorias universalizantes, simplificadoras, quase sempre, mas ainda assim dotadas de poder explicativo relevante para muitas questões (notadamente de ordem econômica), colocam-se hoje novas exigências teóricas, capazes de responder à dinâmica múltipla e fragmentária do espaço social”. São representativos do momento de mudança que se vivia e do caráter de reavaliação de uma Geografia crítica que deixava de ser monolítica (capitaneada por um marxismo mais ortodoxo) e adquiria rumos mais plurais, com ecos do chamado pós-modernismo e/ou pós-estruturalismo, muito criticados pelo mainstream geográfico brasileiro.
15 “... nunca teremos territórios que possam prescindir de redes (pelo menos para sua articulação interna) e vice-versa: as redes, em diferentes níveis, precisam se territorializar, ou seja, necessitam da apropriação e delimitação de territórios para sua atuação. (p. 209) (...) os territórios neste final de século são sempre, também, em diferentes níveis, ‘territórios-rede’, porque associados, em menor ou maior grau, à fluxos (externos às suas fronteiras), hierárquica ou complementarmente articulados”. (p. 211)
16 “O território envolve sempre, ao mesmo tempo (...), uma dimensão simbólica, cultural, através de uma identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, como forma de ‘controle simbólico’ sobre o espaço onde vivem (sendo também, portanto, uma forma de apropriação), e uma dimensão mais concreta, de caráter político-disciplinar: a (...) ordenação do espaço como forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos. Historicamente, podemos encontrar desde os territórios mais tradicionais, numa relação quase biunívoca entre identidade territorial e controle sobre o espaço, de fronteiras geralmente bem definidas, até os territórios-rede modernos, muitas vezes com uma coesão/identidade cultural muito débil, simples patamar administrativo dentro de uma ampla hierarquia econômica mundialmente integrada”. (Haesbaert, 1997:42)
17 Ao contrário do que afirmam críticos que, em posições mais fechadas, não concebem abertura para o diálogo, elementos ditos pós-estruturalistas presentes em muitas abordagens podem perfeitamente dialogar com leituras críticas como o marxismo. Veja por exemplo, esta afirmação: “ ... pode-se afirmar que não existe nada de necessariamente antimarxista ou pós-marxista seja no pós-modernismo seja no pós-estruturalismo. Na verdade (...) é possível fazer uma leitura pós-estruturalista, desconstrutivista ou pós-modernista de Marx. Na verdade, o marxismo estruturalista althusseriano teve uma enorme influência sobre a geração de pensadores que nós agora chamamos ‘pós-estruturalistas’ e cada um deles, à sua maneira, acertou suas contas com Marx: vejam-se, por exemplo, as ‘Observações sobre Marx’ (1991) que Foucault faz (...); ou os ‘Espectros de Marx’, de Derrida (1994); ou a tese da mercantilização ‘marxista’ no livro de Lyotard, ‘A condição pós-moderna’. (...) Deleuze [que escreveu ‘O Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia’] (...) se via, claramente, como um marxista (Deleuze, 1995:171). Todos esses pós-estruturalistas veem a análise do capitalismo como um problema central” (Peters, 2000:17).
18 Além disso, é claro, a estada em Paris trouxe grandes contribuições intelectuais, especialmente através das disciplinas cursadas na Sorbonne/Collège de France ou na École des Hautes Études em Sciences Sociales (EHESS), ministradas por intelectuais reconhecidos como Cornelius Castoriadis, Pierre Bourdieu, Alain Touraine, Marc Augé e o geógrafo Augustin Berque. Participei ainda dos debates do grupo Europe, dirigido por Jacques Lévy, do Grupo Brésil no IHEAL (Institute des Hautes Études de l’Amérique Latine), dirigido por Martine Droulers, e do Centre des Recherches sur le Brésil Contemporaine da EHESS (nos três participando também como conferencista)
-
 OLGA LÚCIA CASTREGHINI DE FREITAS FIRKOWSKI
OLGA LÚCIA CASTREGHINI DE FREITAS FIRKOWSKI ELEMENTOS E FRAGMENTOS DE UMA CARREIRA DOCENTE. MEU PERCURSO PELA GEOGRAFIA
Olga Lúcia Castreghini de Freitas-Firkowski
Professora Titular do Departamento de Geografia da UFPR
Pesquisadora do CNPQ
1. INTRODUÇÃO
Este texto, registra as principais atividades desenvolvidas por mim ao longo de mais de 36 anos de formação em Geografia, com especial ênfase nos 28 cumprimos no âmbito da UFPR – Universidade Federal do Paraná. Tem como base o Memorial Descritivo da carreira Docente, formulado por ocasião da promoção à Professora Titular do Departamento de Geografia, Setor de Ciências da Terra da UFPR, apresentado em sessão pública (1) no dia 13 de novembro de 2019.
Mescla a subjetividade das lembranças e a objetividade dos comprovantes, guardados ao longo de tanto tempo. Mostra que o caminho profissional pela atividade científica é longo, não pode ser aligeirado pelos interesses de curto prazo. Sou produto da iniciação científica, trilhei os passos desejados para quem começa na pesquisa como estudante de graduação e passa por todos os ritos da formação: mestrado, doutorado, pós-doutorado.
No meu caminho cruzei com muita gente e cada um/a teve sua contribuição para que eu pudesse trabalhar, não se trabalha sozinho.... Foram professores/as, pesquisadoras/es, dirigentes, líderes de movimentos, servidores/as técnicos, pessoal da manutenção e limpeza, pessoas que entrevistei em tantas etapas de pesquisa, mas, sobretudo duas ‘categorias’ de pessoas devem ser ressaltadas: i) as pessoas de bem que sempre estiveram ao meu lado, meus amores, minha filha, meu filho, minha mãe, minhas irmãs, cunhados, sobrinhas e sobrinho, meus amigos e minhas amigas, minha secretária; ii) meus alunos e minhas alunas, que sempre me trataram com respeito e admiração, revelados em ocasiões públicas e também privadas, foram palavras que ouvi de agradecimento e reconhecimento pela seriedade do meu trabalho e que muito me fortaleceram ao longo dessa caminhada.
A seguir uma reflexão do meu trabalho, mas, sobretudo da minha vida, afinal, o trabalho como dimensão da vida, não pode dela estar dissociado.
2. QUEM SOU, DE ONDE VIM E COMO A GEOGRAFIA MUDOU A MINHA VIDA
Nascida Olga Lúcia Castreghini de Freitas, em 17 de fevereiro de 1964, no exato momento em que uma “tromba d’água” assolava a cidade de Presidente Prudente (SP), às 8h: 30min, uma vizinha foi chamada para realizar o parto, já que a parteira combinada, não conseguiu se deslocar devido às intensas chuvas. Sou a filha do meio, nascida da união de Anterino de Freitas e Áurea Olga Castreghini de Freitas, tendo Maria Isabel como irmã mais velha e Adriana como mais nova.
Seu Anterino - faleceu precocemente em 1996, aos 64 anos -, era policial militar e dona Áurea dona de casa, com habilidades acima do comum para a costura e a culinária! Escolaridade básica de ambos almejavam que as filhas pudessem avançar nos estudos, e assim se fez!
Superando as premências da vida material, empreenderam esforços imensos para que possibilitassem às três filhas aquilo que garantiria um futuro de autonomia: a formação superior.
Quis os mistérios da vida, que trabalhássemos as três, com a formação em Geografia: Maria Isabel Castreghini de Freitas atuou como professora do departamento de Planejamento Regional da UNESP campus de Rio Claro (SP), até o ano de 2018, quando se aposentou, mesma instituição onde fiz o meu mestrado, entre os anos de 1985 e 1989. Adriana Castreghini de Freitas Iasco Pereira atua no Departamento de Geociências da UEL - Universidade Estadual de Londrina (PR), coincidentemente, local onde iniciei minha carreira profissional no ensino público superior, como professora auxiliar de ensino no ano de 1987. Detalhe, ambas são Engenheiras Cartógrafas, também formadas pela Unesp de Presidente Prudente.
Somos - as três - doutoras, o que me faz lembrar um comentário lúcido de meu avô materno Caetano Castreghini - filho de imigrantes italianos que vieram para o Brasil para trabalhar na fazenda de café Guatapará em Ribeirão Preto – SP, ao dizer sobre um primo dentista que se intitulava doutor, que “só é doutor quem tem o diploma de doutor...” quando criança, nunca entendi muito bem o que ele queria dizer com isso... depois compreendi que se tratava de uma solene crítica ao “doutor social” e não ao diplomado, visão que ainda é frequente na nossa sociedade.
Morei em poucas cidades ao longo da vida: Presidente Prudente até o ano de 1985; Rio Claro (SP) entre 1985 e 1987, para cursar o Mestrado; Londrina (PR) quando assumi o cargo de professora na UEL entre 1987 e 1989; Curitiba (PR) desde 1989, quando optei por me exonerar da UEL por questões pessoais e afetivas: havia me casado (1988) com Henrique e estava a caminho nossa filha, Nicole (1990).
Porém, diversas inserções curtas me colocaram em contato com muitas outras cidades: Ourinhos (SP) no ano de 1985, atuando numa faculdade privada; São Paulo onde passava temporadas, em especial em 1985-86; Jaú (SP), onde lecionei numa faculdade privada, Ponta Grossa (PR), onde trabalhei na UEPG no primeiro semestre de 1991; Paris (FR) onde morei um ano quando realizei meu estágio de pós-doutorado (2007-2008) e Belém (desde 2015), refúgio maravilhoso na Amazônia que me restabelece e me faz lembrar dos meus tempos de criança, como numa escala diacrônica, onde tempos se cruzam em movimentos autônomos de tradição e modernidade. À Goretti (2) , devo essas novas experiências, que me impulsionaram para o reconhecimento desse país tão diverso e profundo, ampliando meus limites profissionais e pessoais, desde que nossas vidas se entrelaçaram há alguns anos.
Com Marcel (1992) conclui minha incursão pelo mundo da maternidade e não posso esquecer uma frase que escutei de uma renomada geógrafa dos anos 1970/80, profa. Helena Kohn Cordeiro, disse ela “imaginava tudo de você, menos que fosse mãe”, pois sou! e espero que tenha tido a lucidez de orientar minha filha e meu filho no caminho da solidariedade e da responsabilidade, tão necessárias num país como o nosso. Ninguém avança só, apenas o avanço coletivo pode resultar em conquistas efetivas e ganhos sociais.
Passados 36 anos de minha formatura na graduação (1984) e 28 anos como professora no Departamento de Geografia da UFPR (1992), esse texto apresenta uma espécie de balanço de minha trajetória, motivada pelo registro de meu percurso, mas também pelo desejo de reconhecer de onde vim e onde me situo no campo da produção do conhecimento e da formação em Geografia.
Revela-se, assim, uma mistura de lembranças de fatos e pessoas, reconhecimento de importantes momentos da história desse país imbricados na minha própria história, e a recuperação de uma trajetória que gerou muitos frutos, contribuiu com a formação de muita gente, reverberou em diversos lugares do país e fora dele.
Olhar o passado me permite entender o caminho trilhado, avaliar decisões, reconhecer limites e continuar a sonhar, os sonhos que me motivaram e me moveram pela vida afora.
Sempre me pergunto como teria sido se tivesse optado por um outro caminho, sim, sempre vivemos em bifurcações que nos oferecem mais de uma possibilidade de escolha. Contudo, o caminho que escolhi, me trouxe até aqui e a esse encontro comigo e com minha trajetória. É sobre ele que vou tratar.
Impossível relembrar de tudo, impossível tratar de tudo, no entanto, decidi escolher um caminho, que me permita lançar luzes sobre aquilo que vou denominar de “as primeiras experiências” em minha carreira.
Jamais pensei em fazer o curso de graduação em Geografia, pensei em história, jornalismo me fascinava. No entanto, vinda de uma família que tinha uma vida regrada e de dinheiro curto, acabei pleiteando uma vaga no Vestibular da UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", campus de Presidente Prudente, que à época se denominava IPEA - Instituto de Planejamento e Estudos Ambientais, desde o ano de 1989 o campus passou a se denominar Faculdade de Ciências e Tecnologia. Iniciei meu curso de graduação no ano de 1981, com 17 anos, absolutamente sem saber o que me esperava. Passei no primeiro vestibular que fiz. Uma surpresa.
Nunca soube, ao longo de toda minha vida, o que é pagar por ensino, nunca estudei em escola privada, jamais gastei um centavo com minha formação, absolutamente toda ela se fez no ensino público: primário no Grupo Escolar Arruda Mello, em Presidente Prudente, iniciado no ano de 1970, primeiro ano em que havia turmas mistas, uma revolução a reunião de meninas e meninos em uma mesma sala de aula! Ginásio na Escola Estadual Florivaldo Leal e Colegial no Instituto de Educação Fernando Costa (3).
Me lembro de alguns fatos marcantes, dentre eles o rigor da disciplina: o ato de levantar da cadeira assim que o professor/a ou diretor/a entrasse na sala de aula; a obrigatoriedade da participação nos desfiles de 7 de setembro (uma vez, inclusive, fui a porta-bandeira!); o sinal que marcava o início e o final da aula; o uniforme, primeiro saia plissada xadrez escura e blusa branca com o emblema da escola bordado no bolso, passando por um guarda-pó com o emblema não mais bordado mas decalcado e, por fim, a camiseta e calça jeans. A transformação nas regras e no vestuário eram indícios da liberação do rigor da vestimenta e da ampliação do acesso aos níveis básicos de formação escolar, ampliando essas oportunidades para parcelas mais amplas da população.
Outro fato marcante eram as aulas de francês, porque, naquela época era o francês a língua estrangeira oficial no colégio e não o inglês como na atualidade.
Me lembro de um episódio muito interessante quando estava na 7ª série, no ano de 1976 e com 12 anos, a chegada de uma nova aluna na sala, proveniente de Angola (África), uma moça branca, alta, e com um sotaque estranho, pois bem, era a fuga da guerra que marcava a retirada dos portugueses do território conquistado. Ficava fascinada com as estórias, em especial aquelas que se referiam à fuga deixando todos os bens e pertences para trás.... talvez tenha sido meu primeiro contado com uma realidade tão longínqua....
Eu nunca soube ou imaginei onde a Geografia me levaria, mas eu sabia que me permitiria mudar de vida e mudar a minha vida!
Me lembro da dedicação aos estudos, da seriedade com que sempre me lancei aos conteúdos de cada uma das disciplinas que cursei na graduação. Me lembro dos finais de semana estudando para as provas; da realização de trabalhos individuais ou em grupo, das leituras, da curiosidade pelo novo universo que se descortinava em minha vida.
Cursei as seguintes disciplinas, cujos programas ainda guardo comigo e me permitiram transcrever seus títulos e responsáveis. Rever os nomes das disciplinas, evidencia as mudanças e as permanências havidas na definição do currículo do curso de Geografia ao longo de décadas.
No ano de 1981: História Econômica Geral e do Brasil, com Dióres Santos Abreu; Geografia Física, com João Afonso Zavatini; Fundamentos de Petrografia, Geologia e Pedologia I, com José Martin Suarez, mais conhecido como Pepe; Elementos de Matemática, com Roberto Bernardo de Azevedo; Economia I, com Marcos Kazuharu Funada; Cartografia e Topografia I, com Adalberto Leister; Antropologia, com Ruth Kunzli; Análise Estatística, com Antonio Assis de Carvalho Filho; Geografia Humana I, com Eliseu Savério Sposito; Educação Física, com Mário Artoni, e Sociologia I, com Marília Gomes Campos Libório.
No segundo ano de faculdade, 1982, cursei: Psicologia da Educação, com Antonia Marini, História Econômica Geral e do Brasil II, com Jayro Gonçalvez de Melo e Maria de Lourdes Ferreira Lins; Fundamentos de Petrografia, Geologia e Pedologia II, com José Martin Suarez; Etnologia e Etnografia do Brasil, com Ruth Kunzli; Estudos de Problemas Brasileiros, com Maria de Lourdes Ferreira Lins; Climatologia I, com Hideo Sudo; Cartografia e Topografia II, com Adalberto Leister, Aerofotogrametria, com Lúcio Muratori de Alencastro Graça e Raul Audi e Geografia Regional: organização do espaço I, com João Paulo.
Em 1983, foram cursadas as seguintes disciplinas: Geomorfologia I, com Marília Barros de Aguiar; Geografia do Brasil I, com Armando Pereira Antonio; Didática, com Josefa Aparecida Gonçalves Grígoli; Biogeografia, com Messias Modesto dos Passos; Geografia Regional: organização do espaço II, com José Ferrari Leite e Geografia Urbana, com Maria Encarnação Beltrão Sposito.
Em 1984 foram: Sociologia II, com José Fernando Martins Bonilha; Fotointerpretação, com Maria Heloisa Borges e José Milton Arana; Prática de Ensino, com Maria Ignes Sillos Santos; Metodologia em Geografia, com Augusto Litholdo; Geografia do Brasil II, com Fernando Carlos Fonseca Salgado; Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º e 2º Graus, com Tsutaka Watanabe; Conservação Ambiental, com Valdemir Gambale; Geografia Humana II, com Olimpio Beleza Martins; Geografia da Circulação e dos Transportes, com Fátima Rotundo da Silveira; Economia II, com Tomás Rafael Cruz Cáceres; Planejamento Regional, com Antonio Rocha Penteado; Introdução do Planejamento, com Yoshie Ussami; Geografia Rural, com Miguel Gimenez Benites e Geografia Regional: estudo de caso, com Armando Garms.
Me lembro da felicidade quando descobri que havia trabalho de campo em Geografia, para desespero de minha mãe, sempre avessa às viagens...
Entrei em um curso cujo conteúdo desconhecia, minha aproximação com essa disciplina no ensino básico não foi tão agradável a ponto de desejar me aprofundar nela.... Práticas de decorar textos, temas e pontos... a mais pura manifestação da Geografia Clássica ou Tradicional. Mas me lembro de um trabalho aplicado da disciplina por volta da 5ª série, ministrada pela profa. Suria Abucarma: mapear os usos do solo numa importante rua central de Presidente Prudente, a Tenente Nicolau Maffei. Fiz o trabalho, mas desconhecia seu propósito... hoje sei o que significa e o que ela queria nos mostrar com esse levantamento.
Quando comecei a graduação, o interesse pelos lugares distantes me tomou de assalto! Me lembro de escrever para embaixadas e consulados solicitando materiais sobre os diversos países, recebi muita coisa da Itália, Holanda, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, França, dentre outros. Um fascínio pelas imagens, paisagens, culturas, me tomava e o desejo de conhecer o mundo se fortalecia.
No primeiro trabalho de campo de Geologia, promovido pelo prof. Pepe (José Martins Soares) em 1981, o destino foi a Serra da Fartura em São Paulo, o segundo, da mesma disciplina, foi para Curitiba e Paranaguá (1981)! Como poderia imaginar que viveria em Curitiba por mais de 30 anos! As surpresas da vida....
Viajei muito na época da graduação, tanto em razão dos trabalhos de campo, quanto de minha atuação na AGB – Associação dos Geógrafos Brasileiros, seção local de Presidente Prudente que, a partir dos novos ares advindos com as mudanças no início dos anos de 1980, permitia a participação de alunos como filiados, bem como nas diretorias locais. Dessa época me lembro de viagens para participar das gestões coletivas, ou seja, uma nova forma de discutir e deliberar sobre os rumos da entidade, resultante das novidades da democracia que começava a se insinuar no país, ao mesmo tempo em que a Geografia se direcionava à uma leitura crítica do espaço, alterando sua trajetória tradicional e quantitativa precedente.
Também comecei a participar de eventos em outras cidades, me lembro de uma longa viagem de micro-ônibus entre Presidente Prudente e Porto Alegre (cerca de 1.300 km), por ocasião do V Encontro Nacional de Geógrafos em 1982 e de um trabalho de campo para o Pantanal e Corumbá destino inesquecível: parte da viagem de ônibus e parte no famoso trem que cruzava o Pantanal, pela estrada de ferro Noroeste do Brasil. Viajei muito, conheci pessoas e lugares, ampliei meus horizontes. Uma frustração: não ter participado das atividades do Campus avançado que a Unesp mantinha em Humaitá no Amazonas, ainda não estive nessa porção da Amazônia... mas estou cada dia mais perto!
Fui uma aluna aplicada, ativa, interessada, questionadora...o que me causou alguns dissabores com certos professores. Uma coisa que nunca fiz foi me envolver na política estudantil observada a partir da atuação em centro acadêmico e semelhantes, não sei explicar a razão. Contudo, fui representante discente em várias instâncias e momentos da minha vida como aluna (integrei a Comissão especial para elaboração de anteprojeto dos regulamentos dos Cursos de Pós-Graduação em Geografia da UNESP, campus de Rio Claro no ano de 1985, e fui representante discente junto ao Conselho do curso de Pós-graduação em Geografia da mesma instituição no ano de 1986), depois também tive várias representações como professora, mas com a política estudantil e sindical nunca me envolvi. Como representante discente na pós-graduação, participei ativamente das discussões que ocorriam em torno da criação de uma entidade específica ligada à pós-graduação, mais tarde surgiria a ANPEGE – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia, criada em 1993.
No final do ano de 1982, o Prof. Eliseu Sposito me chamou em sua sala e me indagou sobre meu interesse em elaborar um projeto para submissão ao CNPQ com vistas à uma bolsa de iniciação científica. Obviamente eu não fazia ideia do que era isso, mas, prontamente concordei. De modo a testar o meu real interesse, estabeleceu um cronograma de leituras e discussão de um livro, cujo título me foge à lembrança, mas era algo como “Evolução da geografia humana” (4) uma edição em espanhol, que cuidadosamente lia de modo a apresentar minha compreensão ao professor em encontros periódicos de discussão.
Outras leituras se sucederam até que conseguimos avançar na formulação de um projeto de Iniciação Científica a ser submetido ao CNPQ, importante lembrar que àquela época, o funcionamento da agência era distinto de hoje, não havia cota para professor, mas projetos aprovados individualmente no mérito. Foi um desafio, mas no ano de 1983, comecei a ser bolsista do CNPQ! Com conta no banco do Brasil e direito a talão de cheque! Isso precedeu a emergência do cartão de crédito, eram outros tempos!
O projeto intitulava-se “A aplicação do capital local no setor secundário em Presidente Prudente” e tinha por objetivo entender o processo de industrialização daquela cidade. Foi desafiador, mas também empolgante: realizava com muito entusiasmo as entrevistas em campo, conheci todas as poucas indústrias da cidade – registre-se que esse nunca foi o forte da economia prudentina. Uma situação particular deve ser lembrada: o prof. Eliseu ainda não era mestre e, portanto, precisou acionar o prof. Olímpio Beleza Martins, já doutor, para que fosse o solicitante oficial da bolsa. Assim seguimos renovando com sucesso a bolsa de IC até a conclusão de minha graduação no final do ano de 1984.
Dois registros importantes dessa fase: i) o primeiro trabalho apresentado num evento nacional e ii) o primeiro artigo publicado em periódico científico.
O primeiro trabalho apresentado em evento foi no ano de 1984, por ocasião do 4º Congresso Brasileiro de Geógrafos, realizado pela AGB (de 14 a 21 de julho de 1984, na USP), justamente em comemoração aos seus 50 anos de fundação. Eu, uma jovem de exatos 20 anos, participando de um evento histórico. O detalhe: chego à USP e encontro uma colega de militância da AGB, ela, com a programação em punho me diz algo como “não se preocupe, vai dar certo”, eu sem entender, pergunto o porquê do comentário. Para minha surpresa meu singelo trabalho originário de uma pesquisa de iniciação científica estava escalado para ser apresentado num dos maiores auditórios do evento (na Escola Politécnica da USP) em razão de estar alocado numa sessão temática que discutia a economia. Sim, meu tema era a industrialização em Presidente Prudente. Mas isso não era tudo: na mesma mesa que eu, simplesmente estava um dos mais festejados nomes da Geografia brasileira àquele momento: o prof. Rui Moreira, éramos dois na mesa! Rui tratava do tema da “subsunção formal e subsunção real” no capitalismo... naquele momento não fazia ideia do que se tratava.... Num auditório lotado, com pessoas sentadas no chão, um debate ferrenho se seguiu e, dentre os arguidores, nada menos que Prof. Milton Santos.... Por delicadeza, algumas questões foram dirigidas a mim. Penso que esse excesso de democracia na organização das mesas poderia ter me custado caro, em termos da instalação de um grande trauma na minha primeira vez... Contudo, isso não ocorreu, acho até que isso me impulsionou, percebendo que havia uma possibilidade concreta de aproximação entre pessoas de diferentes níveis de formação. Isso me proporcionou uma lição: o cuidado com a preservação das pessoas em seus níveis de formação. Muitos anos depois, conheci uma geógrafa que me disse “nunca vou me esquecer de você, naquela mesa, naquele congresso”. Foi assim minha primeira apresentação, e muitas outras vieram na sequência.
Não tenho o registro de todos os eventos dos quais participei, mas voltarei a esse tema oportunamente.
O primeiro artigo publicado foi:
FREITAS, Olga L. C. de Capital e força do trabalho no setor secundário em Presidente Prudente. Caderno Prudentino de Geografia. Presidente Prudente: AGB, n. 8, 1986, p. 15-32. Edição disponível on line em: http://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/view/6255/4788
Recolho essas referências de um exemplar da publicação original que guardo comigo e revela um outro tempo e uma outra lógica dos periódicos em nosso país. Registro que participei do nascimento do Caderno Prudentino de Geografia, porque fazia parte da AGB como segunda tesoureira na gestão de 1982 (a primeira edição foi em 1981) e porque era eu quem juntava a capa padrão às páginas mimeografadas e fazia a encadernação da referida publicação, com um grampeador manual. Assim era nos velhos tempos...
No inverno de 1983, tive uma experiência muito relevante, fiz estágio voluntário na EMPLASA – Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S.A., tendo estagiado junto à Superintendência do Sistema Cartográfico Metropolitano. Na ocasião, a empresa preparava um Atlas da Região Metropolitana de São Paulo e eu fui designada para estagiar na preparação dos rascunhos de diversos mapas e no teste do uso de cores nos mesmos, trabalho manual, que precedeu às técnicas computadorizadas atuais. Trabalhei sob a supervisão de uma renomada geógrafa dos tempos da Geografia Tradicional: profa. Nice Lecocq Müller. Foi uma experiência muito proveitosa e me despertou o interesse pela formação técnica em geografia, expressa pelo bacharelado.
Importante registrar que nessa época eram intensos os debates em torno da regulamentação da profissão de Geógrafo, o que ocorreu por meio da Lei Federal 6.664, de 26 de junho de 1979.
3. A PÓS-GRADUAÇÃO, UM PERCURSO DE DESAFIOS E APRENDIZADOS
Finalizada a graduação, decidi sair de Presidente Prudente, mesmo porque àquela época não havia sido implantado ainda o programa de pós-graduação, o que só viria a ocorrer no ano de 1987. Tinha alguns destinos possíveis: USP e UNESP de Rio Claro, além de uma remota possibilidade da UFRJ.
Fiz o processo seletivo em Rio Claro e fui aprovada. Meu tema era a indústria e a orientadora Profa. Silvia Selingardi Sampaio. Contudo, o desejo de cursar a USP e de morar em São Paulo me levou também a me submeter ao processo seletivo daquela instituição. Depois de aprovada na prova de línguas, fui para a entrevista com a orientadora indicada, de quem ouço que as vagas daquele ano estavam comprometidas, mas eu poderia aguardar as do próximo. Agradeci e voltei para Rio Claro, onde uma bolsa estava garantida em razão de meu desempenho no processo seletivo.
Resolvi interagir com a USP de outra forma, cursei no ano de 1985 a disciplina ofertada pelo recém retornado ao Brasil, Prof. Milton Santos, eram cerca de 8 alunos na sala, eu e Glaúcio Marafon (UERJ), nos deslocávamos de trem toda semana para as aulas. A disciplina intitulava-se “A reorganização do espaço geográfico na fase histórica atual”, cursada no segundo semestre de 1985.
Milhares de lembranças me voltam à memória, mas uma em especial me marcou muito. Professor Milton tinha por prática iniciar os trabalhos de um novo semestre letivo com os alunos do semestre anterior apresentando seus trabalhos. Foi assim que na primeira aula do semestre seguinte, retornei a São Paulo para apresentar o trabalho de conclusão de curso que tratava da relação entre distância absoluta e relativa no estado de São Paulo partindo do tempo de deslocamento por trem ou rodovia. A ideia era: o longe pode estar conectado por vias eficientes que o tornam perto e o perto pode estar longe em razão das deficiências do transporte. Após minha exposição uma aluna da nova turma me indaga porque eu não fiz isso ou aquilo, poderia ter inserido essa ou outra coisa, deveria ter ido por outro caminho.... ao que o Prof. Milton intervém e com a solenidade natural de sua pessoa diz “nós não viemos aqui para dizer o que Olga deveria ter feito, nós viemos aqui para discutir o que Olga fez”, lição que carrego comigo desde então! Obrigada professor por sua generosidade (lembro que eu tinha apenas 21 anos nessa época).
Outra lembrança desse período diz respeito às leituras indicadas pelo Prof. Milton Santos, dentre elas, um pequeno livro editado pelas Edições Progresso de Moscou, em português de Portugal, que discorria sobre os modos de produção ao longo da história. Tratava-se do exato momento da renovação da Geografia brasileira em direção ao marxismo. Jamais tinha sido iniciada nas leituras sobre modo de produção e sequer sabia o que isso significava. Porém, como aluna aplicada que sempre fui, tomei a providência de comprar o livro (que guardo até hoje) e de estudar detidamente o tema. Foi o que me salvou, pois na aula subsequente, prof. Milton me escalou para discorrer sobre o tema lido!
No mestrado, fui orientada pela Profa. Dra. Silvia Selingardi Sampaio, que me ensinou muito, em especial sobre postura, método, disciplina, pontualidade e rigor. O trabalho orientado foi intitulado “A industrialização recente do município de Limeira em face do contexto industrial paulista” e o título obtido em 1989, rigorosamente dentro dos prazos previstos à época: 4 anos. A defesa ocorreu no dia 19 de dezembro de 1989 e a banca foi constituída pela Profa. Yoshiya Nakagawara Ferreira (UEL) e pelo Prof. Jurgen Richard Langenbuch (UNESP – Rio Claro).
Passagem que merece registro: fui bolsista CNPQ e pleiteei uma bolsa da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), notoriamente a instituição que melhor remunerava as bolsas àquela época. Feliz por ter sido aprovada num processo rigoroso de seleção de bolsistas, declinei da bolsa CNPQ. Para minha surpresa, pelas contingências daquele momento histórico e político, talvez aquele ano de 1987 tenha sido o único na história da FAPESP que o valor das bolsas tenha sido inferior a qualquer outra agência no país. E eu era bolsista!!!
No mestrado encontrei as condições de ampliar minha participação em eventos e quero aqui ressaltar outra primeira vez que foi muito importante: minha participação, como ouvinte, no 1º Encontro de Geógrafos da América Latina – EGAL (5 a 10 de abril de 1987), realizado em um hotel escola na cidade de Águas de São Pedro, eu e minha grande amiga e colega de geografia Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (atualmente diretora do IGC-UFMG), íamos de manhã e voltávamos a noite de ônibus, pois nossa condição financeira não nos permitia arcar com as diárias daquele hotel. Era um evento pequeno, todas as mesas redondas e apresentações de trabalho ocorriam num mesmo auditório, todos os inscritos participavam de tudo, não havia a grandeza dos eventos atuais e o seccionamento dos espaços de discussão.
No ano de 2019, depois de algumas outras edições que participei, estive em Quito no Equador participando, com apresentação e trabalho, do XVII EGAL, portanto, vivi essa história.
Quero destacar, ainda, minha presença em dois outros primeiros eventos: o I Simpósio Nacional de Geografia Urbana, realizado na USP entre 20 e 23 de novembro de 1989 e o I Encontro Nacional de Pós-Graduação em Geografia, realizado em São Paulo entre os dias 16 e 18 de dezembro de 1984. Sobre ambos, registro que meu orientado de Iniciação Científica Luiz Felipe Élicker e eu tivemos trabalho apresentado no XVI SIMPURB, que foi realizado em Vitória (ES) entre os dias 14 e 17 de novembro de 2019, e ainda que entre os dias 2 e 6 de setembro de 2019, integrei a coordenação do GT 41 Metrópole e Região, no interior da programação do XIII Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, realizado na USP.
Constatar que estive nas primeiras edições de eventos tão relevantes para a Geografia brasileira e latino-americana, permite refletir sobre o período de renovação dessa área do conhecimento, ocorrido a partir dos anos de 1980.
Não foi apenas a diversificação e a especialização dos eventos que teve início nesse período (anos de 1980), esse também foi um tempo de nascimento de um mercado editorial nacional sobre os temas da Geografia. Como não lembrar que minha formação se deu por meio da leitura de muitos textos clássicos e de autores, em sua maioria, franceses? Como não mencionar que Pierre George estava à frente da maioria dos títulos que trabalhávamos no curso de graduação?
Para todas as especialidades da geografia humana, lá estava um livro de Pierre George a nos fornecer uma vasta coleção de informações, bem como apontar caminhos para a reflexão.
A inserção desse autor no mercado editorial brasileiro, foi uma extensão de sua presença no mercado editorial francês, facilitado pela publicação por meio da PUF - Presses Universitaires de France, que publicava uma coleção de grande importância na divulgação de temas das ciências humanas que se intitulava Que sais-je? (literalmente: que sei eu?), traduzida para o português como Coleção Saber Atual e publicada pela DIFEL (Difusão Européia do Livro – hoje Bertrand Brasil). Ainda hoje tenho vários exemplares dessa época, livros em formato pequeno que assumiu as cores branco e verde como padrão, inconfundível...
Assim, para além da qualidade e variedade do conteúdo de seus livros, parte de sua influência foi razão direta de um acanhado mercado editorial nacional, com poucos títulos de geógrafos/as brasileiros/as, fato que só se alteraria após final dos anos de 1980 e que nos permite hoje ler e indicar aos alunos que leiam uma grande variedade de autores/as nacionais e livros a preços acessíveis.
Temos hoje, uma produção geográfica de alta qualidade produzida no e a partir da realidade brasileira, fato que mudou certamente a grande dependência que havia em relação à geografia francesa.
Para se ter uma ideia da vasta obra de Pierre George, basta citar alguns dos títulos mais conhecidos de seus livros, a grande maioria publicado entre 1950 e 1970 e disponível em língua portuguesa: Geografia Industrial do Mundo (1963); Geografia Agrícola do Mundo (1965); Geografia da União Soviética (1961); A Geografia Ativa (1968); Geografia urbana (1961); Geografia econômica (1961); A Geografia do Consumo (1971); Geografia agrícola do mundo (1975); A ação do homem (1971); Os métodos da Geografia (1972); O meio ambiente (1973); Sociedades em Mudança. Introdução a uma Geografia Social do Mundo Moderno (1982).
Me lembro que, em meados dos anos de 1980, surgiu no Brasil uma editora que inovaria a produção editorial da Geografia brasileira, tratou-se da Editora Contexto, por meio da Coleção Repensando a Geografia. Vários autores brasileiros foram convidados a publicar textos que, como o nome sugere, promoviam um repensar dos caminhos dessa área do conhecimento no Brasil. Os livros de capa marrom e padronizada, com número pequeno de páginas, favoreciam a leitura e a aquisição, tendo em vista os altos preços dos livros à época.
Guardo até hoje diversos volumes em suas edições originais, acompanhei, portanto, o surgimento dessa novidade, que se revelou de suma importância na popularização e divulgação científica.
Passados 6 anos do término de meu mestrado e já atuando no Departamento de Geografia da UFPR, era hora de retomar meus estudos e realizar o doutorado. Decidi conhecer mais profundamente a USP, e lá realizar meu doutorado. Numa primeira tentativa no ano de 1995 não fui selecionada, retornei dois anos depois (1997) e então obtive a aprovação numa das vagas disponibilizadas pela Profa. Dra. Sandra Lencioni.
Foram anos difíceis: filhos pequenos, viagem de ônibus, recém-empossada num cargo administrativo junto à Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFPR. Mas seguimos, com comprometimento de meu marido à época e de minha mãe que se mudou para Curitiba após o falecimento de meu pai.
Minha rotina de viagem implicava em sair de Curitiba com o ônibus das 6 h da manhã, assistir aulas no período da tarde e retornar no ônibus das 19 h, embarcando no Butantã por volta das 20 h. Dia seguinte, compromissos na PROGRAD. Assim foi por pouco mais de um ano, até o final da gestão de reitor do Prof. Dr. José Henrique de Faria (1998), após o que obtive licença integral para realizar meu doutorado.
O tema de minha tese de doutorado ainda fazia referência à indústria, mas inseria uma outra dimensão que muito me encantou desde então: a metrópole.
Curitiba estava fervilhando em termos de sua inserção na mídia e no marketing urbano. Um processo importante de implantação de indústrias se verificava, com ênfase nas montadoras de veículos: Renault, Audi-VW e Chrysler. Uma nova oportunidade de pesquisa se anunciava e nela investi minhas forças intelectuais. Esse momento resultou em frutos saborosos, voltarei a eles em breve.
Minha tese, intitulada “A nova territorialidade da indústria e o aglomerado metropolitano de Curitiba”, foi defendida em 21 de dezembro de 2001. A banca foi composta pelos professores: Dra. Silvia Selingardi Sampaio (UNESP – Rio Claro); Dr. Eliseu Saverio Sposito (UNESP – Presidente Prudente); Dra. Silvia Maria Pereira de Araújo (UFPR) e Dr. Francisco Capuano Scarlato (USP).
Aprendi muito nesse tempo, conheci pessoas, ampliei amizades e relações. A competência de Sandra foi fundamental na consolidação dessa nova etapa. Os colóquios de orientação nos permitiam expor nossos temas e, ao mesmo tempo, sair deles, interagindo com os demais colegas.
A ampliação das leituras, os debates, os eventos, tudo convergiu para a solidez da formação nesse nível. Para além do trabalho, estabeleci com Sandra uma amizade que nutro com muito carinho e admiração.
Enfim, o título de doutora me lançaria a outras demandas, como é esperado, e em seguida o trabalho se avolumou, em especial pelo fato de que a área de Geografia Humana era extremamente frágil no Departamento de Geografia da UFPR.
4. O PERCURSO PROFISSIONAL E A CARREIRA DOCENTE
Minha primeira experiência formal em sala de aula ocorreu de outubro a novembro de 1983, quando atuei como professora substituta na EESG Monsenhor Sarrion, em Presidente Prudente (SP). Quando adentro a sala, em substituição a uma professora em licença saúde, me deparo com um jovem sentado na última fileira e se esquivando de meu olhar, para minha surpresa eu seria professora de um vizinho e amigo de brincadeiras de infância. O acanhamento foi dele....
Duas outras experiências foram importantes: a da Faculdade Miguel Mofarrej em Ourinhos (SP), para onde viajava desde Rio Claro para ministrar 4 aulas na sexta-feira a noite e depois retornava (cerca de 250 km entre ambas as cidades), no ano de 1985 e aquela que me levou a passar dois dias por semana em Jaú na FAFIJA, entre os anos de 1986 e 1987, trabalhando com duas disciplinas na graduação em Geografia e algumas turmas no segundo grau, hoje ensino médio. Dessa experiência, resultou pela primeira vez uma homenagem na formatura, quando fui patronesse da turma de formandos do ano de 1988.
Contudo, posso dizer que começo efetivamente minha carreira profissional com a aprovação no concurso público para o departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina, no ano de 1987. Ainda era mestranda, num tempo em que a titulação era ainda rara. Fui aprovada em primeiro lugar e me mudei para Londrina.
Trabalhei com várias disciplinas, mas minha prioridade era finalizar meu mestrado, de interesse pessoal e institucional. Fiz muitos/as amigos/as, em especial Francisco Mendonça, colega de departamento lá e cá!
Em, 1990, após a defesa de meu mestrado e por questões de ordem pessoal já mencionadas, me exonerei da UEL e me mudei para Curitiba.
Passei a trabalhar no Colégio Dom Bosco, lecionando para 7ª e 8ª séries. Foram anos difíceis e de muita insatisfação profissional. Passei a elaborar o material didático de Geografia do colégio, uma boa experiência.
No ano de 1991, fiz meu segundo concurso público, para o departamento de Geociências da UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa, a área era cartografia temática! Passei em primeiro lugar e por lá fiquei pouco mais de um semestre por não encontrar o ambiente de trabalho que desejava.
No ano de 1992 submeto-me ao meu terceiro concurso público, dessa vez para o departamento de Geografia da UFPR - Universidade Federal do Paraná. Novamente fui aprovada em primeiro lugar. A partir daí começa o capítulo mais duradouro de minha vida profissional.
Fui nomeada por meio do Termo de Posse n. 347/92 do Processo n. 36837/92-38, no dia 15 de dezembro de 1992 para o cargo de Professor do Grupo Magistério Superior, classe Assistente, Nível I, lotada no Departamento de Geografia, Setor de Tecnologia, em regime de 20 horas semanais e com o salário de Cr$ 1.224.602,11 (hum milhão, duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e dois cruzeiros e onze centavos). No dia 16 de fevereiro de 1993, solicitei a mudança no regime de trabalho e passei a ser Dedicação Exclusiva.
Em novembro de 2019, fui promovida, após defesa de Memorial da Carreira Docente, à Professora Titular do Departamento de Geografia da UFPR. Desde meu ingresso como Professora Assistente, galguei todos os níveis de progressão até encontrar-me hoje, no ápice da carreira.
Voltando ao início dessa caminhada, em 1993 me foram atribuídas as seguintes disciplinas na graduação: Geografia da Atividade Industrial, objeto do concurso que realizei, além de Geografia Física Básica para o curso de Ciências Sociais e Cartografia Temática. No ano de 1994 ministrei, além de Geografia Industrial, Fundamentos de Geografia e Orientação à Pesquisa geográfica.
A oferta da disciplina de Geografia Física Básica me inseriu no curso de Ciências Sociais, onde participei do primeiro grupo de pesquisas formalizado, o GEAS – Grupo de Estudos Agricultura e Sociedade, coordenado pela Profa. Roseli Santos. Lá conheci também a Profa. Ângela Damasceno Duarte, com quem viria a trabalhar anos mais tarde no Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Também integrei o Colegiado do Curso de Ciências Sociais.
Trabalhei com várias disciplinas na graduação, mas desde o ano de 2001, é a Geografia Urbana que tenho sob minha responsabilidade, além de períodos ministrando Geografia Industrial e mais recentemente, uma optativa denominada Urbanização e Metropolização.
O departamento de Geografia contava com poucos titulados no momento de meu ingresso. Nos anos de 1990 um vigoroso processo de titulação foi posto em marcha, sob a batuta do competente e saudoso Prof. Naldy Emerson Canali. O desafio era titular os docentes e construir uma proposta de pós-graduação. Devo registrar o entusiasmo de alguns colegas, em especial: Francisco Mendonça (que ingressou na UFPR no ano de 1996), Chisato Oka Fiori, Ines Moresco Danni Oliveira, ambas hoje aposentadas, Sylvio Fausto Gil Filho, dentre outros.
Nos anos seguintes ao meu ingresso, tive várias inserções em atividades de representação, tanto na PROEC – Pró Reitoria de Extensão e Cultura, como na PROGRAD – Pró Reitoria de Graduação, essa última resultou na criação do Programa Prolicen na UFPR, sob minha coordenação no ano de 1995 e posteriormente no cargo administrativo de Coordenadora Central dos Cursos de Graduação da UFPR (1996 – 1998).
Concluído o mandato junto à PROGRAD, me afastei para o doutorado e retornei no ano de 2000, ainda sem concluir a tese, o que ocorreu em dezembro de 2001. Nessa altura, o Mestrado em Geografia já havia sido implantado (o início foi em 1998), meu envolvimento com o grupo era tamanho que no mês seguinte à minha titulação, já era a nova coordenadora do Mestrado, função que exerci por dois mandatos, desde o dia 24 de janeiro de 2002, exatos um mês de minha defesa de doutorado. E assim, minha vida acelerou...
Ao final de meu segundo mandato à frente da Coordenação, iniciei o projeto de criação do doutorado, que só foi implantado anos depois, em 2006.
No ano de 2013 assumi novamente a coordenação do agora Programa de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado e Doutorado), até o ano de 2015.
Durante uma das minhas gestões à frente do PPGGEO, tivemos aprovado um MINTER - Mestrado Interinstitucional (2005), cuja turma foi ofertada em União da Vitória, na Faculdade de Filosofia, mantida pelo estado do Paraná. Foi uma experiência muito produtiva, contribuímos com a formação de profissionais qualificados que ocupavam postos de docente na própria instituição, em áreas distintas.
Em fevereiro de 1996 assumi a Coordenação do Projeto Licenciar, junto à PROGRAD, importante registrar que tal Programa, originalmente vinculado ao MEC foi extinto e decidimos mantê-lo internamente na UFPR, fizemos - sob o comando do Pró-reitor de Graduação, Prof. Euclides Marchi -, um programa próprio da UFPR, com expressiva alocação do que passamos a denominar de “bolsa de licenciatura”, existente até hoje. Fui membro do Comitê Gestor do PROLICEN, junto à Pró Reitoria de Graduação da UFPR, no ano de 1995. Em 1997, integrei a Comissão para análise da proposta de organização do Concurso Vestibular da UFPR. Participei, em 1998, da Comissão responsável por criar o programa institucional de alocação de vagas docentes.
No âmbito do Programa das Licenciaturas – PROLICEN, participei da criação do “Caderno de Licenciatura” no ano de 1994, publicação que veiculava os resultados dos projetos desenvolvidos pelo programa.
Na década de 2000 integrei o Comitê Gestor do Programa de Fomento da Pós-Graduação – PROF/CAPES, do qual a UFPR experimentalmente fazia parte. Além disso, integrei também diversas Comissões de Estágio Probatório ao longo do tempo, inclusive de vários colegas atuais e alguns já aposentados do departamento de Geografia.
No campo da extensão, minhas atividades foram de menor expressão, mas merecem registro. Além das representações junto ao Comitê Assessor de Extensão da PROEC entre os anos de 1993 e 1995, fui vice coordenadora do Projeto de Extensão “Diagnóstico socioambiental das Ilhas das Baías de Guaraqueçaba e Laranjeiras”, integrante do Programa “Desenvolvimento Sustentável em Guaraqueçaba”, nos anos de 2001 e 2002.
Esse projeto mobilizou diversos professores do departamento, e também alunos bolsistas de extensão, e foi coordenado pela Profa. Inês Moresco Danni-Oliveira. Realizamos diversos trabalhos de campo nas ilhas mencionadas e tivemos contato muito próximo com a realidade social dos moradores.
Minha participação no Comitê Assessor de Extensão me rendeu também alguns artigos publicados sobre a temática da extensão, na revista denominada “Cadernos de Extensão”, publicada desde outubro de 1995 pela PROEC-UFPR.
Atuei e participei ativamente da oferta de vários cursos de extensão, os mais relevantes foram aqueles ministrados junto ao CEPAT – Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores e junto à Escola de formação Política Milton Santos e Lorenzo Milani, no CEFÚRIA – Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo. Isso em meados dos anos de 2000.
Na última década as atividades de extensão foram frequentes, mas nunca mais oficializadas no âmbito da PROEC. Foram atividades que favoreceram o contato direto com a sociedade, sem a mediação institucional. Talvez isso se justifique pelos vários mecanismos que dificultam o registro das atividades.
5. FORMAÇÃO DE PESSOAS: O PONTO ALTO DA CARREIRA DOCENTE
Sem dúvida a atividade mais importante de toda a carreira docente é a formação de pessoas. Pessoas são formadas não só por meio de conteúdos, leituras, aulas, textos escritos, mas, sobretudo, por exemplos, postura, diálogo, incentivo.
Assim, atuei na formação de pessoas, que, para além de suas especialidades, são, em primeiro lugar cidadãos/cidadãs, com compromissos sociais no mundo em que vivem.
Foram vários níveis de formação: graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, além das participações em bancas, momento particular da formação acadêmica.
A parte mais simples de nosso trabalho na universidade são as horas em sala de aula, momentos coletivos de reunião que, obviamente, são antecedidos de preparação, leituras, etc. Simples no sentido da objetividade de um conteúdo previamente definido por um currículo, com ementa, objetivos e bibliografia.
A parte difícil, trabalhosa e demandadora de tempo é a formação individualizada, que se faz por meio das orientações, de diferentes modalidades: IC, TCC, dissertação e tese. Assim como as bancas: horas de leitura criteriosa, seguida da exposição pública das considerações.
Minha participação no Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento - MADE, se deu entre os anos de 2004 e 2008, foi um tempo de muita aprendizagem coletiva, tendo em vista a forma como as atividades eram estruturadas. Porém, a intensa demanda de tal programa, me levou a me afastar do mesmo formalmente, embora ao longo do tempo tenha tido inserções pontuais.
Minha primeira orientação de doutorado ocorreu no MADE no ano de 2007, Rosirene Martins Lima, geógrafa, egressa do mestrado em Geografia e professora na UEMA – Universidade Estadual do Maranhão, realizou no MADE seu doutorado sob minha orientação, cuja tese foi intitulada “Conflitos ambientais urbanos: o lugar enquanto categoria de análise no processo de intervenção pública”.
No PPU – Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano, participei desde a construção da proposta e tenho me dedicado a contribuir com o fortalecimento do programa. Tem sido anos de muito trabalho, mas também de muita amizade, solidariedade e alegria.
Meus/minhas ex-orientandos/orientandas, atuam em diversos locais do país, em áreas distintas, para além do ensino. Muitos/as já formam pessoas e exercem funções de liderança em suas respectivas instituições. Com alguns mantenho contato, outros tomaram atalhos diversos e nos perdemos.
Em nível de mestrado tive uma primeira orientação que, de fato, não poderia ter, pois ainda não estava com o doutorado concluído. Assim, orientei Adriana Rita Tremarin, mas oficialmente seu orientador foi Francisco Mendonça, o trabalho intitulou-se: “Análise do processo de ocupação do setor estrutural norte de Curitiba no contexto do planejamento urbano” e a defesa ocorreu em 2001. Adriana realizou uma pesquisa muito importante sobre a verticalização nos setores estruturais de Curitiba. Sua dissertação é um registro importante de um processo que se acelerou nos anos recentes, e como tal, permite retomar comparativamente o processo, tendo em vista o detalhado trabalho de campo realizado por Adriana, que mapeou os usos do solo nos respectivos setores estruturais.
No ano de 2002, tive o prazer de ter minha primeira orientanda de Iniciação Científica, Mônika Christina Portella Garcia, premiada como primeira colocada na Banca n. 34 do Setor de Ciências da Terra no EVINCI. Desde então, tenho orientado regularmente um ou dois alunos de IC por ano, alguns desenvolveram suas atividades de modo voluntário, o que tem sido frequente, após a mudança da política de concessão de bolsas aos docentes na UFPR, normalmente limitada a uma bolsa por docente.
A maioria dos meus/minhas orientandos/as prosseguiu na formação em nível de mestrado e, alguns, também já são doutores/as, cumprindo, dessa maneira, com o que se espera da iniciação científica: despertar o jovem para a pesquisa e produção do conhecimento.
Três modalidades de orientação de outra natureza foram relevantes ao longo de minha carreira. A primeira referiu-se as orientações do programa PDE - Programa de Desenvolvimento da Educação – SEED/PR do governo do Estado do Paraná, por meio do qual, professores eram dispensados de parte de sua carga didática para cumprir um conjunto de atividades na universidade, incluindo o desenvolvimento de um projeto de ensino a ser aplicado na escola. Foi um tipo diferente de capacitação e me permitiu a aproximação mais direta com a realidade escolar, por meio dos professores que orientei.
Outra modalidade, constituiu-se numa bolsa ofertada aos alunos de graduação e que já não existe mais, denominava-se “bolsa trabalho”, por meio da qual os alunos cumpriam certa carga horária de atividades e recebiam uma retribuição financeira por isso. Sempre tive por prática envolver esses alunos nas atividades de pesquisa. Muitos migraram, depois, para a iniciação científica.
Importante também foram as bolsas de Licenciatura, que me permitiram desenvolver projetos relevantes, como aquele que se dedicava a divulgar o Curso de Geografia em escolas do segundo grau com vistas a demostrar aos alunos as potencialidades desse curso. Intitulava-se “Promoção e divulgação do Curso de Geografia junto ao ensino de 1º e 2º graus em Curitiba - Feira Geográfica itinerante” e, com a participação ativa de um grupo de alunos da graduação, percorríamos diversas escolas. Não tenho o registro de todos/as os/as alunos/as que estiveram integrados a esse projeto, mas alguns nomes me recordo: Cássia Dias Teixeira, Herlon de Oliveira Andrade, Marco Aurélio Rodrigues, Maria Cristina Borges da Silva, Helen Simone França, no ano de 1996.
Minha primeira experiência como membro de banca de mestrado ocorreu no ano de 2002, por ocasião do bem-sucedido projeto sobre as indústrias automobilísticas, onde, sob orientação da Profa. Benilde Motim, o candidato Cesar Sanson, apresentou sua dissertação “O feitiço da organização: novas relações de trabalho - um estudo de caso”, junto ao Mestrado em Sociologia da Universidade Federal do Paraná.
A maioria dos meus/minhas orientandos/as prosseguiu na formação em nível de mestrado e, alguns, também já são doutores/as, cumprindo, dessa maneira, com o que se espera da iniciação científica: despertar o jovem para a pesquisa e produção do conhecimento.
Três modalidades de orientação de outra natureza foram relevantes ao longo de minha carreira. A primeira referiu-se as orientações do programa PDE - Programa de Desenvolvimento da Educação – SEED/PR do governo do Estado do Paraná, por meio do qual, professores eram dispensados de parte de sua carga didática para cumprir um conjunto de atividades na universidade, incluindo o desenvolvimento de um projeto de ensino a ser aplicado na escola. Foi um tipo diferente de capacitação e me permitiu a aproximação mais direta com a realidade escolar, por meio dos professores que orientei.
Outra modalidade, constituiu-se numa bolsa ofertada aos alunos de graduação e que já não existe mais, denominava-se “bolsa trabalho”, por meio da qual os alunos cumpriam certa carga horária de atividades e recebiam uma retribuição financeira por isso. Sempre tive por prática envolver esses alunos nas atividades de pesquisa. Muitos migraram, depois, para a iniciação científica.
Importante também foram as bolsas de Licenciatura, que me permitiram desenvolver projetos relevantes, como aquele que se dedicava a divulgar o Curso de Geografia em escolas do segundo grau com vistas a demostrar aos alunos as potencialidades desse curso. Intitulava-se “Promoção e divulgação do Curso de Geografia junto ao ensino de 1º e 2º graus em Curitiba - Feira Geográfica itinerante” e, com a participação ativa de um grupo de alunos da graduação, percorríamos diversas escolas. Não tenho o registro de todos/as os/as alunos/as que estiveram integrados a esse projeto, mas alguns nomes me recordo: Cássia Dias Teixeira, Herlon de Oliveira Andrade, Marco Aurélio Rodrigues, Maria Cristina Borges da Silva, Helen Simone França, no ano de 1996.
Minha primeira experiência como membro de banca de mestrado ocorreu no ano de 2002, por ocasião do bem-sucedido projeto sobre as indústrias automobilísticas, onde, sob orientação da Profa. Benilde Motim, o candidato Cesar Sanson, apresentou sua dissertação “O feitiço da organização: novas relações de trabalho - um estudo de caso”, junto ao Mestrado em Sociologia da Universidade Federal do Paraná.
A maioria dos meus/minhas orientandos/as prosseguiu na formação em nível de mestrado e, alguns, também já são doutores/as, cumprindo, dessa maneira, com o que se espera da iniciação científica: despertar o jovem para a pesquisa e produção do conhecimento.
Três modalidades de orientação de outra natureza foram relevantes ao longo de minha carreira. A primeira referiu-se as orientações do programa PDE - Programa de Desenvolvimento da Educação – SEED/PR do governo do Estado do Paraná, por meio do qual, professores eram dispensados de parte de sua carga didática para cumprir um conjunto de atividades na universidade, incluindo o desenvolvimento de um projeto de ensino a ser aplicado na escola. Foi um tipo diferente de capacitação e me permitiu a aproximação mais direta com a realidade escolar, por meio dos professores que orientei.
Outra modalidade, constituiu-se numa bolsa ofertada aos alunos de graduação e que já não existe mais, denominava-se “bolsa trabalho”, por meio da qual os alunos cumpriam certa carga horária de atividades e recebiam uma retribuição financeira por isso. Sempre tive por prática envolver esses alunos nas atividades de pesquisa. Muitos migraram, depois, para a iniciação científica.
Importante também foram as bolsas de Licenciatura, que me permitiram desenvolver projetos relevantes, como aquele que se dedicava a divulgar o Curso de Geografia em escolas do segundo grau com vistas a demostrar aos alunos as potencialidades desse curso. Intitulava-se “Promoção e divulgação do Curso de Geografia junto ao ensino de 1º e 2º graus em Curitiba - Feira Geográfica itinerante” e, com a participação ativa de um grupo de alunos da graduação, percorríamos diversas escolas. Não tenho o registro de todos/as os/as alunos/as que estiveram integrados a esse projeto, mas alguns nomes me recordo: Cássia Dias Teixeira, Herlon de Oliveira Andrade, Marco Aurélio Rodrigues, Maria Cristina Borges da Silva, Helen Simone França, no ano de 1996.
Minha primeira experiência como membro de banca de mestrado ocorreu no ano de 2002, por ocasião do bem-sucedido projeto sobre as indústrias automobilísticas, onde, sob orientação da Profa. Benilde Motim, o candidato Cesar Sanson, apresentou sua dissertação “O feitiço da organização: novas relações de trabalho - um estudo de caso”, junto ao Mestrado em Sociologia da Universidade Federal do Paraná.
As bancas permitem uma relação mais direta com a formação, como destacado anteriormente, por vezes são momentos tensos, a depender do trabalho apresentado. Situações de reprovação não foram comuns, mas ocorreram... Participei de mais de trinta bancas de mestrado desde o ano de 2002, em diferentes áreas do conhecimento e em diferentes instituições.
Dentre as mais de duas dezenas de participações em bancas de doutorado, registro a primeira, de modo especial, ocorrida em 2003, porque foi na instituição onde me doutorei – USP-, e defendida por um contemporâneo de doutorado, em cuja banca estava também a Profa. Ana Clara Torres Ribeiro da UFRJ, além de Odete Seabra e Francisco Capuano Scarlato, a orientação esteve a cargo de Sandra Lencioni. Tratou-se da banca de Floriano José Godinho de Oliveira (UERJ), que desenvolveu a tese “Reestruturação produtiva e regionalização da economia no território fluminense”.
Uma das faces mais gratificantes de meu trabalho ao longo de tantos anos, tem sido a relação com meus alunos e alunas. A relação de respeito e o exercício da autoridade do argumento, como enfatiza Pedro Demo (5) , resultou em vários momentos em que fui homenageada nas solenidades de formatura, em muitos tive que discursar, o que permitiu dirigir-me a uma plateia formada por familiares e amigos/as dos/as formandos/as, pessoas com as quais nunca interagimos, a não ser no dia em que os alunos/as deixam a instituição. É sempre uma grande responsabilidade. Nessas ocasiões sou sempre levada a pensar em quem são os/as alunos/as, de onde vieram, no que acreditam, de que contextos familiares são resultados, as vezes apenas nesse momento de contato descortina-se a explicação para certas atitudes, até então incompreendidas....
6. A PESQUISA E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO
Meu primeiro projeto de pesquisa registrado na UFPR intitulou-se “Análise da evolução temporo-espacial da atividade industrial no Estado do Paraná”, no ano de 1993 e sob o número 093003180 no BANPESQ – Banco de Pesquisa da UFPR.
Nessa época, participava de dois grupos de pesquisa: GEAS – Grupo de Estudos Agricultura e Sociedade, com pesquisadores dos departamentos de Economia, Ciências Sociais, Antropologia e Geografia e do Grupo de Pesquisa em História Urbana, com pesquisadores dos departamentos de História, Arquitetura e Urbanismo, Antropologia, Ciências Sociais e Geografia. Observa-se a interação que já caracterizava minhas relações de pesquisa.
A primeira experiência de pesquisa coletiva, ocorreu no âmbito do departamento de Geografia, por ocasião do projeto integrado que tratava de diversas dimensões de ocupação na Bacia do Alto Iguaçu, na Região Metropolitana de Curitiba (1996-2000). Foi uma tentativa exitosa de fazer a articulação dos professores do departamento de Geografia em suas várias áreas de trabalho, convergindo para o que resultou, na sequência, no projeto de criação do curso de mestrado.
Contudo, foi após a finalização de meu doutorado que encontrei – como esperado - as condições de me dedicar com autonomia à pesquisa. Nesse trajeto, alguns encontros devem ser registrados. O primeiro deles ocorreu em torno da discussão da implantação da indústria automobilística no Paraná: Profa. Silvia Araújo e Profa. Benilde Motim, ambas do departamento de Ciências Sociais. Juntas criamos um grande grupo de discussão do então recente processo de implantação das montadoras no Paraná, com desdobramentos muito relevantes e positivos em termos de qualificação de recursos humanos, publicação de livros e capítulos e financiamento de pesquisa.
Esse tema nos proporcionou um primeiro financiamento de pesquisa pelo CNPQ e pela Fundação Araucária entre os anos de 2003 e 2006, com o projeto “Indústria automobilística no Paraná: relações de trabalho e novas territorialidades”.
Em seguida, no ano de 2005, fui contemplada com uma Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPQ com o projeto “Território e territorialidades da indústria automobilística no Paraná”, desenvolvido entre 2005 e 2008, bem como, a concessão de bolsa para realização de estágio de pós-doutorado na Universidade de Paris I (2007-2008), para desenvolver e aprofundar o tema da indústria automobilística, com ênfase na Renault.
Outro projeto que me projetou a redes muito férteis de trabalho, foi o de cooperação com a Argentina, iniciado no âmbito das minhas atividades junto ao Comitê de Desenvolvimento Regional da AUGM (Associação das Universidades do Grupo de Montevideo), prosperou em direção à uma cooperação financiada pela CAPES no Brasil e pelo MinCyT na Argentina, dedicado a compreender as metrópoles secundárias em ambos os países, intitulou-se “Para além das metrópoles globais: análise comparada das dinâmicas metropolitanas em metrópoles secundárias no Brasil (Curitiba) e na Argentina (São Miguel de Tucumán)”. A cooperação segue, agora amparada pelo Programa de Internacionalização PrInt, financiado pela CAPES, em projeto por mim coordenado.
Uma vasta produção bibliográfica e de relações de trabalho foi desenvolvida, contatos que favoreceram a ampliação dos horizontes de muitos alunos e alunas da pós-graduação. Esse projeto interagiu com o Doutorado em Arquitetura da Universidade Nacional de Tucumán, ampliando suas perspectivas temáticas.
No âmbito das redes de cooperação e pesquisa, sem dúvida a experiência junto ao INCT-Observatório das Metrópoles deve ser ressaltada. Se trata de uma ampla rede nacional de pesquisa, que permitiu a interação com pesquisadores de diversas instituições no país, além de ter representado, por certo tempo, uma fonte de recursos perene para pesquisa e, em especial, para publicações.
Essa experiência de pesquisa foi e continua sendo desafiadora, na medida em que, se tratou de construir uma agenda de pesquisa que permitisse a interlocução com diversos pesquisadores de diferentes lugares do país e de distintas áreas de formação, debruçados sobre a temática urbano/metropolitana.
Além de minha participação ativa como pesquisadora da Linha 1, intitulada atualmente, “Metropolização e o desenvolvimento urbano: dinâmicas, escalas e estratégias”, integrei, durante os anos de 2009 e 2012, o Comitê Gestor do INCT-OM e atuei como Coordenadora do Núcleo Curitiba, entre os anos de 2008 e 2019. Na configuração inicial do projeto, coordenei a Linha 1 em conjunto com a geógrafa Rosa Moura e, atualmente, coordenamos, também em conjunto, o projeto “Organização do espaço urbano-metropolitano e construção de parâmetros de análise das dinâmicas de metropolização”. Tentamos, desse modo, favorecer uma leitura do território desde as metrópoles e, em especial, como as mesmas participam do processo de metropolização em curso no país, com ênfase nas suas especificidades regionais.
No Observatório, a interlocução com pesquisadores e pesquisadoras de diferentes áreas do conhecimento e de diferentes instituições, oportunizou momentos ímpares de reflexão acadêmica e de ganhos pessoais. Destaco como de grande relevância tanto no âmbito da pesquisa quanto da extensão, o desenvolvimento do projeto “Megaeventos e espaço: análise e acompanhamento das transformações metropolitanas decorrentes da realização da Copa do Mundo de 2014 em Curitiba (PR)”. Oriundo de uma demanda do Observatório das Metrópoles, tal projeto teve como desafio, acompanhar e compreender as transformações decorrentes dos megaeventos esportivos, tanto nas 12 cidades-sedes dos jogos da Copa de 2014, como também no Rio de Janeiro, por ocasião das Olimpíadas de 2016. Recebeu financiamento da FINEPE.
Esse projeto permitiu uma inserção social jamais alcançada com os demais projetos, dada sua temática e os vários questionamentos dela decorrentes. Apoiamos movimentos sociais, interagimos com organizações de diferentes níveis, oferecemos diversas interpretações para a mídia local, nacional e internacional. Me lembro de compor uma mesa redonda com uma grande atleta brasileira, Ana Moser (vôlei), por ocasião de um evento promovido pelo Instituto Esporte e Educação, no âmbito do projeto Cidades da Copa idealizado pelo referido instituto, coordenado pela atleta, no ano de 2013.
Da mesma forma, algumas entrevistas à imprensa internacional merecem destaque: Brazilian officials are giving up on some unfinished World Cup projects publicada no prestigiado jornal americano The Washington Post em matéria assinada pelo repórter Dom Phillips, na edição de 7 de maio de 2014; The World Cup in Brazil. The half-time verdict. Publicada no jornal inglês The Economist, em matéria de 27 de junho de 2014 e Grands stades en quête d’urbanité. Publicado num Dossiê da revista francesa Revue Urbanisme n. 393, em 10 de abril de 2014.
Livros, capítulos, artigos e um boletim mensal de acompanhamento das ações relativas à Copa, foram um importante legado desse projeto. O Boletim Copa em Discussão, foi a maneira que encontramos de divulgar as ações, as atividades e de circular informação qualificada sobre o processo de realização da Copa em Curitiba. Foi uma experiência importante, tendo como responsável, a então bolsista, Patrícia Baliski.
Nesse percurso, inserções mais pontuais em projetos de grande envergadura devem ser lembradas, tal qual aquela que resultou na minha participação na equipe de pesquisadores do Projeto Temático, financiado pela FAPESP e coordenado pelo Prof. Eliseu Sposito, intitulado “O mapa da indústria no início do século XXI. Diferentes paradigmas para a leitura territorial das dinâmicas econômicas no Estado de São Paulo", entre os anos de 2006-2011.
Recentemente, fui lançada a um novo desafio profissional, coordenar um dos projetos da UFPR, desenvolvidos no âmbito do Programa de Internacionalização da Capes, a saber “Capes/PrInt - Espaço, sociedade e desenvolvimento: desafios contemporâneos”. Nele as redes se ampliaram, tanto dentro da UFPR, na interação direta com outros cinco programas de pós-graduação, quanto com os desdobramentos internacionais dos membros do grupo.
Seu desafio é compreender processos contemporâneos que nos alcançam em face da temática do espaço e da sociedade, mediados pelas perspectivas de desenvolvimento. Retoma-se a cooperação com a Universidade Nacional de Tucumán na Argentina, partindo-se do pressuposto de que desde o Sul, temos uma inserção diferenciada nos processos em curso no mundo contemporâneo e olhar realidades similares a nossa pode favorecer o reconhecimento de “onde estamos” no contexto das discussões sobre desenvolvimento. Ainda em setembro de 2019, realizei uma Missão de trabalho em Tucumán, que se pautou no estabelecimento de uma agenda de trabalho e que favoreceu a troca de experiências em face do momento político que vivem ambos os países. Também uma agenda de pesquisa foi elaborada, com objetivo de potencializar as leituras de nossas respectivas realidades.
Uma das características que posso identificar olhando minhas pesquisas em conjunto, é seu caráter comparado. Tal característica é estruturante no meu projeto atual de pesquisa, intitulado “Convergências e distanciamentos na estruturação das metrópoles brasileiras: Curitiba e Belém”. Se trata de um desdobramento de duas preocupações anteriores: uma com a pesquisa comparada, como afirmado anteriormente, outra com a compreensão do papel das metrópoles brasileiras, desde seus contextos distintos no território nacional. Assim, esse projeto é, de certa forma, um desdobramento da cooperação com Tucumán e de minha inserção no Observatório das Metrópoles.
Posso afirmar que descobrir a Amazônia foi transformador em minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Conhecer o Brasil profundo, me trouxe inúmeras indagações sobre a formação de nosso país: sociedade, cultura, natureza e, em especial, sobre a natureza constitutiva e diferenciada do espaço geográfico.
Compreender como se conformam metrópoles em face de tais singularidades tem sido um desafio de pesquisa. Nela tenho inserido alunos de diversos níveis, permitindo que persigamos uma visão de realidade nacional que ultrapasse as fronteiras do “sul maravilha” e confronte a diversidade que nos caracteriza enquanto país.
Além dessas principais pesquisas, me envolvi em várias outras, seja em função das demandas de orientação, seja em função da interação com outros pesquisadores em suas trajetórias de pesquisa.
Uma dessas interações ocorreu entre os anos de 2002 e 2008, quando passei a integrar a equipe de um grande projeto de pesquisa sobre a assistência social no estado do Paraná, intitulado “Descentralização Político-Jurídico-Administrativa da LOAS - reconstrução de conceitos ou manutenção de saberes e práticas” e com o qual contribui especificamente desenvolvendo o tema “O processo de regionalização do estado do Paraná: relação entre história, economia, política, sociedade e cultura e a implementação da política de assistência social”. Nele, pensávamos a regionalização desde a assistência social como contribuição da Geografia, mas a equipe contou com diversos profissionais de várias áreas do conhecimento. A coordenadora da pesquisa era a Profa. Odaria Battini, da PUCPR e um dos principais produtos da pesquisa foi a produção do Atlas da Assistência Social no Paraná.
Ainda no âmbito das atividades de pesquisa, criei em 2009 o Grupo de Estudos sobre Dinâmicas Metropolitanas – GEDiMe, que tem como vice-líder a Profa. Madianita Nunes da Silva.
O GEDiMe, congrega pesquisadores e estudantes de pós-graduação e graduação de diferentes áreas do conhecimento e de diferentes instituições, que visam discutir as dinâmicas metropolitanas, com especial ênfase naquelas que se desenvolvem em Curitiba e aglomerado metropolitano. A linha de investigação do Grupo é norteada teoricamente, pelas inúmeras e recentes proposições que buscam qualificar o urbano/metropolitano e sua expressão espacial. Metodologicamente, cada pesquisador e ou estudante, desenvolve sua pesquisa sobre um dos setores/atividades selecionados para análise, respectivamente: centros empresariais, edifícios corporativos e novas implantações industriais; shoppings centers e hipermercados; hotéis, ambientes para conferências e feiras; parques temáticos e complexos cinematográficos; edifícios de alto padrão e condomínios fechados; ocupações irregulares; além dos fluxos como os do deslocamento pendular e dos transportes coletivos.
As linhas de pesquisa do GEDiMe são: Espaços de moradia e dinâmica metropolitana; Indústria, equipamentos de comércio e serviços e extensão metropolitana; Metropolização e megaeventos; Redes, fluxos e dinâmica metropolitana.
Integro, ainda como pesquisadora, o Grupo de Pesquisa Geografia Regional e Produção do Espaço - GERPE, criado em 2018 e sediado na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA e liderado pelo Prof. Eudes Leopoldo de Souza.
O Grupo possui três linhas de pesquisa, a saber: Dinâmicas regionais do desenvolvimento; Metropolização, urbanização e regionalização, e Regionalismos e contradições do planejamento regional. Meus interesses estão na segunda linha, dedicada a discutir a metropolização.
Como decorrência das atividades de pesquisa, fui coordenadora do único laboratório de pesquisa na área de Geografia Humana do Departamento de Geografia, o LAGHUR – Laboratório de Geografia Humana e Regional, cuja materialização se deu quando da primeira visita da CAPES ao recém-criado Programa de Pós-Graduação em Geografia (por volta de 1999), momento em que, pela ausência completa de espaço físico nas precárias dependências do Departamento, o banheiro feminino foi transformado em laboratório.
Quando o departamento ampliou suas instalações, transferindo-se para o novo edifício João José Bigarella (2013), resultante, dentre outros, dos esforços da então diretora do Setor de Ciências da Terra, Profa. Chisato Oka Fiori, tivemos a possibilidade de criar novos laboratórios, momento em que propus a criação do LaDiMe – Laboratório de Dinâmicas Metropolitanas, que ainda coordeno, tendo o Prof. Danilo Volochko como vice coordenador e responsável por várias pesquisas em seu interior.
7. PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Se a formação de pessoas pode ser considerada a atividade mais importante de toda a carreira docente, a produção bibliográfica pode ser considerada o capítulo mais sólido dessa mesma carreira. O que está escrito, está registrado, tem longa duração e revela a contribuição original do pesquisador em face dos seus temas de investigação.
Observar os títulos dos artigos, capítulos, trabalhos produzidos, é reconhecer a trajetória, a diversidade de temas que me motivaram para pesquisa, ora em razão de meus interesses e objetos próprios de pesquisa, ora por encampar temas trazidos pelos orientandos em seus processos de amadurecimento.
Assim, as redes de pesquisa e os temas de meu interesse podem ser encontrados nos títulos dos textos que escrevi ao longo do tempo.
No final de ano de 2019, finalizei a organização de um dossiê para o Cadernos Metrópole (PUCSP), intitulado “Metropolização: dinâmicas, escalas e estratégias”, composto por 13 textos relacionados à temática e que integram o volume 22, n. 47 da referida publicação, publicada em janeiro de 2020.
Em 2020, forçada pelo distanciamento imposto pela pandemia da covid 19, consegui avançar em vários projetos de artigos, que deverão repercutir em publicações futuras.
Os principais projetos de pesquisa que desenvolvi/participei, resultaram em livros, em especial aqueles relacionados à temática da indústria automobilística, à cooperação com a Argentina e aqueles desenvolvidos no interior do INCT/Observatório das Metrópoles. Trabalho coletivo, árduo, mas de grande satisfação quando concluído.
Diversos capítulos de livros também registram o percurso da pesquisa e dos temas ao longo do tempo. A metrópole, a indústria, a região metropolitana, os megaeventos, estão entre os principais temas tratados.
A relação completa dos artigos e livros publicados pode ser consultada na Plataforma Lattes, especificamente no link: http://lattes.cnpq.br/9800077863356518
8. ATIVIDADES TÉCNICAS
Além das atividades de pesquisa, produção do conhecimento, elaboração de textos e formação de recursos humanos, uma outra dimensão da vida acadêmica deve ser destacada. Se trata da participação em atividades técnicas, entendidas como de assessoria e consultoria, além da inserção nos diversos processos de avaliação por pares.
Por vezes, tais atividades não são devidamente valoradas nos processos de avaliação, mas são demandadoras de muito esforço intelectual, uma vez que parte delas relaciona-se a avaliação por pares. Assim, avaliar um texto para publicação ou um projeto para uma agência de fomento, são atividades que demandam alto grau de dedicação, além da necessária discrição.
Contudo, não posso deixar de registrar aqui, a minha primeira experiência com avaliação de projetos como consultora ad hoc junto ao CNPQ no início dos anos de 2000, sem mencionar o projeto, posso apenas afirmar que foi proposto por uma pessoa que muito admiro profissional e pessoalmente, com competência acadêmica ímpar. Difícil começo...
No campo da participação em atividades de avaliação de cursos, tenho que ressaltar duas experiências principais: minha participação no Comitê de Área de Geografia da CAPES, por dois triênios (um deles não completo) e a avaliação de uma Unidade de Pesquisa na Universidade de Artois, na cidade de Arras, no norte da França.
A experiência de participar da Comissão da Área de Geografia na CAPES me permitiu conhecer os meandros do processo avaliativo e as dificuldades dele decorrente. A passagem da condição de professora-pesquisadora para a de representante oficial da agência de avaliação é reveladora de conflitos, ou seja, a condição de professora-pesquisadora fica em segundo plano, sobreposta pela representação e uma instituição em cuja política e definições internas nada ou muito pouco podemos interferir. Por ocasião de minha primeira experiência, fiquei pouco mais de um ano, tendo em vista minha saída do país para a realização do pós-doutorado. O ano era 2006 e a coordenadora da área era a Profa. Dra. Dirce Suetergaray (UFRGS), com quem trabalhei em diversas visitas aos programas, em meio a uma das maiores crises aéreas pelas quais o país passou. Ao estresse da avaliação, somou-se o dos deslocamentos.
Em 2008 retorno à Comissão, dessa vez sob coordenação do Prof. Dr. José Borzachielo da Silva (UFC), cumprindo o triênio 2008-2010 e participando ativamente de todas as etapas do processo de avaliação.
Nas visitas que fiz pelos diversos programas de pós-graduação nos pontos mais distantes do país, sempre me inquietou as diferenças regionais e o esforço de cada programa em superar sua condição anterior, contudo, nós que tínhamos a visão de todos os programas do Brasil, sabíamos que mesmo com todo o esforço demostrado e efetivado, a condição do programa não tinha se alterado no conjunto. Difícil mobilizar esforços em realidades tão diversas e com condições assimétricas de recursos, infraestrutura, etc. Por outro lado, num país com as dimensões do nosso, é preciso que sejam estabelecidos critérios capazes de equiparar as formações em cada canto do território.
Por duas outras ocasiões fui convidada a voltar à Comissão, mas penso que quanto maior a diversidade de pessoas envolvidas com essa dinâmica, maior qualidade se agrega ao processo, e mais se conhece sobre suas características próprias.
Ainda no campo da avaliação da pós-graduação, tive uma experiência espetacular em dezembro de 2008. Fui convidada para atuar como avaliadora externa de uma Unidade de Pesquisa localizada na Universidade de Artois, no norte da França, tratou-se da EA 2468 - DYRT - Dynamique des réseaux et des territoires. Tal processo de avaliação foi conduzido pela AERES - Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur da França.
A composição da Comissão de avaliação foi a seguinte: Presidente, Jean-Christophe GAY (Université de Nice-Sophia Antipolis), experts: Olga FIRKOWSKI (Université fédérale du Parana – Curitiba - Brésil), Bernard VALLADAS (Université de Limoges) e Colette VALLAT (Université Paris 10); expert representante do comitê de avaliação de pessoal (CNU, CoNRS, CSS INSERM, representante INRA, INRIA, IRD): Jean-Paul Amat (CNU) e um observador, delegado científico da AERES, Yvette VEYRET.
Um dos coordenadores da agência, Gabriel Dupuy, foi meu supervisor de pós-doutorado e foi o responsável por minha indicação. Na França, não há programas de pós-graduação na concepção que temos no Brasil, assim, doutorandos estão alocados em Unidades de Pesquisa que são avaliadas periodicamente com vistas a continuidade do credenciamento para doutorado e dos recursos dispensados.
A avaliação consistia na leitura prévia de vários documentos enviados pela respectiva Unidade de Pesquisa, ao que se seguia a visita e posterior avaliação de um dossiê conclusivo. A visita ocorreu no dia 10 de dezembro de 2008, um dia frio de muita neve em Paris e minha mala não foi embarcada no mesmo vôo que eu.... mas essa história é para outra oportunidade....
Ainda no âmbito dos trabalhos técnicos, tive uma larga experiência de avaliação junto ao PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, do MEC/FNDE. Minha primeira participação se deu como avaliadora e ocorreu no ano de 2005, quando tal foi coordenado pela Unesp de Presidente Prudente.
Se tratou talvez do trabalho de maior complexidade que executei na minha vida profissional, o que pode parecer estranho para quem nunca teve envolvimento com essa dimensão de uma política pública ou talvez para quem não tenha assumido tal tarefa com a seriedade e compromisso com a qual eu assumi.
Ao todo, participei de sete edições do PNLD, de fases distintas do ensino básico e com posições diferentes na equipe: nos anos de 2005 (UNESP – Pres. Prudente), 2008 (UNESP – Pres. Prudente), 2011 (UFRGS) e 2013 (UFU) atuei como avaliadora e, em 2013, por um curto lapso de tempo também como coordenadora adjunta, fazendo a leitura e avaliação das fichas de avaliação dos livros. Nos anos de 2011 e 2014 atuei como coordenadora da área de Geografia, assumindo, junto com o coordenador técnico, Prof. Eliseu Sposito, a responsabilidade por todo o processo, bem como com a Profa. Inês Moresco Dani-Oliveira que atuou como coordenadora institucional em 2011 e com o Prof. Tony Moreira Sampaio, que teve tal função no ano de 2014.
Sem dúvida foi uma experiência densa, em todos os sentidos possíveis: na relação com o MEC, na relação com as instâncias superiores da UFPR, na relação com a equipe de adjuntos e coordenadores e na relação com os avaliadores.
Impossível descrever a carga de trabalho e de responsabilidade que envolviam tal atividade, ao que se somava o fato de que tal atividade era sigilosa, portanto, merecedora de cuidados com a divulgação do material, com os lugares das reuniões, com o fluxo de arquivos, etc.
Como meu envolvimento foi grande com esse processo, em 2018 tive a curiosidade de saber como seria o encaminhamento do PNLD sob uma nova fase da vida nacional, em especial pelo fato de que as universidades foram paulatinamente retiradas da coordenação do processo, assumindo o próprio MEC tal atribuição.
Assim, me candidatei a ser avaliadora, processo ocorrido totalmente a distância pelo site do MEC. Avaliei uma coleção, jamais conheci que eram os coordenadores imediatos e que avaliavam a minha avaliação. Um poderoso e complexo sistema on line foi desenvolvido e nele inseríamos nossas avaliações. Perdeu-se, assim, o momento rico de discussão de cada obra, para confrontar prós e contras da decisão de cada coleção. O avaliador passou a ser um mero tarefeiro tendo externalizada para postos superiores as decisões, sem qualquer retorno ou participação ampliada. Uma lástima.... Muito provavelmente esse é mais um capítulo fechado em minha carreira.
Avaliar tem sido uma atividade recorrente em minha vida profissional. Assim, além de avaliar textos, programas de pós-graduação, artigos submetidos a eventos, também tive a oportunidade de compor juris de premiação de trabalhos de conclusão da pós-graduação stricto sensu. Assim, por diversas vezes integrei juris de melhor dissertação e de melhor tese, tanto no âmbito da ANPUR, quanto da ANPEGE e também da Capes.
No ano de 2020, novo desafio se apresentou nesse campo de trabalho: fui designada pelo CNPQ, para integrar o Comitê de Assessoramento Arquitetura, Demografia, Geografia, Turismo e Planejamento Urbano e Regional, na qualidade de representante da Área de Geografia Humana. O processo de escolha dos representantes se dá pela votação dos pares, pesquisadores PQ 1 do CNPQ, além de um voto da associação da área. Para minha surpresa, meu nome foi indicado e assumo essa função até junho de 2023, tendo como colega de representação a Profa. Dra. Doralice Sátyro Maia (UFPB).
Refletindo sobre minha inserção nas discussões acerca do planejamento urbano, em especial numa cidade como Curitiba, reconhecida por suas inciativas aplicadas nesse campo, algumas observações devem ser registradas.
Em primeiro lugar posso afirmar que tive êxito na inserção da Geografia no universo da discussão crítica do planejamento urbano em Curitiba. Pensar a cidade e opinar sobre ela tem sido marcas de meu trabalho, atuar muito próximo aos arquitetos e urbanistas me proporcionou diálogos importantes ao longo do tempo e, em especial, me permitiu ter participação ativa na formação desses profissionais, tendo em vista a formação em nível de pós-graduação (mestrado e doutorado) com a qual contribui, haja vista que tive diversos/as orientandos/as provenientes dessa área do conhecimento.
Contudo, um acontecimento sobre o qual raramente comentei, penso que deve ser registrado nesse momento: se tratou de um convite que recebi no ano de 2006, para assumir a Diretoria de Planejamento do IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Poucos convites me deixaram tão honrada como esse, contudo, declinei, por algumas razões que explicito.
Em primeiro lugar pelo fato de que estava imersa num projeto de envergadura que era minha saída do país para realizar o pós-doutorado, projeto que envolvia uma enorme logística preparativa, em razão de suas especificidades em termos profissionais e familiares; em segundo lugar porque tal atividade se daria já no decurso de cerca de dois anos da gestão municipal, ou seja, não se tratava de iniciar um novo projeto, mas de envolvimento em um projeto em curso, muito embora a presidência do IPPUC estava sendo alterada nesse momento e dela recebi o convite; em terceiro lugar e não menos relevante, isso certamente resultaria em embates cotidianos pesados em razão do fato de eu ser originária da Geografia, e não pertencer ao grupo predominante de arquitetos urbanistas do instituto.
Avaliei os prós e os contras e resolvi seguir com meus projetos de mais longo prazo, fato do qual nunca tive arrependimento. Ponderei que o custo pessoal seria demasiado em face dos prováveis ganhos de visibilidade dos/as geógrafos/as no processo de planejamento. Nem imagino como teria sido se a decisão fosse outra...
Duas outras experiências no campo aplicado da atuação do geógrafo merecem também registro: uma participação na equipe de elaboração do Estudo da Rede Urbana da Bahia, encomendado pelo governo do estado da Bahia e desenvolvido pelo escritório Vertrag Planejamento Urbano no ano de 2009. Esse envolvimento me trouxe um conjunto muito relevante de aprendizados e de contatos.
Do ponto de vista dos aprendizados, foi a partir dessa atuação que refleti muito sobre a vida na universidade e a aplicação daquilo com que trabalhamos na perspectiva conceitual. O tema principal de minha atuação foi relacionado ao processo de criação de regiões metropolitanas na Bahia, ou seja, havia a intenção de proposição de outras regiões metropolitanas para o estado, além de Salvador. Nessas discussões, muito refleti sobre a noção de “pureza conceitual”, ou seja, sobre minha visão do processo de proposição de regiões metropolitanas observando o conceito de metrópole e a escala nacional. Assim, embora apenas Salvador concentrasse os papeis normalmente atribuídos à metrópole, o estado da Bahia desejava criar outras regiões metropolitanas que pudessem atender às demandas de políticas públicas internas ao estado, ou seja, numa visão restrita ao território baiano.
A “pureza conceitual” significava tomar o conceito acima de tudo, o que pode não ser adequado quando o trabalho é aplicado à uma realidade específica, assim, desde a atuação técnica são necessárias concessões... é preciso alterar o olhar em busca das demandas da realidade o que pode significar uma flexibilidade teórica pelo bem da ação.
Outra experiência que deve ser registrada foi aquela ocorrida no ano de 2016 por ocasião de um convite para atuar na equipe que havia ganho a licitação para a formulação do Plano Diretor de Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Os trabalhos foram conduzidos pela URBTEC – Planejamento, Engenharia, Consultoria. Também nessa ocasião, fui acionada para tratar da viabilidade de implantação da região metropolitana de Campo Grande, o que não se mostrou adequado, conforme conclusões do estudo.
Contudo, tive a oportunidade de participar de várias etapas de construção de um plano diretor, inclusive das audiências públicas, foi uma experiência enriquecedora, mas também difícil, novamente pela possibilidade de confrontar a teoria e a prática, cuja conciliação nem sempre é completamente possível.
Ainda na área técnica, outra experiência que me parece relevante apontar, foi aquela de analisar a candidatura de revistas ao SciELO - Scientific Electronic Library Online, nos anos de 2012 e de 2020. Isso me permitiu conhecer mais detidamente os critérios utilizados pelos indexadores de revistas de modo a conceder ou não sua chancela a um periódico.
Por fim, no que tange às atividades técnicas, registro minha participação na diretoria de entidades técnico-científicas. Integrei a diretoria da ANPUR – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano, gestão 2017-2019, cuja presidência esteve a cargo do Prof. Dr. Eduardo Nobre da FAU-USP. Antes, havia sido membro do Conselho Fiscal dessa mesma associação na gestão 2015-2017, sob a presidência do Prof. Dr. Rodrigo Ferreira Simões
UFMG/CEDEPLAR, seguido pelo Prof. Dr. Geraldo Magela Costa UFMG/IGC, assim como fui do Conselho Executivo da ANPEGE – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia, na gestão 2014-2015, sob presidência do Prof. Dr. Eliseu Sposito.
No campo das atividades técnicas, tenho atuado como membro de corpo editorial e/ou como revisora de diversos periódicos de diferentes lugares do Brasil: Revista Oculum Ensaios (PUCCAMP); Mercator (Fortaleza); Editora Letra Capital; Revista Geografar (UFPR); Geo UERJ; Revista do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Londrina; Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales (Saanta Fé – Argentina); RAEGA - O espaço geográfico em análise; Terra Livre; Revista de Economia (Curitiba); Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR); Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana (PUCPR); Revista Brasileira de Pós-Graduação; Revista Paranaense de Desenvolvimento (IPARDES); Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPR); Cadernos Metrópole (PUCSP); Revista de Ciências Humanas (UFSC); Boletim de Geografia da UEM; Caderno Prudentino de Geografia; Geografia. Ensino & Pesquisa (UFSM); Geosul (UFSC).
Quanto aos Comitês de Assessoramento e assessoria no campo da avaliação de projetos, destacam-se: CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Fundação Araucária; Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); SCIELO - SciELO - Scientific Electronic Library Online; AERES - Agence d'Evaluation de la Recherche et d´Enseignement Supérieur (França); Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Fundação Universidade Regional de Blumenau; Agencia Nacional de Promoção Cientifica y Tecnologica – Argentina; Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco.
9. DOIS PONTOS E NÃO UM PONTO FINAL
Esse olhar sobre minha trajetória permitiu reconhecer a passagem do tempo, mostra o quanto percorri, o quanto corri, o quanto o tempo passou ligeiro. Desde a maturidade da vida profissional, posso avaliar com mais calma para onde pretendo ir.
Dos sonhos profissionais iniciais, não sei se restou algum por realizar...
Tenho uma vasta relação de alunos/as bem-sucedidos/as, excelentes profissionais, alguns meus colegas na atualidade, outros espalhados por longínquas terras daqui e de além mar.
Assumi muito cedo a profissão, tive que provar, a cada dia, que minha pouca idade não era sinônimo de falta de compromisso ou competência. Brinquei pouco na juventude, trabalhei duro e não me arrependo.
Vivi as mudanças na Geografia ao longo das últimas quatro décadas. Estive imersa na transição de paradigmas, coisa que só agora vejo com clareza. Comecei com a Geografia Tradicional e seus estilos de aprendizado no ensino básico, entrei na faculdade na transição entre Geografia Quantitativa e Geografia Crítica. Percorri pelos caminhos da Crítica e suas transformações nos últimos anos, anunciando as preocupações com o que se denominou de “virada cultural”. Vivenciei a emergência de novas temáticas e novas especialidades da Geografia. Fui aluna de renomados/as professores/as que muito me ensinaram sobre a ciência e sobre a vida.
Vivi as mudanças na UFPR, desde os primórdios da democratização na escolha da reitoria, até os retrocessos que se avizinham atualmente, impostos pelo Governo Federal. No departamento de Geografia, vivi a transição de um departamento desprestigiado no interior do Setor de Tecnologia para um departamento ativo e produtivo no interior do Setor de Ciências da Terra.
Vivi as mudanças no Departamento de Geografia e em especial na área de Geografia Humana, de posição secundária no plano local e nacional, sem produção relevante (com pontuais exceções), para uma área vibrante, com pessoas atuando em diversos níveis da vida acadêmica e profissional, pelo país e pelo mundo.
Vivi a ampliação dos espaços físicos da Geografia na UFPR, de um mero corredor escuro à três andares num prédio moderno e espaçoso, possível pelos investimentos na educação e ensino superior dos governos progressistas recentes.
Agora espero fechar projetos, concluir orientações e desbravar novos horizontes!
Sigo com minhas orientações na pós-graduação, com as disciplinas ofertadas na graduação e na pós-graduação (Geografia e Planejamento Urbano), redigindo textos, participando de bancas, coordenando projetos, como o CAPES-PrInt, contribuindo com avaliações diversas, sendo a representação da Área de Geografia Humana no CNPq a mais recente, participando de eventos e motivando meus orientandos/as a participar.
Sou uma entusiasta de novos projetos! Esse texto permite constatar os caminhos que percorri e foram muitos, sou sensível aos novos desafios!
Posso afirmar que transitei por todos os meandros da vida acadêmica, da graduação à pós-graduação, da pesquisa à extensão, de comissões localizadas à coordenação de curso. Interagi com a sociedade de modo geral, seja pelos projetos, seja pelos conselhos dos quais participei. Conquistei reconhecimento pelas minhas posturas, dentro e fora da UFPR.
Pretendo permanecer em atividade na UFPR por mais algum tempo, embora desde fevereiro de 2018 já reúna as condições de me aposentar. Meu desejo é fechar um ciclo. Gostaria de atuar em outra instituição que demanda esforços de consolidação. Aprendi muito e sei que poderia contribuir com o avanço de outros. Talvez me dedicar ao trabalho técnico, ligado a projetos aplicados no âmbito de minhas temáticas de trabalho.
Não é um ponto final, mais dois pontos, abertos ao futuro e às novas experiência, pois a vida continua, embora o momento atual seja de cautela, preocupação e resistência em face de lutas que imaginávamos já terem sido vencidas!
NOTAS
1- A referida sessão pública contou com a participação dos/as seguintes professores/as: Prof. Dr. Clóvis Ultramari (PUCPR); Prof. Dr. Eliseu Saverio Sposito (UNESP-Pres. Prudente); Prof. Dr. Francisco de Assis Mendonça (Presidente da banca-UFPR); Profa. Dra. Maria do Livramento Clementino (UFRN); Prof. Dr. Saint Clair Cordeiro da Trindade Junior (UFPA) e Prof. Dr. Sylvio Fausto Gil Filho (UFPR).
2 Maria Goretti da Costa Tavares, professora da Faculdade de Geografia da UFPA-Belém/PA.
3 Naquela época, o primário correspondia ao atual ensino fundamental 1, o ginásio ao ensino fundamental 2 e o colegial ao ensino médio.
4 Tudo indica que se tratou do livro de CLAVAL, P. Evolución de la geografía humana. Barcelona: Oikostau, 1974.
5 DEMO, Pedro Cuidado metodológico: signo crucial da qualidade. Sociedade e Estado. Brasília, v. 17, n. 2, jul/dez 2002, p. 349-373.
-
 MARIA GERALDA DE ALMEIDA
MARIA GERALDA DE ALMEIDA EU, MARIA GERALDA DE ALMEIDA
Nasci em 1948, no norte de Minas Gerais, num local que se chama Fernão Dias (povoado), distrito de Brasília de Minas. Uma região considerada do Polígono das secas, área da Sudene. Os meus pais moravam numa fazenda desse município. Minha família era de pessoas que tinham terras, fazendeiros, meu avô era uma liderança política, foi prefeito neste município. Tinha grande influência na região devido ao poder econômico que possuía, além de ser muito bem relacionado com os governadores de Minas Gerais.
Estudei em Montes Claros (MG) e fiz o primeiro ano do ensino superior na Faculdade de Filosofia e Letras de Montes Claros, posteriormente transformada na Unimontes e, atualmente ela é uma instituição estadual. No segundo ano eu e mais duas colegas pedimos transferência para a UFMG, por termos interesse em fazer um curso diferenciado e contarmos com o apoio do geógrafo prof. Davi Márcio Rodrigues; ele nos incentivou a transferirmos e fomos aceitas na UFMG. Fiz a licenciatura e o bacharelado e também um curso de licenciatura concentrada que era um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos da América para formar professores para trabalhar em novas escolas de melhor padrão de ensino, consideradas como modelo chamadas Polivalente. O ingresso no curso foi mediante um processo seletivo e como fiquei bem classificada permaneci trabalhando em Belo Horizonte depois de concluído este curso.
Atualmente sou aposentada mas, continuo, desta feita vinculada ao Programa de Docente Voluntária na UFG (Universidade Federal de Goiás onde ingressei primeiramente como professora visitante e, no ano seguinte, fiz um concurso para professor titular de Geografia Cultural e Turismo; antes fui docente na Universidade Federal do Ceará, de 1987 até 1998 e como professora efetiva, na Universidade Federal de Sergipe, onde fui visitante, e na Universidade Federal do Acre-Ufac, e comecei de fato a carreira no ensino superior, de 1978 a 1981.Estudar na França, cuja geografia era apresentada como relevante para nós, as vindas de professores franceses nos congressos passou a ser um sonho e arrisquei a tentar uma bolsa pela Embaixada da França no Brasil.Também, ressalto que o fato de Osvaldo Amorim Bueno Filho, estudante em Geografia na UFMG ter ido para França e ter me incentivado a pedir a bolsa de estudos foi um incentivo maior. Pedi demissão da UFAC para fazer o mestrado e o doutorado quando ganhei a bolsa do governo francês, que no ensino de pos-graduação francês correspondia ao DEA e o Doctorat de Troisieme Cycle, na Université de Bordeaux III, no Laboratoire de Géographie Tropicale em Bordeaux.. Meu doutorado foi em Geografia Tropical, concluido em 1985. Em minha tese analisei “ Experiences de colonisation rurale dans l´état d ´Acre, en Amazonie Bresiliènne”, abordando a questão da terra e as lutas e conflitos dos seringueiros face aos pecuaristas que chegavam a partir de 1970.
Quero dizer que trabalhando sempre em universidades federais, tive o privilégio de percorrer algumas regiões brasileiras: No Norte, no Nordeste e atualmente estou no Centro-oeste em universidades distintas e o contexto no qual elas estavam foi importante para a minha construção como geógrafa. No Acre, era uma geografia que estava começando, com 70% de professores de outros estados o que propiciou abordagens e concepções diferenciadas para os alunos. Além disso, nós tivemos um envolvimento intenso, nós, professores da Ufac, em movimentos em defesa do meio ambiente, no qual fazíamos palestras e encontros com os seringueiros, convivíamos com eles. E, movimentos sociais, apoiando aqueles que lutavam pelos direitos a moradia, a educação e saúde, atuando junto à Pastoral da Terra. Quando fui para Sergipe, em 1985 já não tinha mais este tipo de preocupação, era outro, mais as identidades culturais no espaço rural. No Ceará me envolvi particularmente com a AGB, que possuía figuras de destaque nacional como o José Borzacchiello da Silva, Vanda Claudino Sales e Maria Clelia Lustosa; fui da diretoria da AGB e integrei cargos e várias comissões da mesma. Estávamos envolvidos com as discussões da Constituinte. Atualmente, desde 2018 estou como pesquisadora sênior na Universidade Federal do Amapá, no projeto Procad/Amazonia. Edital Nº 21/2018. “Construções de Estratégias de Desenvolvimento Regional e as Dinâmicas Territoriais do Amapá e Tocantins: 30 anos de desigualdades e complementaridades” MDR/UNIFAP. .Particularmente, desenvolvo a pesquisa ´”Povos subalternos nos territórios delimitados pelo governo federal no Amapá e presenças nos planos de desenvolvimento estadual”
Ressalto que tenho orgulho e satisfação pessoal de ter iniciado minha vida acadêmica ,em uma universidade pública no Acre/Amazônia e, quando caminho para encerra-la retorno novamente a esta região, no estado do Amapá.
DESTAQUES NO INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIO-AMBIENTAIS IESA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, DESDE 1998.
-participação da fundação do Laboratório dos Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais- Laboter
- contribuição na criação da revista A2- Ateliê Geográfico.
- organização de 19 livros geográficos .
- autoria de um livro.
- organização de uma cartilha para Moçambique.
-..organização de 2 cartilhas para os Quilombolas- Kalunga.
- coordenação de 11-projetos de pesquisa
- primeira professora da Geografia-Iesa a coordenar projetos de pesquisa e extensão nos Quilombolas- Kalunga
-primeira professora de Geografia-Iesa a pesquisar sobre as festas populares no estado de Goiás
- primeira professora Geografia-Iesa a ter um livro, “ Tantos Cerrados” , citado no concurso nacional do Enem.
- primeira professora Geografia -Iesa a ser presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia. 2009-2011.
DOCÊNCIA NO EXTERIOR
Université de Quebec à Montreal (2003)
Universidad Autónoma Metropolitana do México, UAM, México (2012),
Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM, México. (2012)
Universidad Nacional de Cuyo, UNCuyo, Argentina (2013).
Universidad de Caldas – Colombia ( 2015 a atual orientação e aulas)
Universidad de Guajira- Colombia (2018 e 2020)
PERTENCIMENTO A REDES
Participa das seguintes redes: NEER- Núcleo de Estudos sobre Espaço e Representações. 18 pesquisadores de 12 instituições brasileiras.
RETEC- Red internacional de estúdios de território y cultura.- Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, França, México, Peru,Venezuela
RELISDETUR- Red latinoamericana de innvestigadores em desarrollo y turismo- Argentina, Brasil, Chile,Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México.
RIEF - Red Internacional de Investigadores en Estudios de Fiesta, Nación y Cultura. RIEF-. Una Red con más de 150 investigadores de varias naciones.
GI-1871: Grupo de Investigación de Análises Territorial, da universidad de Santiago de Compostela-Espanha.
REFLEXÕES SOBRE A GEOGRAFIA NO BRASIL E NO MUNDO
Entrevista de Maria Geralda de Almeida concedida a Claudio Benito O.Ferraz, Flaviana G, Nunes e Edvaldo C. Moretti.
Entre-Lugar, Dourados, MS, ano 2, n. 3, 1º semestre de 2011 Universidade Federal da Grande Dourados, p. 170- 178
Atualizada em setembro de 2020
E-L: Os pensadores que considera como importantes para a sua concepção de Geografia? MG: Paul Claval, para mim, é uma referência pela opção de abordagem que tenho - que é pela geografia cultural. Depois dele tem o Denis Cosgrove, geógrafo inglês que faleceu jovem, porém, deixou como legado uma forma de abordar a geografia cultural com uma visão mais crítica, mais reflexiva, centrada na categoria da paisagem. Ainda no campo dos geógrafos que não são brasileiros, têm alguns geógrafos portugueses que considero importantes, como é o caso da professora Ana Francisca Azevedo e do professor João Pimenta, que fazem uma leitura crítica do processo de colonialismo e pós-colonialismo. Estou falando dentro do contexto da geografia ou da abordagem da geografia cultural, mas, logicamente, que não podemos desconsiderar que a geografia brasileira é muito influenciada por Milton Santos; ele conseguiu dar um enfoque inovador para o pensamento geográfico projetando o Brasil e o considero muito importante na geografia de modo geral.
E-L: Como analisa a evolução do pensamento geográfico brasileiro a partir dos anos 70 do século XX? MG: Essa evolução melhor que seja analisada no interior do que Renato Ortiz denomina de mundialização e também no contexto das mudanças ocorridas no meio técnico-científico-informacional. Nos anos 70 vamos ter a agudização dos conflitos ideológicos em decorrência da Ditadura Militar e o início do processo de abertura que, para nós Geógrafos, terá o congresso de Fortaleza em 1978 como marco. Ali se expressará com mais força, uma geografia em prol de uma abordagem mais crítica, alimentada pela corrente marxista, contra as posturas de certos geógrafos atuando no planejamento, trabalhando em órgãos governamentais e possuíam uma abordagem quantitativa da geografia. Muitos dizem que a partir daí se estabelece uma crise, mas não sei se a palavra é crise; diria que os geógrafos tomaram consciência do contexto político e assumiram uma postura mais comprometida com as necessidades dos desfavorecidos socialmente. Vejo uma diferença entre esse momento de crítica e o que foi se desdobrando ao longo dos anos 80 e 90, ou seja, o caráter combativo, crítico e politizado que, todavia, foi-se reduzindo no século XXI. Teria certa dificuldade para falar que nós continuamos combativos, que nós continuamos preocupados com os problemas mundiais e se nós estaríamos nos posicionando de forma engajada com as necessidades fundamentais da sociedade diante dos conflitos e crises ambientais, urbanos e dos problemas sociais de modo geral. Penso que é emblemático o que aconteceu nos anos 80, notadamente no interior da AGB, quando se desenvolveu uma crítica muito grande ao que se fazia e ao que se pensava enquanto geografia vinculada aos interesses hegemônicos articulados pelo Estado. Contudo, iniciando no inicio dos anos 80 com o desgaste da Ditadura Militar, e de quase todas as ditaduras latino-americanas, paralelo ao processo de redemocratização social, o qual acabou em grande parte cooptado pelas novas forças e arranjos capitalistas articulados globalmente, isso com certeza influenciou no enfraquecimento do movimento sindical e das organizações sociais. A partir daí, a geografia que vem sendo construída, nos anos 90, desemboca na atual. Penso que existe uma visão de mundo atrelada a um novo enfoque. Onde foram parar aqueles geógrafos militantes e que tinham comprometimento com os problemas da sociedade? A geografia que mudou ou foi nós geógrafos que mudamos a nossa forma de pensar e isso reflete na geografia que estamos fazendo? Vejo que a AGB tinha um papel muito grande, intenso no convite e atuar nesse campo de militância do geógrafo. Contudo, ela mudou, gradualmente, o perfil. Lá na AGB é onde havia os embates, havia, também, os conflitos, as contradições. Penso que a AGB deixou de fazer um pouco o estimulo ao geógrafo militante e a geografia-ação.
E-L: Como interpreta a geografia cultural nos demais países, e a brasileira neste contexto? MG: A partir de minha experiência no mestrado e doutorado, percebia a geografia na França refletindo as experiências dos franceses nos países tropicais e como eles se preocupavam em buscar procedimentos para lidar com esta realidade. Depois disso, voltei novamente a França para fazer um pós- -doutorado na geografia cultural, com Augustin Berque, que já tinha uma experiência com o Japão. Nesse outro momento identifiquei a prática de uma geografia cultural ocidental com base em uma filosofia oriental que tentava ler o mundo; e, no meu caso, ver o Brasil, um país tropical, sem uma raiz própria uma vez que havíamos construído a nossa geografia com influências da geografia francesa. Este contato com o professor Berque foi interessante para eu começar a desenvolver uma geografia sensível.
Como geógrafa brasileira, tinha facilidade para com esta geografia, mas não me restringi a apenas este contato, pois também tive experiência com Maximo Quaini, na Itália, onde passei um tempo do pós-doutorado. Ele fazia um humanismo marxista. Valorizava muito o romper com aquele marxismo mais ortodoxo e colocara o homem com um interlocutor importante para estabelecer aquela leitura da desigualdade, das contradições que ele destacava pela leitura marxista. Ele dizia que se não for pelo homem, entendendo e reconhecendo o homem nas dimensões sociais, econômicas, culturais e psicológicas impossível entender as contradições que vivenciamos. Isso se adequava muito bem ao que eu identificava como fruto de mudanças ocorridas com a geografia brasileira ao longo dos anos 80 e 90 do século passado. Porém, era um olhar geográfico que surgia sobre o homem produtor, consumidor e, apoiando um Estado planejador.
A minha ida para o Canadá abriu uma outra perspectiva. Percebi que os canadenses tinham transposto a geografia francesa para o Quebec, como nós brasileiros também fizemos na criação dos primeiros cursos de geografia. Mas, eles estabeleceram uma conexão com a geografia norte-americana, de caráter mais tecnicista e pragmático.e procuraram fazer esta interlocução. A experiência de exercitar essas técnicas serviu para fundamentar estudos de natureza cultural, no caso a discussão dos referenciais de identidade e região discutindo a migração mas recente dos ingleses para o Canadá; e, como a cultura inglesa se situava perante os quebequenses, que eram franceses em suas raízes. Penso que foi rica essa forma deles procurarem fazer uma geografia própria, de Quebec, estabelecendo este diálogo com outras escolas geográficas, se abrir para acolher métodos, abordagens, categorias adequando-os nos estudos culturais do Canadá. Isso pode ser um importante exemplo para a geografia cultural brasileira.
Quanto à América Latina, tenho participado da grande maioria dos Encontros da Geografia da América Latina (EGAL). É notório, que os brasileiros prevalecem nesses encontros. Há mesmo uma brincadeira sobre isso, que são brasileiros que saem do Brasil para assistirem brasileiros em outros países (risos). Somos vistos como um país que conseguiu implantar a geografia nas instituições e ganhar credibilidade, comparando com os demais países temos uma grande quantidade de cursos de pós-graduações em várias universidades. Com exceção da Argentina, México e Cuba, nos demais países praticamente não existe uma oferta diversificada de pós-graduação em geografia. Nesse sentido, segundo eles, a geografia brasileira aparece como imperialista.
Na leitura deles, nós temos uma supremacia, devido à quantidade de cursos de pós-graduação espalhada pelo território nacional. O fato é que possuímos 114 cursos de pós-graduação (Mestrado- 72); Mestrado Profissional - 5, e Doutorado- 37, dados da Capes, 2020), uma qualidade na nossa produção e uma projeção internacional para a geografia, que eles não têm. Essa é a diferença que vejo. O Milton Santos tornou-se uma referência em toda a América Latina, mas, já no século XXI outros brasileiros já possuem livros traduzidos para o espanhol como Rogerio Haesbaert “O Mito da Desterritorialização: do 'fim dos territórios' à multiterritorialidade" (edição espanhola por Siglo XXI Editores, México), e Carlos Walter Porto-Goncalves. ( Geo-grafías: Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidade. Siglo XXI, Editores, ,México, 2001).
E-L: Como entende a distância entre a geografia universitária no Brasil comparando-a com a praticada no ensino básico? MG: Bem. O que é hoje a universidade Brasileira? Vamos refletir: o que passou a ser solicitado da universidade e de nós professores universitários. Penso que a universidade não dialogou muito com o ensino básico para saber hoje os órgãos responsáveis pelo ensino superior cobram mais do professor uma produção do que uma qualidade no envolvimento com a educação, o ensino e a sociedade. O que está sendo solicitado da universidade é que ela produza e, ao considerar isso, vejo que ela muda, um pouco, o seu foco. Passa de uma função, que seria preocupar-se em levar o conhecimento e promover a formação da sociedade, isto é, de uma função social, para uma instituição, se assim posso dizer, mercadológica. Fazendo isso, a universidade adentra numa crise, ela perde aquela força de socialização ampla do conhecimento e põe o foco em outra questão, de uma especialização em prol do retorno econômico e técnico dos seus produtos. A Universidade está distante do Ensino Básico fundamental e médio no que ela ensina, como ensina formando licenciados.
Nós criticamos esse Ensino Básico. Contudo, quem está trabalhando nele são aqueles egressos da universidade; quando os profissionais recém formados nos cursos de licenciaturas chegam ao Ensino Básico, em sua grande maioria tem dificuldade em colocar em prática o aprendizado universitário para o magistério nas escolas; ele não consegue reproduzir o aprendido, o que, a princípio, é o desejado. Também, há a considerar nesta crítica é se há essa distância entre a formação no ensino superior e o praticado na sala de aula do ensino básico, deve-se a universidade ter desvalorizado a licenciatura e eleger a formação de mão de obra especializada, formar profissionais com melhores salários que os professores no mercado de trabalho. Não é exatamente aquilo que se pretende com a formação do educador, esse ficou em segundo plano.
E-L: Com a geografia pode contribuir para pensar a questão da identidade? MG: A identidade não é uma categoria geográfica especificamente, mas pode ser empregada geograficamente a partir do instante que a identidade permite uma leitura dos homens e dos espaços. Ao falar do espaço, estou me referindo a identidade territorial. Não creio que a geografia, de modo geral, tenha esse interesse em discutir a identidade, seria uma abordagem mais particular, que seria esta da geografia cultural. Ao fazer esta discussão, a geografia precisa se associar a outras ciências: antropologia, sociologia, história etc., o que torna o estudo ou a aplicação do conceito de identidade bastante complexo. A abordagem da geografia cultural não tem o propósito de discutir a categoria pela categoria, mas sim aplicar para entender e explicar melhor o espaço produzido e significado pelas relações humanas, de como os homens se identificam com os lugares. Discutir identidade é muito instigante para você conhecer e interpretar melhor o que é o território, a região, o lugar levando em consideração como um determinado grupo social, povo, gente se vincula, se associa com aquele espaço. Essa forma de criar o laço espaço- homem, diz muito de como nós nos sentimos naquele espaço. . É o caso, por exemplo, do trabalho do Robinson S. Pinheiro , no qual o autor faz uma discussão da identidade a partir de uma leitura que apresenta da produção literária regional, fazendo uso desta literatura como um veículo que expressa a complexidade dos processos identitários no Mato Grosso do Sul. Enfim, penso que mais que a geografia contribuir para pensar a questão da identidade , é a identidade que auxilia na compreensão espacial e da ciência geográfica. 1 A entrevistada está fazendo referência ao trabalho de Robinson Santos Pinheiro: Geografia e Literatura: Diálogo em torno da Construção da Identidade Territorial Sul-Mato-Grossense. Dissertação de mestrado, sob orientação do Prof. Dr. Cláudio Benito O. Ferraz, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em abril de 2010
E-L: Como presidenta da ANPEGE no biênio 2009-2011, como entende o papel dessa entidade para a formação do pensamento geográfico brasileiro? MG: A ANPEGE é uma entidade diferente da AGB. Uma entidade que não mais tem o ímpeto do trabalho do geógrafo militante politicamente, porque já espera que ele venha com essa militância praticada em outras instâncias. Penso que a ANPEGE, hoje, tem uma respeitabilidade que é importante, considerando que ela já tem mais de dez anos de existência, desde 1992. Então, é uma entidade que representa mais de 40 programas de pós-graduações, sendo 18 programas de doutorado e que tem essa preocupação de discutir o que é a formação e o papel do pesquisador.
Vejo com muita seriedade e muita responsabilidade estar diante de uma entidade que tem um perfil deste. Entendo que a entidade, em si, já configura como um mecanismo de visibilidade do que é feito nos programas, quando ela tem voz ativa na escolha de representantes que estão na CAPES no CNPQ e é chamada para opinar sobre assuntos que dizem respeito a produção científica do geógrafo. Espero que a entidade continue fazendo este papel, que ela não seja apenas ilustrativa, mas que seja ativa na ajuda da construção do que é a geografia. Vocês acreditam nisso? (risos).
E-L: Quais seriam os principais desafios da produção científica brasileira hoje, mais especificamente a geográfica? MG: Já mencionei aqui a importância que tem sido atribuída ao caráter produtivista no interior da universidade. Quando disse isso queria me referir a uma produção é considerada como um passaporte para o professor ser convidado para ser docente na Pós-Graduação, ter visibilidade ao ter publicações de destaque, participações em mesas de congressos etc.. Com isso, levou-se a uma proliferação de revistas. Revistas que nem sempre são da qualidade desejada. Estou fazendo uma crítica ao que se espera do profissional pesquisador e também de como ele se sente diante de ter que produzir para conseguir o reconhecimento dos seus pares, ou a bolsa produtividade do CNPq; além disso, o preço dessa produtividade em relação ao tempo necessário para se fazer uma pesquisa com qualidade e profundidade. Esse tem sido um dilema para o professor pesquisador.
Diria que se tem produzido muito na geografia brasileira, impulsionada pela pressão da Capes aos cursos de Pós-Graduação. Contudo, não temos condição de avaliar e de conhecer o “todo” que está sendo produzido. As vezes tenho a impressão de que estamos publicando e produzindo sobretudo para o nosso público local.
. O envelhecimento da ideia pode ocorrer até sua publicação e, mesmo afetar essa finalidade da publicação, que eu entendo ser a interlocução, o debate entre o autor e aqueles que vão ler. Mas o momento é rico para a produção e como consequência para a geografia brasileira, basta ver a quantidade de livros que estão sendo publicados anualmente. As revistas com melhores qualis tornam-se mais criteriosas, o que concordo, e há prazos de até dois anos, entre a submissão do artigo, o aceite e a publicação.
Muito positivo vejo as revistas que tem surgido, cada programa de pós-graduação praticamente tem a sua. Mas, a minha crítica é, sobretudo, quanto a dificuldade de tempo para você ler e se inteirar sobre o que está sendo feito. As vezes nem todos têm conhecimento do conjunto maior das discussões que permeiam a geografia, a maioria se isola em sua especialização e apenas lê sobre aquilo que pesquisa. Isso é perigoso, em especial para um conhecimento amplo como o geográfico.
E-L: Fazendo uso de uma música interpretada por Mercedez Sosa: É possível o Sul?2 Explicando melhor, é possível um conhecimento filosófico e científico ser gestado a partir das condições periféricas ao sistema econômico e ter como característica ser alternativo ao pensamento dominante, no caso, oriundo ideologicamente do norte? MG: Boaventura de Souza Santos fala de uma epistemologia para o sul. Quando ele fala de uma epistemologia para o sul está respondendo a Mercedez Sosa. Concordo com ele ao criticar que nós ficamos muito ao sabor do que vem do hemisfério norte e estamos deixando que algumas vozes sejam esquecidas, marginalizadas; acredito que seja possível sim um pensamento oriundo dos saberes locais, baseando na nossa realidade e contradições. Acredito que esteja faltando fazer uma geografia mais nossa, uma geografia que contaria com nossos próprios referenciais. Contudo, prevalece a crença que somente a academia produz ciência e saberes e, nós desconsideramos outras formas e, ainda não estamos utilizando os saberes locais. O Boaventura quando fala dos saberes locais se refere ao fato que as universidades estão se distanciando de meio e voltando-se para os saberes oriundos do estrangeiro, do norte, dos de “fora”. Boaventura pergunta o inverso: por que não levar os saberes locais para dentro das universidades e tentarmos dialogar com eles? Aí vem aquela pergunta anterior, como tem sido nossa relação com o Ensino Básico? Nós formamos professores, mas não trazemos este professor de “lá” para “cá” depois que estão na prática, até mesmo para termos uma noção mais fundamentada entre aquilo que é ensinado nas universidades e como na prática (realidade) se deu. Isso é importante para que os professores revejam as suas práticas nas universidades. 2 ¿Será posible el sur? Letra de J. Boccanera e C. Porcel de Peralta. Interpretada por Mercedez Sosa no disco do mesmo nome. Philips da Argentina, 1984.
E-L: Diante dessa possibilidade, como você analisa o pensamento de Milton Santos. Ele está organicamente vinculado com esta possibilidade de um pensar enraizado na realidade periférica ou ele é um desdobrar do pensamento monopolizante que está se dando no sul? MG: Quando o Milton Santos escreveu o livro O trabalho do geógrafo no terceiro mundo, nota-se uma referência de autores de pensamento francês na obra dele, mas o seu discurso é focado para a realidade de um mundo então majoritariamente desconhecido pela Europa e as demais nações do norte dominante. Mas, se você observar o desdobrar do pensamento de Milton Santos, com o tempo sua obra se distancia disso; ele não fala mais neste geógrafo do hemisfério sul.
Milton Santos não tinha por hábito citar suas fontes; porém, quem o lê, e também faz a uma literatura de filósofos e sociólogos franceses identificam semelhanças dos pensamentos. Seriam possíveis influências? Pelo que percebi, lendo a obra do Milton Santos, algumas ideias similares constam tal como que em Foucault, ou como Guattari havia expressado em Cartografias do Desejo. É inegável a valiosa contribuição de Milton Santos ao nos trazer estes pensamentos que muito nos ajudou, a construir uma geografia com esse tom mais brasileiro. Entretanto, poucos geógrafos ousaram dialogar, contestar este grande geógrafo. Penso que os geógrafos brasileiros poderiam ter começado a se posicionar mais criticamente diante do seu pensamento. Também não vou culpar o Milton Santos por uma persistência institucionalizante de seu pensamento; o engessamento de qualquer pensamento é problemático para o processo de evolução do saber científico e filosófico. Não diria que Milton Santos chegou abraçar um pensamento monopolizante que estaria se dando no sul. Porém, tampouco era um critico e mesmo defensor de um pensar emergindo na periferia.
E-L: Estamos localizados, o curso de geografia da UFGD, numa área de fronteira. É possível pensar na produção de um saber científico geográfico a partir dessa condição fronteiriça? MG: Quando você me faz esta pergunta penso está se referindo a uma fronteira política/administrativa; diria que a fronteira é social e ela está onde nós a colocamos. Então, a fronteira sempre existe, ela existe por nós diante dos outros, e ela existe quando instauramos a relação sujeito/objeto. José de Souza Martins fala sobre isso, no livro dele sobre a Fronteira, de como nós nos situamos na fronteira ao estabelecermos a relação entre o “eu” e o “outro”. Penso que a produção geográfica deva ser mais universal, mas a partir do local; ela deve ser sempre pensada e concebida de modo a colaborar na leitura da realidade, ler o mundo e fazer com que cada sujeito reflita sobre este lugar, este local. Na minha opinião, a leitura que se faz aqui - uma geografia feita por esta fronteira – falando rapidamente, que pode ser uma fronteira, um encontro daqueles que chegaram para colonizar o Mato Grosso do Sul e uma população indígena que lá se encontrava. Uma geografia capaz de auxiliar na melhor interpretação dessa situação fronteiriça pode dar uma grande contribuição e avançar na reflexão de como ler tal dinâmica espacial por meio de seus conflitos e tensões. Nesse contexto, afluem elementos comuns a outras regiões, mas que aqui possuem sua singularidade, como as grandes áreas produtoras de soja, de cana, dos agronegócios e dos assentamentos. Eis aspectos locais que aparecem de outras formas no Brasil em áreas como Amazonas, Pará, Goiás etc. Uma geografia aqui produzida que pode ajudar a refletir sobre um Brasil singular, mas que é um Brasil que se reproduz também em outros locais. Há aqui um grupo que estaria refletindo sobre isso? Como os geógrafos daqui estão vendo e assumindo esta realidade e qual o papel que possuem na leitura e interpretação desta realidade? Será que aqui poderia ser um núcleo de uma geografia do pós-colonialismo?
E-L: Como a senhora entende os referenciais teóricos/metológicos que estão sendo praticados pela geografia brasileira de uma forma geral? MG: Até alguns anos atrás tínhamos um discurso que era aceito como único para fazer geografia, para esta ser considerada ciência. Isso mudou bastante e hoje interpreto que a geografia se enriquece com suas várias possibilidades de diálogos, os métodos que passaram a ser aplicados. Inclusive a geografia brasileira ganha uma respeitabilidade frente ao cenário da América Latina, da Europa etc. pois mostra que é uma geografia que evoluiu. Só para termos uma ideia, recentemente recebemos a visita de alguns geógrafos americanos, a partir de um convênio estabelecido entre a Universidade Federal de Goiás e a Universidade da Califórnia. Houve intercambio de estudantes. Ao chegarem na nossa universidade a preocupação deles era: “Vocês vão trabalhar com pesquisa qualitativa, não é?”. Estranhava a pergunta dizíamos: “Sempre trabalhamos com pesquisa qualitativa” e eles explicavam: “é porque nós não queremos aquela pesquisa voltada para a quantificação, modelos etc.”. Ou seja, eles estavam cansados do referencial único da geografia quantitativa e estavam procurando, algo que para eles era inovador e que para nós já estava consolidado. Quero dizer com este caso que a geografia, no instante que ela passa a usar de vários referenciais teóricos/metológicos e dialoga com outras perspectivas e análises, ela se enriquece; e isso a geografia brasileira soube aproveitar das várias influências que sofreu das demais escolas com as quais manteve contato.
LIVROS MARCANTES DA CARREIRA (OBRAS E REFERÊNCIAS)
1. ALMEIDA, M. G..(org.) Território de tradições e de festas. 1. ed. Curitiba: UFPR, 2018.
2. ALMEIDA, M. G.. GEOGRAFIA CULTURAL - UM MODO DE VER. 1. ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2018. v. 1. 384p .
3. ALMEIDA, M. G.; SILVA, M. A. V. (Org.) ; TORRES, M. A. C. (Org.) ; D`ABADIA, M. I. V. (Org.) ; CURADO, J. G. T. (Org.) . Manifestações Religiosas Populares em Goiás: Atlas de festas católicas. 2. ed. Anápolis: UEG, 2018.
4. ALMEIDA, M. G.; CURADO, J. G. T. ; TEIXEIRA, M.F. ; MOTA, Rosiane Dias ; MARTINS, L. N. ; MOREIRA, J. F. R. ; SOUZA, A. F. G. ; LIMA, R. S. ; TORRES, R. P. A. ; BONJARDIM, S.G.M. . Atlas das celebrações : as festas dos ciclos junino e natalino em Goiás e Sergipe. 1. ed. Aracajú: Instituto Banese, 2016. v. 1. 92p .
5. ALMEIDA, M. G.; MOTA, R. D. (Org.) ; BRITO, E. P. (Org.) ; MACHANGUANA, C. A. (Org.) ; RIGONATO, Valney Dias (Org.) ; RIBEIRO, G. G. (Org.) ; SILVA, R. G. (Org.) ; SANTOS, S. A. (Org.) . Paisagens e Desenvolvimento Local: Imagens sobre Chibuto, Moçambique. 1. ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 78p .
6. ALMEIDA, M. G.. O Território e a comunidade Kalunga: Quilombolas em diversos olhares. 1. . Goiânia: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 329p .
7. DE ALMEIDA, MARIA GERALDA; RIGONATO, V. D. ; BRITO, E. P. ; MACHANGUANA ; ARGENTINA, I. . Aprendizado participativo em Chibuto-Gaza. 1. ed. Goiânia: Kelps, 2015. 56p .
8. CURADO, J. G. T. (Org.) ; BRETAS, I. F. (Org.) ; SILVA, M.A. (Org.) ; D`ABADIA, M. I. V. (Org.) ; ALMEIDA, M. G. (Org.) ; PAULA, M. V. (Org.) ; MOURA, M. R. P. (Org.) ; BARBOSA, Romero Ribeiro (Org.) ; MOTA, R. D. (Orgs.) . Atlas de festas populares de Goiás. 1. ed. goiania: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 125p .
9. ALMEIDA, M. G.; ARRAIS, T. P. A. (Orgs.) . É geografia, é Paul Claval. 1. ed. Goiânia: UFG, 2013. 176p .
10. ALMEIDA, M. G.; MAIA, C. E. S. ; LIMA, L. N. M. (Orgs.). Manifestações do Catolicismo. 1. ed. Goiânia Goiás: LABOTER/FUNAPE, 2013. 998p .
11. ALMEIDA, M. G.; TEIXEIRA, Karla A. ; ARRAIS, T. P. A. (Orgs.) . Metrópoles: Teoria e pesquisa sobre a dinâmica metropolitana. 1. ed. Goiânia: Cânone, 2012. 152p .
12. COSTA, J. J. ; SANTOS, C. O.; SANTOS, M. A. ; ALMEIDA, M. G.; SOUZA, Rosemeri Melo e (Orgs.) . Questões geográficas em debate. 1. ed. Sao Cristóvão: UFS, 2012.
13. DE ALMEIDA, MARIA GERALDA. Trocas de saberes no Cerrado, valorização dos quintais, segurança alimentar e cidadania nas comunidades kalunga em Teresina de Goiás. 1. ed. Goiânia: IESA/FUNAPE/UFG, 2012. 31p .
14. ALMEIDA, M. G.; CRUZ, B. N. (Org.s) . Território e Cultura - inclusão e exclusão nas dinâmicas socioespaciais. Goiânia: CEGRAF-UFG, 2009. 256p .
15. ALMEIDA, M. G.. Territorialidades na América Latina. 1. ed. Goiânia: Cegraf UFG, 2009. 240p .
16. ALMEIDA, M. G.; CHAVEIRO, Eguimar Felício; BRAGA, Helaine da Costa (Orgs.) . Geografia e Cultura - os lugares da vida e a vida dos lugares. 1. ed. , 2008. v. 1. 313p .
17. ALMEIDA, M. G.. Tantos Cerrados: múltiplas abordagens sobre a biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira, 2005. 321p .
18. ALMEIDA, M. G.; RATTS, Alecsandro J P (Orgs.) . Geografia Leituras Culturais. Goiânia: Alternativa, 2003. v. 1500. 286p .
19. ALMEIDA, M. G.. Paradigmas do Turismo. 1. ed. Goiânia: Editora Alternativa, 2003. 176p .
20. ALMEIDA, M. G.. Abordagens Geográficas de Goiás: o natural e o social na contemporaneidade. CDU. ed. Goiânia: IESA - CEGRAF UFG, 2002. 260p
LINHAS DE PESQUISA
1. PESQUISA APLICADA EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE.
2. Turismo e Cultura em Geografia
3. Geografia, Cultura e Cerrado
4. Geografia das Manifestações Culturais
5. Geografia do Turismo
PROJETOS DE PESQUISA
2020 - Atual
Ruralidades e sinergias na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) no século XXI
Descrição: De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (Brasil, 2010), a população total da Regiao Metropolitana de Goiania-RMG é de 2.173.141 habitantes dos quais 43.067 habitantes estão localizados em áreas rurais. Há contrastes na distribuição deles, que nos revelam um mundo rural bastante diversificado e específico da referida região metropolitana, na qual nos interessa analisar e conhecer as ruralidades presentificadas. Nesta pesquisa reiteramos o entendimento de que espaço rural não se define exclusivamente pela presença de atividade agrícola. É significativa a redução de pessoas ocupadas na agricultura, dado que se associa ao aumento do número de pessoas residentes no campo exercendo atividades não-agrícolas e ao aparecimento de uma camada relevante de pequenos agricultores que combinam a agricultura com outras fontes de rendimento. Neste estudo, nossa análise será voltada às ruralidades .A ruralidade compreendida como uma representação social, definida culturalmente por sujeitos sociais que desempenham atividades não homogêneas e que não estão necessariamente remetidas à produção agrícola. O rural e o urbano se complementam. O objetivo geral é compreender a dinâmica das ruralidades na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) bem como o papel do Estado, do mercado e das sinergias no processo de produção do espaço metropolitano, no século XXI..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2018 - Atual
Povos subalternos nos territórios delimitados pelo governo federal no Amapá e presenças nos planos de desenvolvimento estadual
Descrição: Este projeto foca os assentados, os negros e indígenas como povos subalternos adotando a concepção de Spivak (1998, p.12) para quem o termo subalterno descreve “as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante.”A concepção de subalternidade é, assim, uma leitura critica da sociedade, neste caso, do Amapá, estado brasileiro a ter todas as terras indígenas demarcadas. Na faixa de terras que se estende do estado do Amapá ao norte do Pará, há 8 terras indígenas demarcadas – sendo 7 homologadas – onde se distribuem, atualmente, 10 grupos indígenas Galibi Marworno, Palikur, Karipuna, Galibi do Oiapoque, Wajãpi, Aparai, Wayana, Tiriyó, Katxuyana e Zo’é. No caso da população negra o primeiro foco de povoamento essencialmente para o Amapá, com inclusão do negro, aconteceu a partir de 1771. Da herança colonial, surgiram diversas vilas, principalmente nos municípios de Mazagão, Macapá, Santana e Calçoene, sendo a base da economia desses lugares a agricultura e a criação de animais para a subsistência. Há 30 anos que Amapá tornou-se politicamente um estado, o que estimulou-se reflexões sobre sua nova realidade buscando ainda alternativas econômicas compatibilizando-as com a proteção ao seu patrimônio natural e com sua comunidade autóctone. Diante desta intencionalidade declarada cabe alguns questionamentos: Assim, nosso problema é: As políticas propostas pelo estado do Amapá denotam um reconhecimento para com as especificidades culturais das comunidades negras e indígenas e assentados e, qual rebatimento que elas tiveram social e economicamente entre os subalternos.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Integrantes: Maria Geralda de Almeida - Coordenador.
2016 - Atual
Cartografia das Paisagens Turísticas das Savanas Brasileiras e Moçambicanas
Descrição: A despeito do enorme potencial para as modalidades de turismo ligadas à natureza, como o ecoturismo, o turismo de aventura, o turismo rural, entre outras, as paisagens das savanas brasileiras ainda são pouco expressivas nas estatísticas referentes à demanda turística no Brasil, tanto interna quanto externa. O mesmo ocorre em Moçambique, ainda que na África como um todo a região das savanas atraia grande número de turistas, especialmente estrangeiros, interessados em viagens de aventura e pelo fascínio em relação à grande fauna africana. Tanto no Brasil quanto em Moçambique há carência de registros cartográficos acerca das paisagens das savanas com potencial turístico. Essa, portanto, é a proposta que se apresenta neste projeto, cujas metas envolvem o estabelecimento de uma rede de pesquisa colaborativa em mapeamento de paisagens turísticas, unindo pesquisadores do Brasil e de Moçambique, com intuito de promover a cooperação científica e tecnológica e o intercâmbio científico-cultural, com vistas a se desenvolver uma proposta teórico-metodológica acerca da cartografia de paisagens turísticas, definindo parâmetros de identificação (inventário), de avaliação (potencialidade turística) e de valoração (interpretação turística)..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2014 - 2018
A mulher rural assentada nos espaços da casa e dos quintais: troca de saberes sobre agroecologia, economia social/criativa e saúde no Vão do Paranã-GO
Descrição: O público alvo da pesquisa são mulheres rurais em comunidade tradicionais em áreas limítrofes do ;Cerrado Goiano e Baiano, mais precisamente em um Território da Cidadania em Goiás e na RVS Veredas do Oeste Baiano nas comunidades de Pratudinho e Brejão nos municípios de Cocos e Jaborandi na Bahia. ;comunidades goianas situam-se ao Território da Cidadania do Vão do Paranã, Goiás, mais precisamente nos assentamentos de Simolândia (Projeto de Assentamento Zumbi dos Palmares e PA Simolândia e no município de Posse (Baco Pari comunidade quilombola) e a comunidade de Branquinha. Sabe-se que essas ;comunidades e, sobretudo, as mulheres rurais são detentoras de saberes agroecológicos ligados à rica ;biodiversidade do Cerrado os quais estão sobre forte pressão e erosão da biodiversidade nativa desse ;domínio geoecológico. Saberes estes, adquiridos ao longo de gerações no convívio mais aproximativo das ;paisagens naturais do Cerrado. Assim, essa pesquisa objetiva analisar o papel das mulheres rurais das ;comunidades tradicionais sobre a importância no espaço do quintal para o Cerrado, no que tange a água, a vegetação, a terra, buscando a sua conservação e a valorização da biodiversidade, principalmente, nas ;Unidades de Conservação. Para tanto, faz-se necessário alguns objetivos específicos: 1) Discutir o uso e a ;ocupação dos espaços dos quintais pelo trabalho feminino em relação às estações do ano; 2) Avaliar a ;percepção ambiental das mulheres rurais quanto as paisagens do Cerrado e suas alterações; 3) Mapear os ;saberes das mulheres rurais assentadas e quilombolas sobre espaço do quintal e do Cerrado que ;evidenciem a sua conservação e a valorização, como lugares de produção e aprendizado rumo a ;segurança alimentar; 4) Mapear a Reserva da Biosfera (RESBIO) Goyas no que diz respeito ao território de ;Cidadania do Vão do Paranã e RVS do Oeste Baiano com as imagens de satélite e Veículos Aéreos Não ;Tripulados (VANTs), os aspectos de uso da terra; desmatamento; queimadas; evapotranspiração; produtividade primária líquida; precipitação diária; temperatura de superfície; A metodologia para o ;desenvolvimento desta pesquisa será a abordagem qualitativa pela ciência geográfica com abordagens ;interdisciplinares. Os procedimentos metodológicos do Diagnóstico Rural Participativo (DRP) tais como: mapa falado; mapas mentais, calendário sazonal; diagrama de fluxo; diagrama de VENN e a matriz ;comparativa. Além disso, contará com trabalhos de campo e sobrevôos com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) para melhor diagnóstico e mapeamento das áreas de interesse da pesquisa. As bases ;teóricas dialogam com autores Paul Claval com os estudos de Etnogeografia; Yi-Fu Tuan que discute os lugares e as paisagens por meio da percepção ambiental; Adreu Viola que em sua antropologia enfoca as ;teorias e estudos etnográficos da América Latina o qual elucida o papel da mulher no desenvolvimento da ;economia informal nos países latinos americanos. Tais abordagens visam ressaltar a importância do papel das mulheres rurais tanto no seio familiar como na preservação e conservação dos saberes e da ;biodiversidade do Cerrado. Por último, os resultados esperados almejam elucidar conhecimentos e ;saberes relativos ao modo de vida das mulheres rurais de comunidades tradicionais nas áreas do Cerrado, ;sobretudo, de Unidades de Conservação sobre forte pressão e erosão da biodiversidade nativa desse ;domínio geoecológico. Com isso, almeja-se contribuir com o avanço teórico e metodológico das pesquisas ;relacionadas as questões de gênero que envolvem saberes e conhecimentos relativos aos espaçosdomésticos e aos quintais produtivos como forma de empoderamento das mulheres rurais das ;comunidades tradicionais sobre forte pressão pela modernização da agricultura nos Cerrados brasileiros.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2014 - Atual
Ambiente, Mulher e Cidadania nas Comunidades Tradicionais no Território da Cidadania do Vão do Paranã e da RVS Veredas do Oeste Baiano
Descrição: Este projeto busca valorizar as marcas e as funções da mulher rural no espaço e seu papel na construção desse espaço pelos saberes ambientais. Assim, analisar o papel das mulheres rurais das comunidades tradicionais sobre a importância no espaço do quintal para o Cerrado, no que tange a água, a vegetação, a terra, buscando a sua conservação e a valorização pode trazer contribuições cientificas para as ciências humanas (re)pensar as dinâmicas de uso e ocupação do território brasileiro..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2014 - Atual
Identidades territoriais e políticas de desenvolvimento territorial e ambiental na Reserva da Biosfera Cerrado –Goiás.
Descrição: A pesquisa em tese pretende evidenciar as identidades territoriais e as políticas de desenvolvimento territorial e ambiental, modeladoras das atuais e diversas formas de ocupação, isto é, as paisagens da Reserva da Biosfera do Cerrado. Ela é, resumidamente, uma investigação geral sobre o uso e apropriação do Cerrado, em uma parcela do estado de Goiás interpretada como um mosaico de paisagens culturais/ambientais testemunhas das modificações em curso. Esclarece-se que Reservas de Biosfera são definidas como “áreas de ambiente, representativas, reconhecidas mundialmente pelo seu valor para a conservação ambiental e para o provimento de conhecimento cientifico, da experiência e dos valores humanos com vistas a promover o desenvolvimento sustentável”, nos termos da Unesco (2008) .Por essa sua singularidade consideramos pertinente como área de estudo geográfico...
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2013 - 2017
Mobilidade - Paisagens e Desenvolvimento Local: inventário, análise e estudo comparativo de Chibuto - Moçambique e Goiás - Brasil
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2013 - 2014
Cartografia dos saberes populares: as festas juninas e natalinas nos estados de Sergipe e Goiás
Descrição: Cartografia cultural; paisagens festivas; estudo comparativo entre Sergipe e Goiás.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2011 - 2014
Região da biosfera goyaz - cultura e turismo: : oportunidades de conhecimentos e propostas de estruturação de novos produtos turísticos
Descrição: No âmbito desta proposta objetiva-se colaborar para a manutenção da Reserva da Biosfera-Bioma Cerrado, valorizando o seu potencial turístico, quanto as suas belezas paisagísticas e das culturas tradicionais das populações locais. Tem-se como objetivo geral inventariar as potencialidades turísticas existentes e propor novos produtos turísticos a partir da interação de roteiros ecoturísticos e culturais na Reserva da Biosfera Goyaz. Para que a presente proposta tenha sucesso, foram traçados como objetivos específicos a serem alcançados no decorrer da presente proposta as atividade de: Efetuar uma análise critica sobre as políticas sociais e ambientais que afetam as atividades turísticas. Realizar a ordenação de unidades de paisagem de elevado valor para o ecoturismo e valorização cultural, com suporte de técnicas de geoprocessamento e atividade de campo; Inventariar e sistematizar as informações de valores culturais e paisagísticos através de uma documentação cartográfica; Caracterizar as trilhas interpretativas quanto ao seu potencial turístico analisando, seus valores cênicopaisagísticos e culturais; Produzir um material de apoio aos visitantes e aos poderes administrativos locais com a confecção do mapa interativo de trilhas interpretativas e a participação da comunidade local. Avaliar a capacidade de carga turística das trilhas interpretativas, elaborando um zoneamento quanto à fragilidade ambiental das mesmas. Realizar oficinas para socializar os conhecimentos, visando a interação e formação de futuros condutores de visitantes nas comunidades. Organizar eventos que promovam articulações entre as instituições envolvidas na rede, bem como, outras locais e nacionais. Instrumentalizar os laboratórios das instituições da rede de pesquisa no intuito de contribuir com a formação de futuros pesquisadores e apoio de futuras pesquisas sobre a temática. Divulgar os resultados parciais em eventos locais e nacionais. Divulgar os resultados em forma de artigos..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2011 - 2011
Troca de saberes no Cerrado: ecologia, valorização dos quintais, segurança alimentar e cidadania nas comunidades Kalunga em Teresina de Goiás
Descrição: A área para o desenvolvimento do projeto situa-se na região da Serra Geral, vale do rio Paranã, em Goiás. SIGProj - Página 4 de 35 As atividades de extensão serão desenvolvidas para uma população de remanescentes de quilombos denominada Kalunga, em Teresina de Goiás, nas comunidades de Diadema e Ribeirão. O projeto envolve alunos dos Cursos de Geografia, Engenharia Florestal e de Nutrição e, professores do Instituto de Estudos Sócio-Ambientais (IESA), da Escola de Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos(EA), Faculdade de Nutrição e a população Kalunga. As ações visam a troca de conhecimentos e saberes entre a Universidade e os Kalunga com temáticas ligadas à identidade territorial Kalunga, valorização do cerrado, quintais ecológicos, segurança alimentar e aproveitamento de frutos do cerrado, e do potencial turístico da região; além de discussões relativas ao uso e o acesso à água, à valorização e uso dos recursos florestais. Espera-se obter como resultado uma combinação do saber comum, coletivo com o construído nas relações com o saber científico, buscando construir novos saberes específicos, particulares, mas também universais. E, que esses saberes possam colaborar para o fortalecimento da cidadania da comunidade Kalunga e dos acadêmicos e, do espírito critico dos estudantes para uma atuação profissional cidadã..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2011 - Atual
Projeto Universal: Visões contemporâneas do Cerrado e intersecção de políticas sociais e ambientais - Reserva da Biosfera do Cerrado no norte e nordeste de Goiás
Descrição: A pesquisa em tese pretende evidenciar as repercussões das atuais e diversas formas de ocupação do Cerrado (agronegócios, biotecnologias, áreas protegidas, agricultura familiar, etc.) nas relações socioeconômicas e culturais no território face às políticas propostas. Ela é, resumidamente, uma investigação geral sobre os impactos das políticas atuais voltadas para o meio ambiente e para o meio rural para a ocupação do Cerrado e sobre a biodiversidade. Em suma, procura interpretar as modificações do território. Por meio de uma perspectiva reflexiva, busca-se compreender o dinamismo do uso e gestão do Cerrado e a diversidade da interpretação da biodiversidade à luz de políticas governamentais concebidas para áreas de Cerrado..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2010 - Atual
Visões contemporâneas do cerrado e intersecção de politicas sociais e ambientais – Reserva da Biosfera do Cerrado no norte e nordeste de Goiás
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2010 - Atual
Conhecimento Popular e as Práticas SocioCulturais - Biodiversidade e Visões Contemporâneas do Cerrado
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2008 - 2014
Pró-cultura: A Dimensão territorial das festas populares e do turismo:estudo comparativo do patrimônio imaterial em Goiás,Ceará e Sergipe
Descrição: ste Grupo de pesquisa tem como objetivo discutir a cultura que por se tratar de um fenômeno dinâmico, necessita ser constantemente analisado, o patrimônio imaterial que é um fator de desenvolvimento econômico e de cidadania. Constitui uma proposta de estudo comparativa, e por isso será desenvolvido em três estados. Propomos a elaboração de um Atlas, no intuito de fazer com que as manifestações culturais tenham maior valorização e visibilidade como patrimônio..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2008 - 2012
Biotecnologias e a gestão participativa da biodiversidade: estudos de caso de intituições, conhecimento popular e saberes locais na Caatinga e no Cerrado brasileiro
Descrição: O presente projeto objetiva pesquisar a utilização das biotecnologias no Cerrado e na Caatinga, sua interferência na preservação na biodiversidade desses dois biomas no que diz respeito à cana de açúcar (biocombustível), organismos geneticamente modificados e produção da soja, além de discutir os diferentes reflexos do uso da natureza na cultura local. Por meio de uma perspectiva reflexiva, busca-se compreender entre as diversas concepções existentes, a visão que as populações do cerrado e da caatinga possuem da biodiversidade como resultante de uma cultura particular, na apropriação do território, no conhecimento local e conservação. Essa pesquisa fará uso da investigação qualitativa, em que haverá a necessidade do estudo de caso investigativo e interpretativo. Para tanto a coleta de dados será essencialmente necessária. Para apresentar as biotecnologias e a gestão participativa da biodiversidade na caatinga e no cerrado necessitará um levantamento e análise de referenciais bibliográficos que dêem sustentação teórica metodológica para esclarecer a problemática existente..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
2008 - Atual
As identidades sociais e suas e suas formas de representações subjacentes nas práticas culturais.
Descrição: Este projeto busca compreender as representações enquanto fatores constituintes e constituidores de identidades sociais. Ele está organizado por meio de três abordagens fundamentais: Goiânia: representações e identidades da cidade; a importância do ensino de geografia na materialização da identidade goiana; e, as identidades culturais do Estado de Rondônia Pará e Tocantins a partir das representações espaciais. A realização de estudos que abordam as representações como elemento construtivo da identidade e representações, justifica a relevância desta investigação. A identidade é formada por um conjunto de elementos, próprios de determinado grupo social, identificados pela maneira como esse grupo se relaciona com o mundo. Esta concepção teórica permeia os três subprojetos que constituem esta pesquisa. O primeiro tem o propósito de analisar a complexidade do processo de formação do Estado de Rondônia, por meio dos processos de colonização, que redundaram em formas diversificadas de apropriação do espaço geográfico e constituição das identidades. O segundo subprojeto se preocupa em averiguar se as representações sobre Goiânia se caracterizam em múltiplas identidades para a cidade e seus habitantes. O terceiro subprojeto, por sua vez, relacionado às práticas educativas, tem o propósito de investigar as contribuições da educação na construção dos atributos identitários das cidades. Os subprojetos serão desenvolvidos com bases nos princípios da pesquisa qualitativa e participativa e a aplicabilidade de procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica e documental, pesquisa de campo, observações, história de vida, entrevistas, análise discursiva e registro de caderno de campo. Nessa perspectiva, esta proposta de pesquisa tem como objetivo contribuir com as leituras que abordam o processo de construção e representação de identidades a partir das imagens, representações e práticas culturais e educacionais expressos nos modos de vida, nas subjetividades e nos sentimentos de pertencimentos d.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2007 - 2010
Festas: apropriação e gestão patrimonial para o turismo em Goiás
Descrição: As manifestações culturais de maior visibilidade têm se transformado em importante instrumento para alavancar o desenvolvimento local e regional e estimular atividades relacionadas ao turismo, O turismo cultural/religioso como estratégia de desenvolvimento também contribui para uma maior visibilidade do patrimônio cultural, com é o caso das festas, visto que, através da atividade turística reafirma as identidades locais ao promover uma oferta diferenciada, baseada em representações decorrentes do resgate da memória da comunidade local. São as festas ligadas principalmente às influências cristãs e africanas para as quais direcionaremos nossa análise. Selecionamos as manifestações a partir dos seguintes critérios: - As mais representativas da diversidade cultural do Estado de Goiás; - Aquelas que marcam presença no calendário turístico; - Aquelas passíveis de se transformarem em um importante produto turístico. Entre as manifestações selecionadas estão: - Festa do Divino de Pirenópolis considerando as Folias do Divino e as Cavalhadas; - Procissão do Fogaréu e Folias urbanas na Cidade de Goiás; - Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Catalão as Congadas; - Festa do Divino Pai Eterno de Trindade as peregrinações; - Festa do Muquém de Niquelândia e Colinas do Sul considerando as peregrinações e folias rurais. - Folias urbanas em Goiânia. - Festas de padroeiros. O projeto se subdividem em 5 subprojetos: 1) Apropriação do Patrimônio Cultural pelo Turismo 2) Cartografia do Patrimônio Ambiental relacionado às Festas e Romarias em Goiás 3) Políticas Culturais em Goiás: o papel da AGEPEL na representação da Cultura Goiana 4) A Dimensão Territorial e Cultural das Festas 5) Festas de padroeiros 6) Galícia: estudo de turismo cultural e a contribuição para o fortalecimento do turismo em Goiás. Este quinto subprojeto visa estabelecer a comparação e apoio com a Espanha e envolvera todas instituições do pacto de cooperação. Devido à complexidade do tema: cultura, pa.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
2001 - 2011
Conhecimento etnográfico de comunidades tradicionais do cerrado
PROJETOS DE EXTENSÃO
2016 - Atual
A Mulher Rural Assentada: Troca de Saberes sobre Ambiente, Agroecologia nos quintais e ensinamentos para Economia Social - Vão do Paranã - GO
Descrição: A área para o desenvolvimento do projeto situa-se na região do vão do Paranã, Goiás, mais ;precisamente nos assentamentos de Bacupari em Posse (GO), do Agrovila, Cintia Peter e Capim de ;Cheiro, em Mambaí (GO). As atividades de extensão serão desenvolvidas, tendo como foco, as ;mulheres dos assentamentos mencionados, as quais são representantes singulares, tanto da luta ;campesina, quanto do cuidado com o lar e a família. Este projeto envolve alunos dos cursos de ;Geografia, Engenharia Florestal, Ciências Ambientais e de Agronomia e, professores do Instituto de ;Estudos Socioambientais (IESA), da Escola de Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos EA). As ações visam: a troca de conhecimentos e saberes entre a Universidade e as assentadas como ;temáticas ligadas à valorização dos quintais agroecológicos para o Cerrado, economia solidária/social, segurança alimentar familiar e aproveitamento de frutos, valorização e uso dos ;recursos florestais, por meio da produção de mudas, além de cursos que proporcionem a discussão ;sobre as questões de gênero e políticas públicas para mulheres; e oficinas práticas, como a ;produção de mudas, de doces, geleias e compostagem, o que poderá contribuir com a renda ;familiar.; Espera-se obter como resultado uma combinação do saber comum, coletivo com o construído nas ;relações com o saber científico, buscando construir novos saberes específicos, particulares, mas; também universais. E, que esses saberes possam colaborar para o fortalecimento dos assentamentos e dos acadêmicos e, do espírito crítico dos estudantes para uma atuação profissional cidadã..
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.
PRÊMIOS E TÍTULOS
2016 - Homenagem pela contribuição à Geografia Agrária, ENGA - Encontro Nacional de Geografia Agrária.
2015 - Homenagem pela contribuição à Geografia, IESA - Instituto de Estudos Socioambientais (UFG).
2014 - Presidente distinguida na coordenação da ANPEGE, ANPEGE - Associação Nacional de Pós Graduação em Geografia.
2011 - Homenagem por tutoria no PET, Universidade Federal do Ceará - Departamento de Geografia.
INTEGRAÇÃO EM REDES
NEER- Núcleo de Estudos sobre Espaço e Representações. 24 participantes/ pesquisadores de 17 instituições brasileiras.
RETEC- Red internacional de estúdios de território y cultura.- Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, França, México, Peru,Venezuela
RELISDETUR- Red latinoamericana de innvestigadores en desarrollo y turismo- Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México.
RIEF - Red Internacional de Investigadores en Estudios de Fiesta, Nación y Cultura. RIEF-. Una Red con más de 150 investigadores de varias naciones
. GI-1871: Grupo de Investigación de Análises Territorial, da universidad de Santiago de Compostela-Espanha.
PROFESSORA VISITANTE
1-Canadá. –Montreal- Université de Quebec-Departément de Géographie. 4 meses. 2003
2-Argentina-Mendoza- Universidad de Cuyo-Programa AUGM.2012
3-México- Xoximilco- Universidad Autonoma Metropolitana do Mexico-Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. 2012
4-Colombia-Manizales Universidad de Caldas –Doctorado en Estudios Territoriales , desde 2009 a cada dois anos..
5- Colombia- Rioacha- Universidad de Guajira- 2018.
COORDENAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO
a) Inicio em 2016- A Mulher Rural Assentada: Troca de Saberes sobre Ambiente, Agroecologia nos quintais e ensinamentos para Economia Social - Vão do Paranã - GO
b) Desde 2010- Visões contemporâneas do cerrado e intersecção de politicas sociais e ambientais – Reserva da Biosfera do Cerrado no norte e nordeste de Goiás
c) Inicio em 2010- Conhecimento Popular e as Práticas Socioculturais - Biodiversidade e Visões Contemporâneas do Cerrado
COORDENAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA
1-2011- Troca de saberes no Cerrado: ecologia, valorização dos quintais, segurança alimentar e cidadania nas comunidades Kalunga em Teresina de Goiás
2-2011 a 2014 - Região da biosfera goyaz - cultura e turismo: oportunidades de conhecimentos e propostas de estruturação de novos produtos turísticos
3- 2014- Cartografia dos saberes populares: as festas juninas e natalinas nos estados de Sergipe e Goiás
4- 2013 a 2017- Mobilidade - Paisagens e Desenvolvimento Local: inventário, análise e estudo comparativo de Chibuto - Moçambique e Goiás – Brasil.
5- Desde 2014- Ambiente, Mulher e Cidadania nas Comunidades Tradicionais no Território da Cidadania do Vão do Paranã e da RVS Veredas do Oeste Baiano
6- 2014 atual .Identidades territoriais e políticas de desenvolvimento territorial e ambiental na Reserva da Biosfera Cerrado –Goiás.
7- 2014- 2018- A mulher rural assentada nos espaços da casa e dos quintais: troca de saberes sobre agroecologia, economia social/criativa e saúde no Vão do Paranã-GO
8- Desde 2018 -Povos subalternos nos territórios delimitados pelo governo federal no Amapá e presenças nos planos de desenvolvimento estadual
9- 2020- Ruralidades e sinergias na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) no século XXI
10. 2021- Paisagens Culturais e políticas de desenvolvimento territorial e ambiental na Reserva da Biosfera de Goyaz..
LIVROS ORGANIZADOS E PUBLICADOS
ALMEIDA, MG et al. Geografia sociocultural uma trilogia, no prelo.
ALMEIDA, M. G.. Território de tradições e de festas. 1. Curitiba. ed: UFPR, 2018.
ALMEIDA, M. G.. Geografia Cultural - Um modo de ver. 1. ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2018. v. 1. 384 p .
ALMEIDA, M. G.; SILVA, M. A. V. (Org.) ; TORRES, M. A. C. (Org.) ; D`ABADIA, M. I. V. (Org.) ; CURADO, J. G. T. (Org.) . Manifestações Religiosas Populares em Goiás: Atlas de festas católicas. 2. ed. Anápolis: UEG, 2018.
ALMEIDA, M. G.; CURADO, J. G. T. ; TEIXEIRA, M.F. ; MOTA, Rosiane Dias ; MARTINS, L. N. ; MOREIRA, J. F. R. ; SOUZA, A. F. G. ; LIMA, R. S. ; TORRES, R. P. A. ; BONJARDIM, S.G.M. . Atlas das celebrações : as festas dos ciclos junino e natalino em Goiás e Sergipe. 1. ed. Aracajú: Instituto Banese, 2016. v. 1. 92 p .
ALMEIDA, M. G.; MOTA, R. D. (Org.) ; BRITO, E. P. (Org.) ; MACHANGUANA, C. A. (Org.) ; RIGONATO, Valney Dias (Org.) ; RIBEIRO, G. G. (Org.) ; SILVA, R. G. (Org.) ; SANTOS, S. A. (Org.) . Paisagens e Desenvolvimento Local: Imagens sobre Chibuto, Moçambique. 1. ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 78 p .
ALMEIDA, M. G.. O Território e a comunidade Kalunga: Quilombolas em diversos olhares. 1. ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 329p .
DE ALMEIDA, MARIA GERALDA; RIGONATO, V. D. ; BRITO, E. P. ; MACHANGUANA ; ARGENTINA, I.(orgs) . Aprendizado participativo em Chibuto-Gaza. 1. ed. Goiânia: Kelps, 2015. 56 p .
CURADO, J. G. T. (Org.) ; BRETAS, I. F. (Org.) ; SILVA, M.A. (Org.) ; D`ABADIA, M. I. V. (Org.) ; ALMEIDA, M. G. (Org.) ; PAULA, M. V. (Org.) ; MOURA, M. R. P. (Org.) BARBOSA, R R.(Org.) ; MOTA, R. D. (Org.) . Atlas de festas populares de Goiás. 1. ed. goiania: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 125 p .
ALMEIDA, M. G.; ARRAIS, T. A. (Orgs.) . É geografia, é Paul Claval. 1. ed. Goiânia: UFG, 2013. 176 p .
ALMEIDA, M. G.; MAIA, C. E. S. (Org.) ; LIMA, L. N. M. (Org.) . Manifestações do Catolicismo. 1. ed. Goiânia Goiás: LABOTER/FUNAPE, 2013. 998 p .
ALMEIDA, M. G.; TEIXEIRA, Karla A. (Org.) ; ARRAIS, T. P. A. (Org.) . Metrópoles: Teoria e pesquisa sobre a dinâmica metropolitana. 1. ed. Goiânia: Cânone, 2012. 152p .
COSTA, J. J. (Org.) ; SANTOS, C. O. (Org.) ; SANTOS, M. A. (Org.) ; ALMEIDA, M. G. (Org.) ; SOUZA, Rosemeri Melo e (Org.) . Questões geográficas em debate. 1. ed. Sao Cristóvão: UFS, 2012.
DE ALMEIDA, MARIA GERALDA. Trocas de saberes no Cerrado, valorização dos quintais, segurança alimentar e cidadania nas comunidades kalunga em Teresina de Goiás. 1. ed. Goiânia: IESA/FUNAPE/UFG, 2012. 31 p .
ALMEIDA, M. G.; CRUZ, B. N. (Orgs.) . Território e Cultura - inclusão e exclusão nas dinâmicas socioespaciais. Goiânia: CEGRAF-UFG, 2009. 256 p .
ALMEIDA, M. G.. Territorialidades na América Latina. 1. ed. Goiânia: Cegraf UFG, 2009. 240 p .
ALMEIDA, M. G.; CHAVEIRO, Eguimar Felício (Org.) ; BRAGA, Helaine da Costa (Org.) . Geografia e Cultura - os lugares da vida e a vida dos lugares. 1. ed. , 2008. v. 1. 313 p .
ALMEIDA, M. G..(orgs) Tantos Cerrados: múltiplas abordagens sobre a biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira, 2005. 321p .
ALMEIDA, M. G.; RATTS, Alecsandro J P (Orgs.) . Geografia Leituras Culturais. Goiânia: Alternativa, 2003. v. 1500. 286 p .
ALMEIDA, M. G.. Paradigmas do Turismo. 1. ed. Goiânia: Editora Alternativa, 2003. 176 p .
ALMEIDA, M. G.. Abordagens Geográficas de Goiás: o natural e o social na contemporaneidade. CDU. ed. Goiânia: IESA - CEGRAF UFG, 2002. 260p
ARTIGOS ( 113 artigos desde 1986. Em 2020 e 2021)
1.ALMEIDA, M. G.; MENEZES, S. S. M. . Pamonha, Alimento Identitário e Territorialidade. MERCATOR (FORTALEZA. ONLINE), v. 20, p. 1-15, 2021.
2.ALMEIDA, M. G.. O Caminho de Cora Coralina - Turismo Literário ou Marketing do Turismo?. REVISTA SAPIÊNCIA: SOCIEDADE, SABERES E PRÁTICAS EDUCACIONAIS, v. 9, p. 237-249, 2020.
3.FREITAS, J. S. ; ALMEIDA, M. G. . As (Não)Representações da Paisagem no Movimento Cubista: percursos e inquietações geográficas nas pinturas de Albert Gleizes. Caminhos da Geografia (UFU. Online), v. 21, p. 87-107, 2020.
4.ALVES, E. C. ; ALMEIDA, M. G. ; SILVA JUNIOR, A. R. . GEOPOESIA E TERRITÓRIO: A CONSTITUIÇÃO DAS IDENTIDADES KALUNGA EM MIMOSO - TO. REVISTA GEONORDESTE, v. 1, p. 93-110, 2020.
5.MOREIRA, JORGEANNY DE FÁTIMA R. ; DE ALMEIDA, MARIA GERALDA . Turismo y desarrollo en la Comunidad Quilombola de Engenho II en Cavalcante, Goiás, Brasil. ANALES DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, v. 40, p. 115-133, 2020.
6. SOUZA JUNIOR, C. R. B. ; ALMEIDA, M. G. . Geografias criativas: afinidades experienciais na relação arte-geografia. SOCIEDADE & NATUREZA (UFU. ONLINE), v. 32, p. 484-493, 2020.
7.ALMEIDA, M. G.. Povos indígenas, identidades territoriais e territorialidades fragilizadas no norte do Amapá, Brasil. Ateliê geográfico (UFG), v. 14, p. 91-111, 2020.
8.ALMEIDA, M. G.; MACHANGUANA . UKANYI E GWAZA MUTINE- FESTEJOS CULTURAIS E IDENTITÁRIOS EM MAPUTO E GAZA - MOÇAMBIQUE. GEO UERJ (2007), p. e53911-e53924, 2020.
9.ALMEIDA, M. G.. O geógrafo fenomenólogo: sua oralidade e escrita no/do mundo. Geograficidade, v. 10, p. 38-47, 2020.
10.ALMEIDA, MARIA GERALDA DE. Paisagens e Desenvolvimento Local: inventário, análise e estudo de Chibuto (Moçambique). IBEROGRAFIAS: REVISTA DE ESTUDOS IBÉRICOS, v. 16, p. 223-232, 2020.
11.GONCALVES, L. R. F. ; ALMEIDA, M. G. . Identidade Territorial e Discursos Ideológicos. BOLETIM DE GEOGRAFIA (ONLINE), v. 38, p. 18-32, 2020.
12.FARIA, K. M. S. ; ALMEIDA, M. G. . O discurso e a prática do Ecoturismo na visão desenvolvimentista em Comunidades de Quilombolas em Goiás, Brasil. CONFINS (PARIS), v. 48, p. 1-15, 2020.
13 MESQUITA, L. P. ; ALMEIDA, M. G. . Vender, comprar, trocar e socializar: a participação das mulheres nas feiras de Mambaí e Posse no estado de Goiás, Brasil. CONFINS (PARIS), v. 48, p. 1-8, 2020.
CAPITULOS DE LIVROS - SELECIONADOS
1 ALMEIDA, M. G.. A presença da Geografia Cultural na Pós-Graduação em Geografia NPPGEO Universidade Federal de Sergipe. In: MENEZES, Sonia.S.M. PINTO, Josefa.E.S.S.. (Org.). Geografias e geograficidades: escolhas, trajetórias e reflexões. 1ed.São Cristóvão: UFS, 2020, v. , p. 89-110.
2.MOREIRA, J. F. R. ; ALMEIDA, M. G. . Comunidades, territorios y turismo en América Latina. In: Lilia Zizumbo Villarreal; Neptalí Monterroso Salvatierra. (Org.). Comnunidad Tradicional Remanente Del Quilombo Y La Actividad Turística Para El Desarrollo En El Engenho II - Cavalcante - Goiás - Brasil. 1ed.México, D.F.: Editorial Torres Asociados, 2020, v. , p. 1-485.
3.SOUZA JUNIOR, C. R. B. ; ALMEIDA, M. G. . Geopoéticas do Lugar nas Margens dos Rios Paraopeba e Loire: Artes (Contemporâneas) de Habitar a Terra. In: DOZENA, Alessandro (Org.).. (Org.). Geografia e Arte. 1ed.Natal: Caule de Papiro, 2020, v. 1, p. 95-140.
4.RIGONATO, Valney Dias ; ALMEIDA, MARIA GERALDA DE . R-existências dos Geraizeiros Baianos e o Front do Agro-Energia-Negócios: Comunidades Geraizeiras do Baixo Vale do Rio Guará, São Desidério, na Mesorregião do Extremo Oeste da Bahia. In: Josefa de Lisboa Santos; Eraldo da Silva Ramos Filho; Laiany Rose Souza Santos. (Org.). Ajuste Espacial do Capital no Campo: questões conceituais e R-existências. 1ed.Aracaju: ArtNer Comunicação, 2019, v. 1, p. 61-82.
5. ALMEIDA, MARIA GERALDA DE. Observar e entender o lugar rural: trilhas metodológicas. In: MUNDIM VARGAS, M. A.; SANTOS, D; L; VILAR, J. W. C; OLIVEIRA, E. A.. (Org.). Tempos e Espaços da Pesquisa Qualitativa. 1ed.Aracaju: IFS, 2019, v. 1, p. 45-70.
6. ALMEIDA, M. G.. Observar e entender o lugar rural: Trilhas metodológicas. In: MUNDIM VARGAS, M. A.; SANTOS, D; L. (Org.). Tempos e Espaços da Pesquisa Qualitativa. 1ed.Aracaju: Criação Editora, 2018, v. 1, p. 45-.
7.ALMEIDA, M. G.; MOURA, M. R. P. ; SILVA, M. A. V. ; BRETAS, I. F. ; D`ABADIA, M. I. V. ; MOTA, R. D. . Vamos Festar! Festas populares em Goiás. In: MARIA GERALDA DE ALMEIDA. (Org.). Territórios de Tradições e de Festas. 1ed.CURITIBA: UFPR, 2018, v. 1, p. 93-108.
8. MACHANGUANA, C. A. ; ALMEIDA, M. G. . Ukanyi, Festejos, patrimônio e celebrações em Maputo e Gaza - Moçambique: proposta para um roteiro turístico rural. In: Sarmento, Cristina Montalvao; Guimarães, Pandora; Moura, Sandra. Associacao das universidades de lingua portuguesa (AULP). (Org.). Patrimônio histórico do espaço lusofono - ciência, arte e cultura. 1ed.Lisboa, Portugal: Europress, 2018, v. 1, p. 1-12.
9. MARQUES, A. C. N. ; ALMEIDA, M. G. . "Vivendo entre lugares": preâmbulos sobre a trajetória dos grupos étnicos no Litoral Sul, Paraíba - Brasil. In: ETEC - Red Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura; TERRITORIALIDADES, Grupo de Investigação.. (Org.). Paisajes productivos y desarrollo económico territorial: conflictos culturales, económicos y políticos. 1ed.Manizales: Universidade de Caldas,Colombia, 2016, v. , p. 211-232.
10.ALMEIDA, M. G.. A valorização da paisagem turística e os conflitos sociais e econômicos no/do território afro descendente Kalunga - Goiás - Brasil. In: RETEC - Red Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura; TERRITORIALIDADES, Grupo de Investigação.. (Org.). Paisajes productivos y desarrollo económico territorial: conflictos culturales, económicos y políticos. 1ed.Manizales: Universidade de Caldas,Col,ombia 2016, v. 1, p. 233-253.
11. ALMEIDA, M. G.. Sentimentos e representaçoes nas tessituras de paisagem e patrimonio. In: Lilia Zizumbo Villarreal; Neptali Monterroso Salvatierra. (Org.). La Configuración Capitalista de Paisajes Turísticos. 1ed.Cidade do México: Editora da Universidad Autónoma del Estado de México, 2015, v. , p. 1-.
12. ALMEIDA, M. G.. As espacialidades do patrimonio festivo, e ressignificações contemporâneas no Brasil, Colombia e no México. In: Romancini, Sonia Regina; Rossetto, Onélia Carmem; Nora, Giseli Dalla. (Org.). Neer - as representações culturais no espaço: perspectivas contemporâneas em geografia. 1ed.Porto Alegre - RS: Editora Imprensa Livre, 2015, v. 1, p. 106-138.
13. MARTINS, L. N. ; ALMEIDA, M. G. . Encontros e distanciamentos entre a religiosidade kalunga e o catolicismo oficial: um olhar para as singularidades do lugar na festa de Nossa Senhora Aparecida. O Território e a comunidade Kalunga: Quilombolas em diversos olhares. 1ed.Goiânia: Gráfica UFG, 2015, v. 1, p. 279-304.
14. ALMEIDA, M. G.. Os territórios e identidades dos Kalunga de Goiás. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). O Território e a comunidade Kalunga: Quilombolas em diversos olhares. 1ed.Goiânia: Gráfica UFG, 2015, v. 1, p. 45-68.
15. ALMEIDA, M. G.. Agroecological sites as expressions of territorial identities and as perspectives to the traditional marginal populations development. Sustainable development in peripheral regions. 1ed.Warsaw: Publishing House of University of Warsaw, Polonia, 2015, v. 1, p. 75-92.
16. ALMEIDA, M. G.. Festas Rurais Tradicionais: novas destinações turísticas?. In: Artur Cristóvão; Xerardo Pereiro; Marcelino de Souza; Ivo Elesbão. (Org.). Turismo rural em tempos de novas ruralidades. 1ed.Porto Alegre: UFRGS, 2014, v. , p. 123-147.
17. ALMEIDA, M. G.. Etnodesenvolvimento e Turismo nos Kalunga do Nordeste de Goás. In: Ismar Borges de Lima. (Org.). ETNODESENVOLVIMENTO E GESTÃO TERRITORIAL: comunidades indígenas e quilombolas. 1ed.Curitiba: EDITORA CRV, 2014, v. 1, p. 195-212.
18. VIEIRA, L. V. L. ; ALMEIDA, M. G. . Conflitos Ambientais no litoral norte de Sergipe. In: José Wellington Carvalho Vilar; Lício Valério Lima Vieira. (Org.). Conflitos Ambientais em Sergipe. 1ed.Aracaju: IFS, 2014, v. , p. 11-.
19. MENEZES, S. DE S. M. ; ALMEIDA, M. G. . Reorientações produtivas na divisão familiar do trabalho: papel das mulheres do Sertão do Sâo Francisco (Sergipe) na produção do queijo de coalho.. In: Delma Pessanha Neves; Leonilde Servolo de Medeiros. (Org.). Mulhers camponesas: trabalho produtivo e engajamentos politicos.. 1ed.Niterói: Alternativa, 2013, v. 1, p. 129-146.
20. ALMEIDA, M. G.. O Catolicismo Popular e as Festas Religiosas das Comunidades Quilombolas Kalunga: Singularidades de um espaço camponês. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). Manifestações do Catolicismo. 1ed.Goiânia: Funape, 2013, v. , p. 399-419.
21. TAVARES, M. E. G. ; ALMEIDA, M. G. . Fronteiras Étnico-Raciais - O Negro na Formação da Cultura Tocantinense. In: Roberto de Souza Santos. (Org.). Território e Diversidade Territorial no Cerrado: Cidades, Projetos Regionais e Comunidades Tradicionais. 1ed.Goiânia: Kelps, 2013, v. 1, p. 211-232.
22. ALMEIDA, M. G.. Sentidos das Festas no Território Patrimonial e Turístico. In: COSTA, Everaldo Batista da; BRUSADIM, Leandro Benedini; PIRES, Maria do Carmo. (Org.). Valor patrimonial e turismo: limiar entre história, território e poder. 1ed.São Paulo: Outras Expressões, 2012, v. , p. 157-171.
23. ALMEIDA, M. G.. Fronteiras sociais e identidades no território do complexo da usina hidrelétrica da Serra da Mesa-Brasil. In: Francine Barthe-Deloizy; Angelo Serpa. (Org.). Visões do Brasil: Estudos culturais em Geografia. 1ed.Salvador BA: EDUFBA; Edições L'Harmattan, 2012, v. , p. 145-166.
24. ALMEIDA, M. G.; Identidades territorias em sítios patrimonializados: comunidades de quilombola, os kalungas de Goiás. In: Izabela Tamaso e Manuel Ferreira Lima Filho. (Org.). Antropologia e Patrimônio Cultura: trajetória e conceitos. 1ed.Brasília - DF: ABA- Associação Brasileira de Antropologia, 2012, v. único, p. 245-263.
25. ALMEIDA, M. G.. Territorialidades em territórios mundializados - os imigrantes brasileiros em Barcelona-Espanha.. In: OLIVEIRA, V.;LEANDRO, E. L.; AMARAL, J. J. O.. (Org.). Migração > Múltiplos Olhares. Porto Velho: Editora da Un. Fed. de Rondônia, 2011, v. , p. 135-155.
26.ALMEIDA, M. G.. O patrimônio festivo e a reinvenção da ruralidade e territórios emergentes de turismo no espaço rural.. In: SOUZA, M. de.; ELESBÃO, I.. (Org.). Turismo rural - iniciativas e inovações. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2011,.
27. ALMEIDA, M. G.. As tradições reinventadas e pretensões de serem objetos turísticos: a folia de Santo Antônio nos Kalunga - Goiás. In: IGLESIAS, M.C.C.. (Org.). Patrimônio turísticos en Iberoamérica: experiencias de investigación, desarrollo e innovación. 1ed.Santiago de Chile: Ediciones Universidad Central de Chile, 2011, v. , p. 404-414.
28. SOUZA, S. M. ; ALMEIDA, M. G. ; CERDAN, Claire T. . As fabriquetas de queijo e a configuração do territorio queijeiro no Sertão Sergipano do São Francisco-Brasil: enraizamento cultural e inovação. In: François Boucher y Virginie Brun (Coordinadores). (Org.). De la Leche al Queso : Queserías Rurales en América Latina. México, DF: Miguel Ángel Porrúa, 2011, v. , p. 171-198.
29. ALMEIDA, M. G.. A sedução do turismo no espaço rural. In: Eurico de Oliveira Santos; Marcelino de Souza. (Org.). Teoria e prática do turismo no espaço rural. 1ed.Porto Alegre: manole, 2010, v. 1, p. 33-46.
30. ALMEIDA, M. G.. Dilemas territoriais e identitários em sítios patrimonializados: os Kalunga de Goiás.. In: PELÁ, M.C.H; CASTILHO,D.. (Org.). Cerrados: perspectivas e olhares. Goiânia: Editora Vieira, 2010, v. , p. 113-129.
31. ALMEIDA, M. G.. Os cantos e encantamentos de uma geografia sertaneja de Patativa do Assaré. In: Eduardo Marandola Jr.; Lúcia Helena Batista Gratão. (Org.). Geografia e Literatura. Londrina: Editora Campus, 2010, v. , p. -.
32. ALMEIDA, M. G.. Nova "Marcha para o Oeste": turismo e roteiros para o Brasil Central. In: Marília Steinberger. (Org.). Territórios Turísticos no Brasil Central. Brasília: L.G.E Editora, 2009, v. , p. 83-108.
33 ALMEIDA, M. G.. Diáspora: viver entre-territórios. e entre-culturas?. In: Marcos Aurélio Saquet; Eliseu Savério Sposito. (Org.). Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos. 1ed.São Paulo: Expressão Popular, 2009, v. , p. 175-195.
34. ALMEIDA, M. G.. O sonho da conquista do Velho Mundo: a experiência de imigrantes brasileiros no viver entre territórios. In: Maria Geralda de Almeida; Beatriz Nates Cruz. (Org.). Território e Cultura: inclusão e exclusão nas dinâmicas socioespaciais. 1ed.Goiânia: Cegraf UFG, 2009, v. , p. 163-174.
35. ALMEIDA, M. G.. As ambiguidades do ser ex-migrante: o retorno e o viver entre territorios. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). Territorialidades na América Latina. 1ed.Goiânia: Cegraf UFG, 2009, v. , p. 208-218.
36. ALMEIDA, M. G.. Geografia Cultural: contemporaneidade e um flashback na sua ascensão no Brasil.. In: MENDONÇA, Francisco; LOWEN SAHR, Cicilian Luiza; SILVA, Márcia da. (Org.). Espaço e Tempo: Complexidade e desafios do pensar e do fazer geográfico. Curitiba: ADEMADAN, 2009, v. , p. 243-260.
37. ALMEIDA, M. G.. Diversidade paisagística e identidades territorias e Culturais no Brasil sertanejo. In: ALMEIDA, Maria Geralda;CHAVEIRO, Eguimar Felício; BRAGA,Helaine Costa. (Org.). Geografia e Cultura: os lugares da vida e a vida dos lugares. 1ed.Goiânia: Editora Vieira, 2008, v. 01, p. 47-74.
38. ALMEIDA, M. G.. Uma Leitura Etnogeográfica do Brasil Sertanejo. In: Angelo Serpa. (Org.). Espaços Culturais: Vivências, imaginações e representações. Bahia: EDUFBA - Editora da Universidade Federal da Bahia, 2008, v. , p. 313-336.
39. ALMEIDA, M. G.. La política de regiones turísticas en el espacio brasileño. In: Lília Zizumbo Villarreal, Neptalí Monterroso Salvatierra. (Org.). Turismo Rural y Desarrollo Sustentable. Cidade do México: Universidad Autónoma del Estado de México, 2008, v. , p. 11-24.
40. ALMEIDA, M. G.. Desafios e possibilidades de planejar o turismo cultural. In: Giovani Seabra. (Org.). Turismo de Base Local - Identidade cultural e desenvolvimento regional. 1ed.Joao Pessoa: Editora Universitária, UFPB, 2007, v. 1, p. 151-167.
41. ALMEIDA, M. G.. Fronteira de Visoes de Mundo e de Identidades Territoriais- o território plural do Norte Goaino- Brasil. In: Beatriz Nates Cruz; Manuel Uribe. (Org.). Nuevas Migraciones y Movilidades. Caldas: Centro Editorial Universidad de Caldas,Colombia, 2007, v. 1, p. 131-141.
42. ALMEIDA, M. G.. A Produção do Ser e do Lugar Turístico. In: SILVA, José. B.; LIMA, Luiz. C.; ELIAS, Denise. (Org.). Panorama da Geografia Brasileira 1. São Paulo: Anna Blume, 2006, v. , p. 109-122.
43. ALMEIDA, M. G.. Identidade e sustentabilidade em territórios de fronteira no Estado de Goiás-Brasil. In: VALCUENDE DEL RIO, Jose Maria; CARDIA, Lais Maretti. (Org.). Territorialização, Meio-Ambiente e Desenvolvimento no Brasil e na Espanha / Territorialización, médio ambiente y desarollo em Brasil y en España. 00ed.Rio Branco: EDUFAC, 2006, v. 00, p. 185-206.
44. ALMEIDA, M. G.; ANJOS, J. L. ; ANJOS, R. L. C. C. . |Representações da reserva legal em assentamentos rurais no semi-árido sergipano. In: Dalva Maria da Mota; Heribert Schmitz; Helenira E. M. Vasconcelos. (Org.). Agricultura Familiar e abordagem sistêmica. Aracaju: Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção, 2005, v. , p. 145-164.
45. ALMEIDA, M. G.. A captura do Cerrado e a precarização de territórios: um olhar sobre sujeitos excluídos. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). Tantos Cerrados: múltiplas abordagens sobre a biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira, 2005, v. , p. -.
46. ALMEIDA, M. G.. Em busca da poética do sertão: um estudo de representações. In: Maria Geralda de Almeida; Alecsandro J. P. Ratts. (Org.). Geografia: leituras culturais. Goiânia: Alternativa, 2003, v. , p. 71-88.
47. ALMEIDA, M. G.. Lugares turísticos e a falácia do intercâmbio cultural. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). Paradigmas do turismo. Goiânia: Alternativa, 2003, v. , p. 11-19.
48. ALMEIDA, M. G.; DUARTE, Ivonaldo Ferreira . Perspectivas para o desenvolvimento doturismo no norte de Goiás. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). Paradigmas do Turismo. Goiânia: Alternativa, 2003, v. , p. 149-172.
49. ALMEIDA, M. G.. POLÍTICAS PUBLICAS E O DELINEAMENTO DO ESPAÇO TURÍSTICO GOIANO. In: MARIA GERALDA DE ALMEIDA. (Org.). ABORDAGENS GEOGRAFICAS DE GOIAS. 1ed.GOIANIA: EDITORA DA UFG, 2002, v. 1, p. 197-222.
50. ALMEIDA, M. G.. Culture et Territorialité - Le 'Sertão'brésilien Revisité. In: ORSTOM. (Org.). Território y Cultura. Territorios de conflito y cambio socio cultural.. Colombia: Universidad de Caldas, Manizale, 2002, v. , p. 309-324.
51. ALMEIDA, M. G.. Algumas inquietações sobre ambiente e turismo. In: MENEZES, A. V.; PINTO, J. E. S. S.. (Org.). Geografia 2001. 1ed.Aracaju: NPGEO/UFS, 2000, v. , p. 51-64.
52. ALMEIDA, M. G.; COSTA, M. C. L. . Travail, loisir et tourisme: territoire et culture en mutation. L'exemple de Beira-Mar, Fortaleza - Brésil. In: SANGUIN, A. L.. (Org.). Geógraphies et liberté: mélanges en hommage à Paul Claval. 1ed.Paris: L'Harmattan, 1999, v. , p. 337-345
53. ALMEIDA, M. G.; VARGAS, M. A. M. . A Dimensao Cultural do Sertao Sergipano. In: José Alexandre Felizola Diniz; Vera Lúcia Alves França. (Org.). CAPITULOS DE GEOGRAFIA NORDESTINA. ARACAJU: NPGEO/UFS, 1998, v. , p. 469-485.
54.ALMEIDA, M. G.. Turistificacão - Os Novos Atores e Imagens do Litoral Cearense.. In: AGB - ASSOC. GEOGR. BRASILEIROS. (Org.). NORDESTE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ASSOCIAÇÃO DOS GEOGRAFOS. JOAO PESSOA - PB: UFPB - AGB - JOAO PESSOA, 1997, v. , p. 27-36.
55. ALMEIDA, M. G.. Turismo e Os Novos Territorios No Litoral Cearense. In: Adyr B. Rodrigues. (Org.). TURISMO E GEOGRAFIA - REFLEXOES TEORICAS E ENFOQUES REGIONAIS.. SAO PAULO - SP: HUCITEC, 1996, v. , p. 184-190.
56. ALMEIDA, M. G.. Fortaleza: Les Paysages Et La Construction Des Territorialites.. In: ORSTOM. (Org.). ACTES DU COLLOQUE LE TERRITOIRE, LIEN OU FRONTIERE?. PARIS: ORSTOM, 1996, v. , p. -.
57. ALMEIDA, M. G.. A Problematica do Extrativismo e Pecuaria do Estado do Acre.. In: KOHLHEPP, G.; SCHRADER, A.. (Org.). HOMEM E NATUREZA NA AMAZONIA / HOMBRE Y NATURALEZA EN LA AMAZONIA.. TUBINGEN-RFA: TUBINGEN GEOGRAPHISCHE STUDIEN, 1987, v. , p. 222-236
-
 MARCELO JOSE LOPES DE SOUZA
MARCELO JOSE LOPES DE SOUZA FRONTEIRAS, CAMINHOS E TRINCHEIRAS:
UM RESUMO DA MINHA TRAJETÓRIA ACADÊMICA
E UM BALANÇO DOS RESULTADOS DE MEU TRABALHO CIENTÍFICO
(1986 – 2014)
Marcelo Lopes de Souza
(Rio de Janeiro, dezembro de 2014)
Fronteiras, caminhos e trincheiras:
Um resumo da minha trajetória acadêmica
e um balanço dos resultados de meu trabalho científico
(1986 – 2014)
"Não quero acabar o dia de hoje sem escrever que tenho os olhos cansados, acaso doentes, e não sei se continuarei este diário de fatos, impressões e ideias. Talvez seja melhor parar. (...) Qual! Não posso interromper o Memorial; aqui me tenho outra vez com a pena na mão. Em verdade, dá certo gosto deitar ao papel coisas que querem sair da cabeça, por via da memória ou da reflexão.
Machado de Assis, Memorial de Aires"
PRÓLOGO
Mesmo para alguém que, como eu, tem por costume refletir sistemática e criticamente sobre o seu próprio trabalho com as preocupações de 1) monitorar a coerência e o acerto das escolhas e 2) evitar cometer novamente eventuais erros do passado, fazer um balanço da própria carreira não há se ser um exercício trivial e isento de riscos. É sobejamente conhecido que autores são, frequentemente, juízes muito imperfeitos de suas próprias obras. Não é incomum que isto ou aquilo seja superestimado, ou que, às vezes, justamente por acautelar-se em demasia diante do espectro do narcisismo (ou seja, deste que parece ser um lamentável atributo da maioria dos intelectuais), termine-se por subestimar essa ou aquela realização. Isso sem falar nas lacunas ou omissões, nos exageros involuntários, nos erros de avaliação e em outros pecados e pecadilhos. Porém, é esta a tarefa que se me impõe, e dela tentarei me desincumbir da forma mais honesta que me for possível. Para evitar, precisamente, superestimar ou subestimar o alcance e a utilidade de certas atividades e ideias, busquei ser parcimonioso no que se refere ao julgamento da qualidade das minhas contribuições. Isso, aliás, é totalmente condizente com o significado maior da ciência: se o que importa é a produção de um conhecimento que seja, ao fim e ao cabo, reconhecido coletivamente como válido e quiçá como útil, o que conta é o julgamento alheio dos pares, dos estudantes e do público em geral, e não tanto o juízo que possa dele fazer o próprio autor. Nas páginas que se seguem, procurei realizar o difícil exercício de submeter a um escrutínio crítico aquilo que fiz e tenho feito, mas sem incursionar demasiado, embalado seja por vaidade, seja por modéstia, no terreno da valoração das contribuições.
A ressalva anterior não me impede e nem mesmo me exime, contudo, de fazer uma autocrítica e de proceder a juízos de valor sobre o meu caminhar. Na verdade, é isso que se espera e exige de um memorial. A propósito disso, uma das coisas que, por uma questão de lógica e “cronologia”, e mesmo por razões pedagógicas não é à toa que se trata de algo que incorporei, já há anos, ao repertório das coisas que repito incansavelmente para os meus orientandos, merece, já agora, ser lembrada, é que, independentemente dos erros e dos acertos, é necessário apostar, e apostar sempre, na combinação de pertinácia (não desistir diante de obstáculos, por maiores que sejam!) e paciência (tão necessária a um pesquisador brasileiro...). Essas são, talvez acima de todas as outras, as qualidades que um cientista precisa cultivar. Essas têm sido, desde a adolescência, as qualidades que tenho perseguido. E a isso se pode, também, acrescentar a minha convicção sobre a necessidade de planejamento e preparação: não se lançar em uma empreitada, seja a redação de um volumoso livro ou a de um simples artigo, se os pressupostos para a produção de um trabalho consistente ainda não tiverem sido satisfeitos.
Não se trata isso, evidentemente, de qualquer “receita de sucesso”, daquelas que abundam nos chamados livros de “autoajuda”. O que aqui desejo frisar é, por assim dizer, uma intencionalidade ou disposição básica; e, mais que isso, uma espécie de “método [de trabalho]” (no sentido amplo e etimológico: méthodos [gr.] = caminho para se atingir um fim). Nunca esqueci da recomendação de Marx, resumida por ele no prefácio da segunda edição (alemã) de O Capital: em meio a uma distinção entre o método de exposição e o método de investigação, frisava ele a importância de, antes de pôr-se a (tentar) apresentar o movimento da realidade, buscar apropriar-se, o mais pormenorizadamente possível, do material (o conhecimento) que viabiliza uma tal exposição, ou ao menos uma exposição coerente e convincente. Ou, como ele aconselhou alhures: antes de escrever, leia tudo o que for necessário, leia tudo o que lhe for possível ler sobre o assunto em questão. Em uma época como a nossa, em que vários fatores conspiram para estimular a pressa e trazer à luz, em congressos e publicações, trabalhos em que se desconhece grande parte da literatura especializada, tais palavras de Marx podem soar extemporâneas, anacrônicas. Mas lutar para defender a perenidade desse ensinamento corresponde, a meu ver, a combater um bom combate.
Nem é preciso dizer que tentar assimilar essas qualidades nem sempre evitou problemas ou decisões das quais eu me arrependeria. Afinal, o erro é inerente à ciência e, mais amplamente, à vida e à condição humana, como advertia Sêneca: errare humanum est. Apesar disso, busquei, sempre, não esquecer, também, da famosa ressalva atribuída a S. Bernardo, segundo a qual “persistir no erro é diabólico” (perseverare autem diabolicum)... Espero assim, pelo menos, ter errado muito menos do que poderia ter errado se tivesse dado menos atenção à necessidade de cultivar valores e hábitos como pertinácia, paciência (esta, no meu caso, às vezes em dose menor do que deveria ter sido o caso) e planejamento + preparação. Antes que pareça, porém, que estou a magnificar quaisquer atributos pessoais, no estilo de um enaltecimento de decisões individuais, cumpre deixar claro que sei muito bem que, muito mais que “tomar decisões”, fui, acima de tudo, modelado por circunstâncias da minha vida, para o bem e para o mal. Sem pertinácia e sem planejamento + preparação, provavelmente um filho de operário (tecelão) talvez nem sequer chegasse a uma graduação na UFRJ, a prestigiosa e reverenciada “Federal”, no começo dos anos 1980. E, sem paciência, talvez as condições de estudo em um lar em constante estado de tensão e conflito tivessem me levado não para os livros, mas sim para os mesmos descaminhos trilhados por vários coleguinhas dos tempos de infância e adolescência, na periferia e, depois, no subúrbio do Rio de Janeiro. A decisão pelos livros, no sentido de uma decisão soberana, madura e consciente, veio mais tarde, não nos primeiros anos da década de 70; por essa época, a leitura era, isso sim, um porto seguro, um refúgio, um alívio. E, cada vez mais, um prazer indescritível.
É válido, talvez, observar, como mais uma nota um pouco mais pessoal seja-me permitido isso em um memorial, que levar a sério o supracitado ensinamento de Marx, com o qual topei em 1982 (“antes de escrever, leia tudo o que for necessário”), exigiu de mim uma grande dose de disciplina. Isso, que soa óbvio, uma vez que se aplica a qualquer um, é, talvez, particularmente válido no meu caso, já que, no plano das relações interpessoais extra-acadêmicas, volta e meia agi impulsivamente, na juventude e também depois. É por isso curioso, para mim mesmo, que, em meu trabalho científico, eu tenha conseguido, já relativamente cedo, pôr em prática objetivos como ponderação e paciência. (Uma vez mais: não quero, com isso, de modo algum sugerir que, graças a essa assimilação, inicialmente uma simples intuição, alcancei sempre resultados corretos. Isso, insisto, deixo, por razões éticas e até de etiqueta, para outros avaliarem. O que me parece é que, pelo menos, aprendi cedo a incorporar algumas premissas do trabalho científico, e não creio que isso seja desimportante.) Hoje em dia, ao lançar um olhar retrospectivo sobre a minha carreira, é inevitável que eu a veja entrelaçada com outros aspectos da minha vida. E é inevitável a constatação de que teria sido muito bom se eu tivesse sempre sabido ou conseguido, também em minha vida pessoal, assimilar e aplicar, consequentemente, as virtudes da ponderação e da paciência...
A despeito dos dissabores que um temperamento apaixonado e arrebatado me possa ter trazido em meus anos de juventude temperamento esse perfeitamente capaz, mas geralmente apenas na solidão de uma biblioteca, e diante do bloco de notas ou do computador, de deixar-se amansar, consegui não permitir que, ao menos no ambiente de convívio profissional, divergências de qualquer espécie me afastassem da possibilidade de aprender. Com efeito, desfrutei da companhia e dos ensinamentos de alguns dos melhores pesquisadores e professores da minha época de formação.
Orlando Valverde, no belíssimo prefácio da coletânea Capítulos de Geografia Tropical e do Brasil, da autoria de seu mestre Leo Waibel, relembra que, em determinada ocasião, um intrigante tentara atiçar Waibel contra um de seus assistentes (ao que tudo indica, o próprio Orlando), diante do que o geógrafo alemão, incisivamente, assim reagiu: “a mim não interessam as ideias políticas dele, mas sim as suas ideias científicas” (VALVERDE, 1979:15). Quando li esse prefácio, eu ainda nem sequer havia entrado para o curso de graduação. (1) Mesmo assim, nessa época, eu era um adolescente que já cultivava, por influência paterna (mais indireta até que direta, devido a temores compreensíveis durante o Regime Militar), o contato com a literatura política de esquerda, de modo que, por um lado, qualquer separação rígida entre as “ideias científicas” e as “ideias políticas” me soaria artificial. Por outro lado, e apesar disso, a frase de Waibel (verdadeira admoestação), citada naquele contexto por alguém como Orlando Valverde, geógrafo que não se furtou, especialmente a partir de uma determinada época de sua vida, a engajar-se publicamente por diversas causas, fez muito sentido para mim. Mais que isso: me marcou profundamente. No mesmo prefácio, aliás, podem ser encontradas duas outras frases, estas da lavra do próprio Orlando, que nos ensinam: “[a] personalidade do sábio é indivisível. O homem de ciência não pode ser dissociado do homem de caráter.” (VALVERDE, 1979:13). Para mim, duas coisas ficaram indelevelmente impregnadas em meu espírito, acredito que a partir do momento em que li essas linhas: o imperativo da tolerância, buscando aprender com aqueles que, mesmo professando, às vezes, valores outros, diferentes dos meus, teriam algo ou mesmo muito a me ensinar; o imperativo do respeito pela coerência de uma trajetória, muito especialmente quando embebida em um espírito humanista. Às vezes, quando me flagro agindo ou inclinado a agir de um modo que se situa ou ameaça situar-se aquém desse padrão de comportamento, as palavras de Orlando no prefácio do livro de Waibel vêm à minha cabeça e me lembram daquilo que jamais deveria esquecer, apesar das tentações que se nos oferecem em um mundo acadêmico tão deformado pelo burocratismo e, cada vez mais, pela mercantilização do conhecimento. Manter Orlando próximo a mim, mesmo depois de o destino o roubar de nós em 2006, continua a ser uma das circunstâncias que me permitem confessar, não sem uma pontinha de orgulho: me arrependo de umas tantas coisas, desde o início de minha vida acadêmica e até agora; mas, felizmente, não me envergonho de nada. Tentar não desapontar um mestre tão querido e essencial, mesmo após ele se ter convertido em memória, permanece sendo um incentivo e um norte.
Além do próprio Orlando Valverde, tive a fortuna de desfrutar, como assistente, orientando e/ou aluno, da presença e das palavras, e destacadamente dos conselhos e das críticas, de alguns dos profissionais mais admiráveis que um geógrafo brasileiro poderia ter tido a honra de conhecer pessoalmente. Por dever de justiça, três precisam ser lembrados com o devido relevo: Roberto Lobato Corrêa, Mauricio de Almeida Abreu e Lia Osório Machado. Muito embora em 1983, durante o meu segundo ano na graduação, eu já tivesse “me bandeado para a Geografia Urbana”, como carinhosamente (e de maneira um pouquinho doída) me dizia, de tempos em tempos, Orlando, a influência intelectual e moral de Roberto Lobato e Mauricio Abreu sobre mim, que se concretizou a partir da segunda metade da década de 80, é algo que jamais poderia ser enfatizado o suficiente. Maurício Abreu, após fazer acerbas e, conforme reconheci quase de pronto, justíssimas críticas ao meu estilo de escrever, às vezes um tanto hermético, possivelmente ficou surpreso quando, por isso mesmo, eu lhe perguntei, poucos dias depois da defesa da minha monografia de bacharelado, se ele aceitaria ser o meu orientador de mestrado. Lembro-me, até hoje, da conversa que tivemos, e como ele, após aceitar de imediato o meu pedido, fez-me alguns elogios e deu-me alguns conselhos que nunca esquecerei. As duras e certeiras palavras de Maurício Abreu dono de uma prosa límpida, elegante, praticamente sem igual na Geografia brasileira dos dias de hoje forçaram o amadurecimento de meu estilo. Catalisaram, por assim dizer, a sua lapidação, o seu burilamento. Isso sem contar a importância que, para muito além disso, a consistência da obra de meu ex-orientador de mestrado sempre teve para mim, como fonte de inspiração em matéria não só de ideias, mas também de exemplo emblemático de dignidade acadêmica.
Mas, não menos relevante foi a influência da obra e da personalidade de Roberto Lobato Corrêa. A integridade intelectual de Roberto Lobato; a sua capacidade de expor sistematicamente as ideias; o apreço simultâneo pelo labor teórico e pelo trabalho empírico; a sua disciplina de trabalho, a começar pela exposição em sala de aula: tudo isso, posso dizer sem exagero, sempre me causou enorme e duradoura impressão. De Roberto Lobato não fui orientando, com o fui de Maurício Abreu, mas sim “somente” aluno (durante o curso de mestrado); tive, por outro lado, a felicidade de dividir a mesma sala com ele durante toda a segunda metade da década de 90, e graças a isso pude, intensivamente, no quotidiano, direta (por meio de conselhos e sábias dicas) ou indiretamente (pela observação de seus hábitos de trabalho), aprender muitas coisas.
Por fim, Lia Osório Machado. Fui bolsista de iniciação científica, sob a sua supervisão (mas vinculado a um projeto de pesquisa coordenado por Bertha Becker), em 1982. Para um rapazola de 18 anos de idade, com ideias às vezes extravagantes na cabeça e sonhos de se tornar um pesquisador respeitado, o encontro com Lia Machado foi um turning point. É muito difícil, na realidade, falar de Lia Machado, ainda hoje, com mais razão que emoção, tamanha a admiração que sempre nutri por ela. Tornamo-nos amigos praticamente de imediato, ou por outra: cientificamente, ela “me adotou”, coisa que muito me envaidecia. Talvez tenha envaidecido até demais, e por conta disso houve uma fase de distanciamento, felizmente superada, no início dos anos 1990, por uma nova fase de amizade já então em um patamar muito superior, graças ao amadurecimento do antigo pupilo. Lia Machado “fez a minha cabeça”, talvez antes de mais nada por suas ímpares coragem e sinceridade intelectuais, qualidades que costumam ser atemorizantes e intimidadoras em alguém tão incrivelmente perspicaz e brilhante como ela. Contudo, como aprendi muito cedo a conhecer e apreciar o lado que alguns teimam em não enxergar direito a busca por ajudar e ser construtiva e o entusiasmo e mesmo o carinho ao tentar ajudar a encaminhar a carreira de um jovem pesquisador ou uma jovem pesquisadora, nunca me senti intimidado, mas sim, sempre, gratificado. Gratificado e honrado.
Se digo tudo isso, se presto tais tributos e reconheço as minhas dívidas (e, obviamente, outras tantas poderiam ser mencionadas.) (2), é por um incontornável dever de justiça. Duplamente, aliás. Não somente naquele sentido mais trivial, aquele que se refere ao dever de agradecer a quem devemos algo. Não é só de gratidão que se trata aqui, mas também de realismo e, quase me arriscaria a dizer, de cautela. O leitor há de perceber que me empenhei para construir uma trajetória que fosse, acima de tudo ou pelo menos, coerente. Independentemente de o quanto acertei ao longo dela, acredito que, em si mesmo, esse objetivo de não perder a coerência, orientado pela intransigência de princípios e pela firmeza de propósitos, foi e tem sido, no geral, alcançado. Em decorrência disso, a satisfação que deriva de uma certa sensação de vir cumprindo com aquilo que vejo como a minha obrigação pode, aqui e acolá, ser confundido com o cabotinismo de quem exagera ou se delicia em demasia com o próprio papel. Nada me amofinaria mais que isso, pois uma tal interpretação da minha trajetória e do meu papel não passa pela minha cabeça. Por convicção até (político-)filosófica, bem sei que o indivíduo, tomado isoladamente, tem pouco ou nenhum significado real. Cada um de nós só existe, com tais e quais virtudes, e com tais e quais misérias, em um ambiente social determinado, que nos define e nos imprime as marcas de uma socialização condicionante. À luz disso, forçoso é, a começar por mim mesmo, ao lançar um olhar retrospectivo sobre como construí e o que fiz de minha vida profissional, constatar que, para cada obstáculo, para cada vicissitude, sempre ou quase sempre apareceu, em minha vida, um fator atenuante ou neutralizador: da minha mãe, que tudo fez e tudo suportou para me propiciar um lar, até os meus principais mestres e mentores na universidade, contei com apoios fundamentais. Por isso, deixando de lado todos os outros fatores e todas as outras escalas, de uma coisa tenho certeza: eu não poderia, agora, ao olhar para trás, ter a mesma sensação de ter trilhado um caminho profissional de que me orgulho, se não tivesse tido o privilégio de conviver com Orlando Valverde, Mauricio de Almeida Abreu, Roberto Lobato Corrêa e Lia Osório Machado. Quaisquer que sejam as minhas qualidades na suposição de que de fato existam e não sejam mero autoengano elas se apequenam ou, pelo menos, se relativizam ao serem considerados os ombros dos gigantes sobre os quais eu me apoiei e continuo a me apoiar.
INTRODUÇÃO: CIÊNCIAS E FILOSOFIA, TEORIA E EMPIRIA
O presente balanço cobre um período de quase três décadas. Não começo pelo ano de 1986 pela mera formalidade de ser ele o meu primeiro ano depois de concluído o curso de graduação, mas sim por ser o ano em que iniciei a minha pesquisa de dissertação de mestrado a qual foi a minha primeira empreitada científica de fôlego, tendo deitado raízes cujas pontas até hoje podem ser vistas em meu trabalho.
Antes de passar em revista e avaliar criticamente o que fiz ao longo de quase três décadas, cumpre explicitar alguns pressupostos interpretativos subjacentes ao presente memorial. Na realidade, essas premissas me guiaram desde a juventude, e colaboraram para a formação de minha estratégia de trabalho e carreira.
As ciências se distinguem da Filosofia porque, enquanto as primeiras são escravas de um esforço de exame sistemático da realidade empírica (ainda que, nem seria preciso dizer, sempre com um lastro teórico e a preocupação de retroalimentar a teoria!), a segunda está em seu elemento natural ao especular, mais ou menos livremente, sobre as “razões últimas” de ações e decisões “razões últimas” de natureza ética ou política, por exemplo, e que usualmente não se prestam ao jogo de “demonstrações” e exibição de “evidências” que a ciência tem como apanágio. É claro que a interrogação filosófica não pode, simplesmente, ignorar a empiria, o mundo da experiência sensível, tendo, inclusive, muito frequentemente, de levar em conta os resultados da ciência. Sua tarefa, porém, é, por assim dizer, mais abstrata que a da ciência: trata-se de propor as questões que deveriam orientar os próprios cientistas enquanto homens e mulheres de pensamento, nos planos ontológico, epistemológico, ético e político. As ciências nos auxiliam, de diferentes maneiras, a explicar e compreender como as coisas “são” e como “vieram a ser o que são” (ainda que, como sabemos, trate-se de um “ser” que é largamente “construído”, interpretado); nos ajudam, ademais, nas tarefas de desafiar e mudar o que “é”, tornando-o em algo diferente. A Filosofia, de sua parte, propõe as perguntas a propósito do sentido profundo das coisas, e, nesse sentido e dessa forma, também é, por excelência e quase que por definição, desafiadora.
No que concerne especificamente à produção teórica por parte dos cientistas sociais, entre os quais grande parcela dos geógrafos almeja se ver incluída a despeito da inconfundível singularidade da Geografia (3) pode-se dizer que há três níveis de elaboração: 1) O nível das “macroteorias”. São elas grandes construções, referentes a fenômenos macrossociais, grandes escalas geográficas (global ou, de todo modo, internacional) e longa duração. São vastos edifícios interpretativos da dinâmica social ou sócio-espacial, possuindo, ao mesmo tempo, fortíssimas e diretas implicações metodológicas, do materialismo histórico marxista à “teoria da estruturação” giddensiana. Em parte com muita razão, mas em grande parte com exagero e niilismo, “macroteorias” (em particular aquelas denominadas “grandes relatos emancipatórios”, como o materialismo histórico e a psicanálise) foram postas sob suspeição no auge da “onda pós-moderna” nas ciências sociais e na Filosofia, em nome de um “minimalismo teórico” vulnerável ao empirismo e pouco afeito a dar atenção aos condicionamentos estruturais de alcance mais geral ou mesmo global. Na realidade, as “macroteorias” são, geralmente, criaturas intelectuais nitidamente “híbridas”, verdadeiras construções-ponte entre o plano teórico científico e o plano metateórico, situado este último na esfera da Filosofia. É comum que uma “macroteoria” seja, ao mesmo tempo, uma espécie de bússola para a pesquisa, um resultado do acúmulo de discussões teóricas, uma visão de mundo e uma elaboração filosófica (nos terrenos político-filosófico, ético, ontológico ou epistemológico, e não raro em todos eles). Não é à toa que “macroteorias” representam, por excelência, o casamento das ciências com a Filosofia.
2) O nível das “teorias de alcance médio”, ou “mesoteorias”. São teorias menos ambiciosas, que procuram dar conta de fenômenos mais circunscritos no tempo e no espaço como, por exemplo, a Teoria das Localidades Centrais, de Walter Christaller, ou a orientação teórica referente às transformações no “modo de regulação” e no “regime de acumulação” no transcurso da transição do “fordismo” para o “pós-fordismo”, desenvolvida pelos economistas críticos vinculados à chamada “Teoria da Regulação”. (4)
3) O nível das teorias bastante específicas, ou “microteorias”. São teorias que, sem jamais esquecer do geral como contexto de referência, buscam dar conta pormenorizadamente de fenômenos particulares. Elas procuram dar conta de processos específicos observáveis no interior de um tipo bem delimitado de formação sócio-espacial, como por exemplo as peculiaridades da “(hiper)precarização do mundo do trabalho” nos países capitalistas semiperiféricos contemporâneos.
Os três níveis deveriam dialogar com a Filosofia, embora isso seja mais evidente, como eu postulei acima, naquele das “macroteorias” ou macroexplicações sobre a sociedade e o espaço. É comum que os dois outros níveis incorporem e reverberem questões metateóricas, tendo uma “macroteoria” como plano de mediação.
Os três níveis também precisam, decerto, alimentar-se empiricamente, embora isso seja tão mais nítido quanto menor for o grau de generalidade explicativa e interpretativa. “Macroteorias”, em geral, se valem da empiria já digerida no âmbito de “teorias de alcance médio” e “microteorias”.(5)
Em meu trabalho como pesquisador, tenho buscado, dentro de minhas limitações, oferecer algumas contribuições, por acanhadas que sejam, concernentes aos três níveis supramencionados. No entanto, é uma questão de sabedoria e prudência reconhecer que, quanto mais abstrato e abrangente é o esforço teórico, mais experiência se exige do pesquisador (para dizer o mínimo), de sorte que, no que diz respeito ao nível das “macroteorias”, minha intenção tem sido, no fundo, não mais que a de “desdobrar” e complementar um determinado arcabouço metateórico já existente (a abordagem filosófica da “autonomia”, conforme explicarei bem mais à frente). Tal “desdobramento” e tal complementação se traduzem em uma colaboração para tornar o dito arcabouço mais “operacional”, de acordo com as necessidades da pesquisa científica, e com base em uma decidida valorização da espacialidade, dele ausente em sua formulação inicial. O tipo de contribuição que tenciono e penso ter condições de oferecer, por conseguinte, não corresponde esclareça-se, para evitar mal-entendidos, a qualquer pretensão de pioneirismo no plano das macroexplicações sociais; na verdade, qualquer eventual traço de originalidade, se isso se puder conceder, será uma decorrência da tentativa de entrecruzar esforços preexistentes com um esforço analítico de longo prazo, fundamentado em investigações empíricas que, ao mesmo tempo em que nutrem minha reflexão teórica, servem de “campo de provas” para conceitos e formas de interpretação. Tenho, não posso e nem quero negar, uma paixão pela Filosofia que vem da adolescência. Se isso não me autoriza a ver-me como um “filósofo” e muito menos, evidentemente, a reivindicar qualquer contribuição original nesse terreno! , ao menos tem garantido que, no meu caso, investigação científica e interrogação filosófica caminhem sempre de mãos dadas, união cuja importância foi muito persuasivamente ressaltada por Cornelius Castoriadis (CASTORIADIS, 1978).
Meus caminhos me têm levado a transgredir, decidida e convictamente, vários tipos de fronteiras, em alguns casos para questioná-las frontalmente (as fronteiras entre as diversas ciências sociais, que reputo como extremamente artificiais), em outros para tentar relativizá-las e torná-las mais porosas (a fronteira entre o labor científico e a interrogação filosófica e a fronteira entre o conhecimento científico e o “local knowledge” dos atores sociais imersos em seus “mundos da vida” [Lebenswelten]). No que se refere à dicotomia Geografia Física/Geografia Humana, nem sei se a palavra a ser usada seria “fronteira”; a mim me parece que se está diante, há tempos, isso sim, de um deplorável abismo, em face do qual tenho me empenhado pela (re)construção de pontes algo que a uns tantos soa como um exercício quixotescamente inútil. Advogar essas transgressões constitui, ao mesmo tempo, uma das principais trincheiras que, desde cedo, mediante a minha própria prática e o meu estilo de trabalho, tentei ajudar a cavar.
O PAPEL E A DIMENSÃO ESPACIAL DOS ATIVISMOS URBANOS:
MEUS PRIMEIROS PASSOS
Realizei, na segunda metade dos anos 80, estudos empíricos e reflexões teóricas sobre ativismos urbanos, ao mesmo tempo em que aprofundava o meu contato com as contribuições de numerosos geógrafos e correntes do pensamento geográfico (Élisée Reclus, Paul Vidal de La Blache, Jean Brunhes, Leo Waibel, Carl Sauer, Richard Hartshorne, Max. Sorre e outros geógrafos “clássicos”; alguns escritos representativos da Geografia quantitativa; David Harvey, Edward Soja, Milton Santos e outros representantes da radical geography; Yi-Fu Tuan e Edward Relph como principais expoentes da humanistic geography; e assim sucessivamente), consolidava e ampliava a minha cultura filosófica e ampliava o universo de minhas leituras sobre a teoria das ciências sociais em geral. No tocante à Filosofia, se minhas leituras de antes dessa época já haviam incluído Platão e Aristóteles, Maquiavel, Thomas Morus, Campanella, Descartes, Kant, Bacon, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx e boa parte dos clássicos do marxismo, Nietzsche e Schopenhauer, além de bastante coisa especificamente sobre Filosofia da Ciência (por exemplo, diversos livros do epistemólogo brasileiro Hilton Japiassu, que foi meu professor na graduação), na segunda metade da década de 80 estenderam-se, sobretudo, na direção de uma complementação das minhas leituras sobre o marxismo (Lukács, Althusser, Escola de Frankfurt, K. Korsch, João Bernardo e outros), de um contato sistemático com os principais autores anarquistas do século XIX e seus escritos filosóficos e políticos (Proudhon, Bakunin, Kropotkin e Reclus, entre outros), de um envolvimento com as obras de Hannah Arendt, Michel Foucault e Félix Guattari e, finalmente, de um estudo sistemático da obra de Cornelius Castoriadis (autor que, mais que qualquer outro, viria a me influenciar duradouramente, e com cujas ideias eu começara a me envolver em meados de 1984). No que concerne à teoria das ciências sociais, dediquei-me, no período em questão, a estudar sistematicamente Sociologia (o que me levou, inclusive, a realizar um curso de especialização em Sociologia Urbana entre 1986 e 1987) e, secundariamente, a complementar as minhas leituras no terreno da Economia, já iniciadas durante a graduação.
Para além de algumas propostas terminológicas e conceituais que depois, nos anos 90 e mais tarde, eu procurei refinar (como a diferença conceitual entre ativismo social e movimento social), o principal produto desse período foi a reflexão em torno da reificação do urbano, pedra angular de minha interpretação da força e da fraqueza dos ativismos urbanos contemporâneos (vide a minha dissertação de mestrado, intitulada O que pode o ativismo de bairro? Reflexões sobre as limitações e potencialidades do ativismo de bairro à luz de um pensamento autonomista). Em que consiste essa reificação?
Como explorei melhor posteriormente (vide A6) (6), a reificação do urbano constitui, a meu ver, a chave para a compreensão da dificuldade primária de tantos e tantos ativismos urbanos das últimas décadas. Essa dificuldade assume algumas vezes (não muitas), perante os próprios ativistas, as características de um enigma a ser decifrado: o que ocasiona e porque é tão difícil vencer a persistente separação de frentes de combate como infraestrutura urbana e habitação, trabalho e renda, ecologia, gênero, etnia e outras mais? O ensimesmamento dessas frentes de combate não é apenas um fator de enfraquecimento “estático”, pela rarefação das chances de fecundação recíproca. No fundo, trata-se de ter de lidar com o problema do constante (res)surgimento de contradições: o militante ambientalista que, diante de uma favela, revela pouca sensibilidade social e reprocha aos posseiros urbanos por desmatarem uma encosta, culpabilizando-os simplisticamente; a intelectual feminista de classe média que oprime sua empregada fenotipicamente afrodescendente e favelada; o rapper de periferia que denuncia o racismo e a violência policial, mas que reproduz o machismo e a homofobia em suas letras e em seu comportamento; o trabalhador “de esquerda” que espanca a mulher e abusa da filha.
Ao que parece, tudo conspira para que o espaço geográfico socialmente produzido seja, pelos atores, captado apenas em sua imediatez material, como um “dado”, como “coisa”. Em vez de ser apreendido holisticamente pelos sujeitos históricos, em vez de ser percebido na integralidade e na riquíssima dinâmica da sua produção, o espaço é apreendido parcelarizadamente. Atores diferentes, desempenhando papéis distintos, gravitam em torno de identidades propensas à compartimentação: da esfera do consumo e da reprodução da força de trabalho extraem-se o “consumidor” e o morador; da esfera da produção retira-se o trabalhador assalariado; na arena político-ideológico da proteção ambiental, tem-se o ambientalista; a problemática de gênero suscita as feministas; a seara da etnia compete ao militante afrodescendente ou indígena, e a seus equivalentes em outros países. Ora, uma tal apreensão parcelarizada do espaço e da problemática engendrada pela instituição total da sociedade antes embaraça que propicia o diálogo, o entrosamento e a sinergia de numerosos esforços específicos. A reificação do urbano converte a maneira de apropriação cognitiva do espaço em uma formidável barreira para a tomada de consciência e para a práxis emancipatória.
Ao caducar a centralidade de uma identidade “proletária”, substituída, no transcorrer do século XX e em decorrência da derrota histórica do movimento operário e das transformações paralelas e subsequentes do capitalismo, por identidades e protagonismos múltiplos, seriíssimas implicações tiveram lugar. Percebido fenomenicamente antes como um produto, sem que a essência de seu multifacetado processo de produção seja apreendida, o espaço urbano é “coisificado”, e a própria totalidade concreta do social (relações sociais e espaço) é reificada. Grupos distintos estabelecem com o espaço laços não apenas distintos, mas amplamente desconectados entre si no plano político, dando ensejo à aparição de conflitos entre atores que, “objetivamente”, teriam interesse em ajudar-se mutuamente e unir forças.
Os esforços de compreensão contidos em minha dissertação de mestrado foram, por assim dizer, o início de minha busca de contribuição para uma “teoria de alcance médio”, ou para aquilo que os alemães chamam de Theorieansatz (vide nota 4 e, adicionalmente, também a nota 5), referente ao papel e à dimensão espacial dos ativismos sociais urbanos no mundo contemporâneo. Foi, portanto, já nos anos 80, graças à minha dissertação de mestrado, que despertou-se em mim o interesse pela “geograficidade” (para usar uma expressão que, de maneiras diferentes, fora já empregada pelos geógrafos Éric DARDEL [1990] e Yves LACOSTE [1988]) dos ativismos sociais, assunto que eu iria continuar explorando pelas décadas seguintes, e até hoje (vide, por exemplo, B14, B16, C18 e C23). Na sua essência, perceber e valorizar essa dimensão espacial (ou “geograficidade”) se refere à capacidade de discernir e investigar diversas coisas, notadamente: as relações entre os espaços enquanto espaços vividos e percebidos, dotados de carga simbólica (“lugares”), e as identidades das “pessoas comuns” (isto é, não-ativistas de qualquer organização), muitas vezes “identidades espaciais” em sentido forte; a identidade dos ativistas e ativismos enquanto tais (muitas vezes um ativismo tem sua identidade, e portanto o perfil de sua agenda, condicionada por uma referência forte e direta ao espaço); a maneira como o espaço é decodificado e instrumentalizado de modo a servir de referencial organizacional (territórios, redes, politics of scale etc.); a maneira como o substrato espacial (ou seja, o espaço em sua materialidade) e seus problemas sintetizam ou referenciam as demandas e a agenda de cada ativismo (carências e deficiências de infra-estrutura técnica e social, “déficit habitacional”, dificuldades de acesso a equipamentos de consumo coletivo, degradação ambiental, conflitos de uso do solo, especulação imobiliária etc.). Infelizmente, a maior parte dos não-geógrafos de formação (sociólogos e cientistas políticos) envolvidos com a temática dos ativismos sociais sempre deu pouca ou nula importância ao espaço geográfico. Se considerarmos três “níveis de acuidade analítica” no tocante ao papel do espaço nível 1: o espaço é reduzido a um mero quadro de referência; nível 2: dá-se atenção à “lógica” locacional e à organização espacial em sua vinculação com as relações sociais (ou seja, às causas e ao sentido de determinados processos/práticas terem lugar em determinados espaços e não em outros); nível 3: examinam-se os condicionamentos e as influências do espaço sobre as práticas sociais , pode-se dizer, tranquilamente, que os estudos assinados por esses não-geógrafos geralmente transitaram, via de regra, pelo nível 1, às vezes tocando o nível 2, como ressaltei em B14. O nível 3 tem permanecido quase que inexplorado, e é aí que entra ou pode entrar a contribuição específica de uma perspectiva que assume um compromisso claro de valorização da dimensão espacial da sociedade, que é o papel que se espera dos geógrafos de formação. (7)
ESTICANDO UM POUCO MAIS O PESCOÇO:
REFLEXÕES SOBRE A DIMENSÃO ESPACIAL DA SOCIEDADE
Na mesma época, na segunda metade dos anos 80, dei um passo que, como avalio hoje, foi temerário. Sempre entusiasmado pela reflexão teórica e sem medo do pensamento abstrato (palavra que praticamente nunca tomei em seu sentido pejorativo), achei que, para o bem da minha própria formação, deveria empreender leituras e estudos sistemáticos sobre o papel do espaço social (em geral), isto é, sobre a relevância, para as relações sociais, do espaço geográfico socialmente incorporado e produzido. Meu esforço nessa direção deixou-se fertilizar, a exemplo daquela teorização “de alcance médio” acima referida, pelo pensamento “autonomista”, especialmente pela obra filosófica de Cornelius Castoriadis (ver CASTORIADIS, 1975, 1983, 1985, 1986, 1990 e 1996, entre outros trabalhos) obra essa que constitui, na minha interpretação, uma complexa, sofisticada e erudita (e, não raro, incômoda) atualização do pensamento libertário. O resultado disso foi a minha primeira incursão no plano das “macroteorizações”, tendo como produto o ensaio “Espaciologia”: Uma objeção (C1), publicado na revista Terra Livre.
Grosso modo, eu insistia, nesse ensaio, indiretamente inspirado em autores como Cornelius Castoriadis e Maurice Merleau-Ponty, e mais diretamente por Henri Lefebvre, que o espaço social é, entendido como o espaço geográfico produzido pelas relações sociais, é, sem dúvida, expressão dessas relações, mas sendo também, em contrapartida, as próprias relações sociais (e, nesses marcos, o processo de socialização dos indivíduos) condicionadas pela espacialidade mesma. Na verdade, como é sabido, algo semelhante já vinha sendo sugerido, em um nível às vezes bastante sofisticado, por vários outros geógrafos, decerto que infinitamente mais importantes que um jovem mestrando, tais como Edward Soja (assumidamente inspirado por Lefebvre) e Milton Santos (em cuja obra Lefebvre aparece, ao olhar do leitor atento, e no que tange ao plano teórico mais geral, como uma referência mais que essencial). De minha parte, eu insisti em sublinhar que as relações sociais nunca operam fora do espaço e sem se referenciar pelo espaço (mesmo quando não o transformam materialmente), de modo que, mesmo sendo possível falar de práticas espaciais (no sentido de práticas diretamente espaciais ou espacializadas, em que o espaço possui forte e direta relevância simbólico-identitária e/ou como referencial direto de organização política e/ou como conjunto de recursos elencados em uma agenda de demandas), os processos sociais jamais são “anespaciais”, tanto quanto não são anistóricos. Da mesma maneira, ao condicionar as relações sociais, alguns condicionamentos, mesmo que mediados pelas próprias relações sociais, vistas historicamente (ou seja, não se trata de nenhum “fetichismo espacial”), podem ser muito mais fortes, diretos e evidentes que outros, o que não elimina o fato de que a influência do espaço é, no mínimo em seu nível mais elementar, onipresente. Nesse ponto, eu me afastava, por exemplo, de David Harvey, que havia colaborado para restringir demasiadamente o alcance das influências da espacialidade sobre as relações sociais. Contudo, eu me afastava, também, de autores como Edward Soja e Milton Santos, os quais, no meu entendimento, ao buscarem prestigiar o espaço e a Geografia nos marcos de um certo marxismo estruturalista (mais explícito no caso de Soja que no de Santos), por meio da defesa de uma “instância” (ou “estrutura”) própria e de “leis próprias” para o espaço, ao lado das “instâncias” econômica, política e ideológica, ou ainda por meio de um paralelismo (que Soja buscou dialetizar) entre uma “esfera social” e uma “esfera espacial”, acabavam concorrendo para justificar, se não um “fetichismo espacial”, ao menos uma separação demasiado cartesiana entre espaço e relações sociais no meu entendimento, um traço positivista que “dialetização” alguma poderia corrigir plenamente. Muito embora Lefebvre tivesse sido alvo de fortes reservas por parte de David Harvey (já em Social Justice and the City, de 1973), o qual sempre viu o filósofo francês como alguém que teria exagerado desmesuradamente a importância da espacialidade, eu me arrisquei a dizer, em “Espaciologia”: Uma objeção, que o tipo de formalização de sabor estruturalista presente em Soja e Santos em fins dos anos 70 e nos anos 80 (vide SANTOS, 1978 e SOJA, 1980) não estava, na realidade, presente em Lefebvre (consulte-se, sobretudo, LEFEBVRE, 1981 [1974]), constituindo, na verdade, uma certa deformação. Dessa forma, em “Espaciologia”: Uma objeção eu levantava ressalvas, simultaneamente, a propósito de Harvey, por haver restringido excessivamente o alcance do poder de condicionamento da espacialidade, e a propósito de Soja e Santos, por terem, no meu entendimento, tornado insuportavelmente rígido o insight de Lefebvre acerca do papel do espaço.
Hoje, tendo chegado aos 47 anos, ao lançar um olhar retrospectivo sobre as intenções e ambições daquele jovem mestrando, chego a achar que minha ousadia, por si só, beirou a insolência. No entanto, a despeito de arrojado e um tanto presunçoso em suas críticas, o tom do mencionado texto não feriu a etiqueta acadêmica. Acima de tudo, creio que as ressalvas e os reparos que ali fiz foram, bem ou mal, fundamentados; nenhuma ideia é ali gratuita, e tampouco foi vazada em uma prosa descortês. (8) Seja lá como for, o fato é que ter escrito aquele texto constituiu um episódio marcante na minha trajetória, pois me treinei, de maneira mais sistemática, para meditar sobre questões de natureza teórico-conceitual, sempre cultivando uma saudável contextualização filosófica. O curioso (ou, pelo menos, é assim que vejo, atualmente), é que, apesar da ousadia do empreendimento, as ideias que esposo no artigo e os insights básicos ali contidos, ainda sustento-os todos: o espaço social é afirmado, ali, como uma dimensão da sociedade (e não como uma “estrutura”, um “[sub]sistema” ou uma “instância”, à moda estruturalista e funcionalista em voga nos anos 70 e ainda na década de 80); a sociedade concreta é compreendida como uma totalidade indivisível formada pelo espaço e pelas relações sociais que produzem aquele e lhe dão vida, sendo que a influência do espaço sobre os processos sociais se dá o tempo todo, ainda que com intensidades e mediações variáveis (não sendo, por isso, razoável restringir os condicionamentos do espaço a somente um tipo especial de práticas, as “práticas espaciais”, nas quais a espacialidade é, simplesmente, mais imediata, forte e visivelmente presente ou seja, as “práticas espaciais” possuem, sim, uma especificidade, mas não deixam de ser práticas sociais); a compreensão plena dos vínculos entre espaço e relações sociais exige um olhar multidimensional e não-positivista sobre as últimas, de modo a se considerar com a devida riqueza e sem separações formalistas e hierarquizações apriorísticas as dimensões do poder, da economia e da cultura. Hoje em dia, talvez tudo isso ou parte disso já seja aceito sem restrições por muitos geógrafos. Não era bem assim nos anos 80, e, apesar dos riscos que assumi e dos dissabores que a publicação do artigo me trouxe mal-entendidos, reações corporativistas, e por aí vai... não me arrependi, ao fim e ao cabo, de ter esticado o pescoço tanto assim, mesmo sem ter currículo suficiente para fazer certos comentários e levantar certas objeções com uma autoridade reconhecida como tal pelos pares. Só lamento que o artigo quase não tenha sido debatido na época, e talvez tenha sido punido antes por suas qualidades que por seus defeitos, tendo pago o preço de ser assinado por um iniciante em um país em que o debate científico, claudicante, ainda sofre, em certas áreas de conhecimento, sob o peso esmagador da “cultura da oralidade” (sem contar com o coronelismo acadêmico, fator de obscurantismo), o que dificulta, não raro, que até as obras de profissionais já consagrados sejam devidamente lidas, para não dizer apreciadas. Para a minha felicidade, porém, um punhado de leitores qualificados me deu, com o passar dos anos, estímulo e apoio, a começar pelo colega (e grande incentivador) Carlos Walter Porto Gonçalves, que, conforme tomei conhecimento, costuma, ainda hoje, usar o texto com seus alunos de pós-graduação.
Se escrever o texto foi uma coisa muito positiva para mim (publicá-lo, não necessariamente...), o manto de silêncio que cobriu “Espaciologia”: Uma objeção acabou tendo, também ele, um certo efeito benéfico. Aos vinte e poucos anos de idade, eu era um geógrafo com um apetite pantagruelicamente insaciável para a leitura, mas com uma restrita experiência de campo e, mais amplamente falando, de vida, como seria natural e esperável. Do ponto de vista da “extensão” da minha experiência de campo, talvez ela nem fosse tão desprezível assim, pois era, pelo menos, proporcional à minha idade. Tanto a minha monografia de bacharelado envolveu bastante trabalho de campo quanto mesmo a minha dissertação de mestrado, fundamentalmente teórica, não deixou de se alimentar de alguns trabalhos de campo “ancilares” e do meu papel como (aprendiz de) ativista de bairro. (E a isso se somaram os conselhos que recebi de Orlando Valverde acerca de como observar a paisagem para explicá-la, decodificá-la, em vez de lançar sobre ela um olhar “bovino” e resvalar para uma descrição banal.) Mas o ponto crucial é que eu não sabia trabalhar direito em campo; mesmo já formado e em meio ao mestrado, eu não tinha ainda muito traquejo em se tratando de estudo empírico. Não se tratava de desprezo, de jeito nenhum, mas sim de puro e simples despreparo, decorrente da escassez de boas oportunidades. E foi assim que, ao sofrer um certo revés, mais psicológico que real, como “prototeórico”, o rapaz que eu era decidiu que estava mais que na hora de aprender direitinho o que até então não havia aprendido. Seguindo o conselho de Orlando Valverde, optei por doutorar-me na Alemanha, onde poderia conjugar meu interesse pela teoria e pela Filosofia (e qual melhor lugar para beber nas boas fontes filosóficas que a Alemanha?, pensava eu então) com a minha necessidade de iniciar o meu tirocínio como alguém que sabe bem o que fazer também fora das bibliotecas e dos gabinetes de leitura. De certa forma, Gerd Kohlhepp, meu orientador no doutorado, salvou-me da sina de virar um autor “barroco” e hermético, incapaz de compreender e viver os vínculos entre teoria e empiria como uma dialética. Às vezes, confesso, eu titubeei, hesitei e até praguejei, tendo dificuldades, no início de meu doutoramento, de conviver com ensinamentos que, aos meus olhos, não passavam de empirismo. Estando eu certo ou errado, contudo, pelo menos eu soube assimilar tudo o que pude absorver sobre métodos e técnicas de observação e inquérito, amostragem, análise de discurso e coisas que tais. Espremido entre uma “tese” e a sua “antítese”, busquei extrair uma “síntese” que me satisfizesse. Mesmo sem ter sido muito influenciado, em outros terrenos, por meu orientador no doutorado, devo a Gerd Kohlhepp a orientação básica para que eu pudesse adquirir a capacidade de valorizar em profundidade e lidar operacionalmente com o trabalho de campo. (9)
Voltando, agora, ao Espaciologia”: Uma objeção, cabe ainda dizer que as incompletudes e imperfeições do texto (por exemplo, o fato de que eu ainda amarrava excessivamente o conceito de espaço social à sua materialidade) não me impedem, mais de vinte anos depois, de vislumbrar ali um conjunto de intuições e interpretações basicamente corretas (em parte datadas, mas em parte ainda atuais), em que pese a necessidade de correções, ampliações e, claro, aprofundamentos. Procedi, em trabalhos posteriores (textos da revista Território, capítulos do livro A prisão e a ágora [A6], e assim segue), a diversas revisões e retificações de minhas ideias de meados dos anos 80 acerca da natureza e do papel da dimensão espacial da sociedade. Uma retomada de fôlego e sistemática desse tema, sob a forma de um livro inteiramente dedicado ao assunto, é algo que ainda estou devendo a mim mesmo. Devo encarregar-me disso em uma obra que, se tudo correr como esperado, deverá vir à luz ainda nesta década, ou, quem sabe, no começo da próxima. O que importa é que não é sensato ter qualquer pressa. Disse certa vez Verdi ao jovem Carlos Gomes, com carinho mas em suave tom de censura, que o grande operista brasileiro estava “começando por onde a maioria termina” (cito de memória, mas garanto o sentido). Da minha parte, e trocando em miúdos, dada a magnitude da tarefa, é conveniente robustecer determinadas linhas de raciocínio e lapidar mais certas formulações. Terão se passado, então, mais de trinta anos desde a publicação de “Espaciologia”: uma objeção – o que parece ser um momento bastante propício para se analisar, com a experiência da maturidade, o quão bem certos insights de juventude resistiram (ou não) ao implacável teste do tempo. Enquanto o momento de um balanço mais ambicioso não chega, contento-me com investimentos limitados (em certos conceitos derivados, como território, “lugar” e paisagem, e na reavaliação sistemática da produção científica e filosófica publicada por outros, desde os anos 80, sobre a importância e o papel da espacialidade) e com refinamentos e mais refinamentos parciais, como os contidos em trabalhos como A6, A11, B1, B10, B15, B16, C10 e C20, além do livro que, no momento, estou elaborando (O espaço no pensamento e na práxis libertários), e sobre o qual discorrei, muito brevemente, mais para o final deste memorial.
OS ATIVISMOS URBANOS (E SUA “GEOGRAFICIDADE”)
NO MOMENTO DE SUA CRISE
A minha dissertação de mestrado versou sobre o ativismo de bairro em um momento (segunda metade da década de 1980) em que, no Rio de Janeiro e em muitas outras cidades brasileiras, eles já haviam iniciado uma trajetória descendente em matéria de capacidade de mobilização, prestígio sociopolítico e visibilidade pública. Isso eu já havia percebido perfeitamente na época, mas essa “decadência” ou “crise” viria a se tornar verdadeiramente patente mais para os fins da década, quando a minha dissertação estava sendo concluída ou já havia sido defendida. Não obstante, tais problemas jamais me sugeriram a conveniência de deixar de lado o tema; pelo contrário: era e ainda é minha convicção que, justamente nos momentos de “crise”, é essencial nos debruçarmos sobre o objeto, para nos interrogarmos sobre as razões dos insucessos e das dificuldades. Essa convicção não derivava somente de um posicionamento de natureza ética (desprezo por um certo oportunismo ou “vampirismo” que leva a que o interesse por um grupo, espaço ou movimento social se restrinja aos “momentos de glória” e de maior exposição midiática), mas também da consciência de que, cientificamente, é ao analisarmos os fracassos e os gargalos que podemos extrair algumas das lições teóricas e políticas mais importantes.
À luz disso, minha tese de doutorado (Armut, sozialräumliche Segregation und sozialer Konflikt in der Metropolitanregion von Rio de Janeiro. Ein Beitrag zur Analyse der „Stadtfrage” in Brasilien = Pobreza, segregação sócio-espacial e conflito social na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Uma contribuição para o estudo da “questão urbana” no Brasil [A1]) refletiu um interesse em perscrutar, sistematicamente, os fatores da perda de importância e das dificuldades do ativismo de bairro (ativismo favelado aí incluído) no Brasil. Fi-lo, contudo, dentro de um contexto bem abrangente, que foi o de uma preocupação com a análise da “questão urbana” no Brasil o que me fez, aliás, envolver-me com uma reflexão a respeito do próprio conceito de “questão urbana”, envolto em ambiguidades e marcado por contribuições teoricamente datadas, como o marxismo estruturalista em voga no início dos anos 70 (vide, para começar, o célebre livro de Manuel Castells, La question urbaine). Entendida por mim, em um plano bastante geral e abstrato, como o cadinho de tensões decorrente de uma percepção de certos “problemas urbanos objetivos” (déficit habitacional, segregação residencial, pobreza etc.) não de maneira fatalista ou mística, mas sim como expressões de injustiça social, daí derivando diferentes tipos de conflitos sociais, restava compreender como a “questão urbana” se realizava, concretamente, no Brasil do início da década de 90. Foi nesse momento que percebi que entender vários aspectos da dinâmica da produção do espaço urbano em metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo exigia, muito mais que levar em conta o papel dos ativismos sociais como agentes modeladores do espaço, considerar adequadamente o papel da criminalidade e da criminalidade violenta em especial os efeitos sócio-espaciais do tráfico de drogas de varejo. O prosseguimento desse interesse após o retorno ao Brasil, ao lado de uma retomada da reflexão a propósito dos fatores do ocaso do ativismo de bairro, desembocaram no livro O desafio metropolitano: Um estudo sobre a problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiras (A2), publicado em 2000 e agraciado, no ano seguinte, com o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira no Livro, na categoria Ciências Humanas e Educação. Em O desafio metropolitano, bem como em outros trabalhos, discuti detalhadamente as causas dessa crise, análises essas que tentarei sintetizar nos parágrafos seguintes.
Resumindo os argumentos expostos e desenvolvidos por mim em ocasiões anteriores (A2, Cap. 3 da Parte I; A6, Subcapítulo 4.2. da Parte II), há, por trás da crise, alguns fatores que são comuns aos bairros formais e às favelas, e outros que são peculiares às favelas; e há, ademais, alguns fatores que são nitidamente “datados”, ao passo que outros são mais constantes. Comece-se com os fatores da crise do ativismo de bairro da segunda metade da década de 80 que podem ser tidos como mais “datados”. São eles: a crise econômica, a migração de ativistas para partidos políticos de esquerda, a adaptação insuficiente e inadequada à conjuntura pós-regime militar e a decepção com os rumos da conjuntura política nacional após o fim do regime militar.
A crise econômica dos anos 80 obrigou muitos trabalhadores a terem mais de um emprego e a fazerem “bicos” para complementar a renda familiar, reduzindo ainda mais o tempo disponível para dedicar-se a atividades não-remuneradas como uma função na diretoria de uma associação de moradores. (Sobre a crise econômica dos anos 80, deve-se ainda dizer que ela, a partir da década seguinte, se transformou, mas não desapareceu: em vez de altas taxas de inflação como o principal fardo para os trabalhadores, altas taxas de desemprego na esteira da “reestruturação produtiva” e da adesão do país às políticas macroeconômicas de inspiração neoliberal.) Quanto à migração de ativistas para partidos políticos de esquerda, a referência é aos militantes que, após a legalização ou criação de partidos de esquerda, nos anos 80, passaram a dedicar-se mais aos partidos e menos aos ativismos, nos quais, em parte por falta de opção, buscaram abrigo e um espaço de atuação durante os anos da “distensão” e “abertura” do regime de 64.
O fator adaptação insuficiente e inadequada à conjuntura pós-regime militar remete à circunstância de que a multiplicação de canais participativos formais, a partir da segunda metade dos anos 80, exigiu uma capacidade, que muitas organizações de ativistas não conseguiram desenvolver, de combinar criativamente ações de protesto e auto-organização com diálogo institucional com o Estado. Por fim, a decepção com os rumos da conjuntura política nacional após o fim do regime militar teve a ver com a frustração derivada da morte de Tancredo Neves antes mesmo de sua posse na Presidência da República, e com a mediocridade do regime iniciado em 1985 sob José Sarney.
É bem verdade que, se a segunda metade dos anos 80 trouxe o debilitamento do ativismo de bairro, o desemprego e a escassez de moradia, nos anos 90, engendraram, sobretudo nas metrópoles, novos ativismos sociais, às vezes com fôlego de genuínos movimentos, com destaque para o ainda incipiente movimento dos sem-teto.
Entretanto, alguns velhos estorvos estão ainda aí, atravancando o caminho. Fatores que, embora tenham tido um peso na crise da “primeira geração” dos “novos ativismos (urbanos)”, representam um risco permanente e uma advertência também para a “segunda geração” que desponta no século XXI. Apenas para destacar alguns: burocratização das organizações; “caciquismo” e personalismo; autoritarismo das administrações municipais e, muitas vezes, os seus esforços de cooptação; a indiferença e o “comodismo” da base social; o “paroquialismo” e o “corporativismo territorial”, a “politofobia”.
A burocratização das organizações esteve associada, na virada dos anos 80 para os anos 90, ao problema da adaptação inadequada à conjuntura pós-regime militar, com a tentativa de algumas entidades, normalmente federações, de adotarem um “figurino ONG”, abandonando esforços de mobilização de massas em favor de um papel de discussão e co-implementação de políticas públicas estatais. A burocratização se estabelece quando uma organização de ativistas começa a funcionar como uma “repartição pública”, um apêndice do Estado, e, internamente, seus líderes se comportam como “funcionários” personalistas e “caciques”, afastando-se mais e mais da base social e comprometendo a força social do ativismo. Por falar em “caciques”: “caciquismo” e personalismo dizem respeito ao comportamento autoritário e egocêntrico de não poucos líderes de associações de moradores. Isso, aliás, ajuda a evidenciar as contradições de um ativismo que, mesmo tendo agasalhado práticas genuinamente democráticas, não esteve imune à reprodução, especialmente nas associações de base, da heteronomia predominante na sociedade e simbolizada pelo aparelho de Estado. Com autoritarismo das administrações municipais, de outra parte, se faz referência aos estragos provocados pela postura de não poucas administrações de ignorar os ativismos mais “espontâneos” e buscar esvaziá-los, seja reconhecendo legitimidade apenas nos políticos eleitos e em canais “participativos” oficiais, recusando interlocução com os ativismos, seja buscando “aparelhar” e controlar as entidades associativas. A cooptação de líderes e organizações, de sua parte, é uma postura muitas vezes ainda mais nociva que o autoritarismo, pois, se este pode, às vezes, suscitar resistência, a cooptação desmobiliza e desarma, e até mesmo desmoraliza, com consequências nefastas de longo prazo para a auto-organização da sociedade. Indiferença e “comodismo” da base social são outro problema, muitas vezes bastante relacionado com os anteriores: quando os ativistas “orgânicos” permanecem, durante um período de tempo excessivo, circunscritos a uma pequena minoria, que se renova muito pouco ou nada, dois riscos existem: o de uma “fadiga dos ativistas”, que se cansam de “carregar a organização nas costas”, e o de um estímulo adicional a fenômenos como “caciquismo”, burocratização e cooptação.
Quanto ao “paroquialismo” e o “corporativismo territorial”, deve-se dizer, antes de mais nada, que o corporativismo e a mentalidade que o ampara possuem, no Brasil e em outros países do mundo ibérico, uma longa tradição, para além do ambiente sindical. Essa mentalidade incentiva e nutre o “paroquialismo”, ou seja, os horizontes estreitos de exame de um problema e das condições de sua superação (reclamar do “desinteresse” do Estado pela rua, pelo loteamento ou pela favela em que se mora sem enxergar os determinantes mais profundos da tal da “falta de vontade política” e sem perceber a necessidade de articulações de luta em escala que vá além da microlocal), suscitando atitudes de aversão ou desconfiança à participação de indivíduos “estranhos” ao bairro (“bairrismo”) e dificultando parcerias. O espaço, que, como fator de aglutinação, como referência para a mobilização e a organização sociais, não necessariamente atrapalha, acaba, dependendo da predominância de formas ideológicas de se lidar com a territorialidade, sendo um embaraço para que se transcenda a luta de bairro rumo a uma luta a partir do bairro (o tema foi bastante explorado em minha dissertação de mestrado e, em seguida, tangenciado em C2; voltei a ele em A1 e A2, em meio a uma discussão sobre as causas da crise do ativismo de bairro, e, mais tarde, em um contexto bem mais amplo, em A6).
Por fim, a “politofobia”, que anda de mãos dadas com o paroquialismo e o corporativismo territorial, não se confunde com o apartidarismo, muitas vezes mais declarado que respeitado pelas associações de moradores ao longo das últimas décadas. Ela tem a ver, isso sim, com uma profunda “despolitização”, passando-se facilmente de uma desconfiança em relação aos políticos profissionais à rejeição pura e simples de temas tidos como “políticos”.
No que tange à crise dos ativismos urbanos, porém, o seu lado mais dramático não se encontra ou encontrou nos bairros comuns, da “cidade formal”, mas sim nas favelas. Sobre isso, discorrerei mais à frente, pois, muito embora se trate de tema que comecei a focalizar durante a pesquisa de minha tese de doutorado, e que foi sistematicamente focalizado em O desafio metropolitano.
A “MACROTEORIA ABERTA” DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ESPACIAL:
PRIMEIROS ESBOÇOS
Talvez o título desta seção soe pomposo, mas espero poder tranquilizar o leitor. Retomando o esclarecimento que fiz na Introdução, cabe grifar e repisar o seguinte ponto: não me proponho e jamais me propus a “criar” uma nova macroexplicação para a dinâmica social, “produção do espaço” aí incluída. Como pretendo mostrar, já encontrei os alicerces metateóricos (e também vários elementos propriamente teóricos) em larga medida lançados; e, a bem da verdade, nem mesmo com relação ao restante do edifício tenciono fornecer mais do que alguns tijolos. Para ser franco, vejo o meu papel basicamente como o de alguém que, a partir das necessidades de um pesquisador, “traduz” as contribuições (meta)teóricas mais gerais, que mencionarei a seguir, para o ambiente e as circunstâncias da investigação concreta e sistemática. Não obstante, também não abro mão de propor uma certa retificação do próprio material que encontrei, e precisamente graças à minha dupla condição de geógrafo e de brasileiro: é que o enfoque (meta)teórico que me tem servido de base e inspiração, a despeito de sua extraordinária potência, padece, em sua origem, de dois vícios, a negligência para com o espaço e um indisfarçável eurocentrismo. Porém, antes de entrar nesses assuntos, é conveniente situar o leitor em relação a como tudo isso se foi inserir em minha biografia acadêmica.
De um ângulo metateórico (político-filosófico e ético), iniciei o meu processo de afastamento do marxismo com o qual havia travado algum contato antes mesmo de entrar para a universidade já em 1984. Posso dizer que, em 1982, 1983 e boa parte de 1984, eu me considerava um marxista de algum tipo, ainda que heterodoxo: no plano intelectual, me identificava sobretudo com os autores menos dogmáticos do chamado “marxismo ocidental”, como Henri Lefebvre e a Escola de Frankfurt (só vim a descobrir os “renegados” Georg Lukács e Karel Kosik, assim como Edward Thompson e outros tantos, um pouco mais tarde, em meados dos anos 80); no plano prático-político, no entanto, ainda admirava Lenin, e cheguei a ter uma aproximação com o trotskismo e tinha uma boa interlocução com alguns militantes, muito embora não tenha propriamente militado em nenhuma organização. Além disso, “devorei”, durante dois anos e meio ou um pouco mais, boa parte dos clássicos do marxismo, a começar por Marx e Engels. Todavia, uma insatisfação crescente, tanto com aspectos propriamente intelectuais do materialismo histórico, tal como tipicamente entendido (economicismo, teleologismo etc.), quanto com aspectos da prática política do marxismo militante (o stalinismo, esse eu rejeitei de partida, mas também o trotskismo já me parecia, então, problemático), me levaram a ir redefinindo paulatinamente a minha identidade. A leitura sistemática da vida e obra de personagens do anarquismo clássico, iniciada por volta de 1984, não chegou a me empolgar, devido às insuficiências e à falta de densidade teórica da maior parte dos escritos; certos insights, como a denúncia, por Bakunin, do “autoritarismo” marxista, causaram-me, porém, duradoura impressão. Em algum momento de 1984 a ruptura estava completa, mas eu ainda não sabia exatamente o que colocar no lugar. Intuitivamente, eu sabia que, para mim, romper com o marxismo só poderia significar romper com ele “pela esquerda”, e jamais “pela direita”. Onde estava, contudo, a alternativa?... Ficar em uma espécie de “limbo” político-filosófico era uma possibilidade que me atormentava.
Conquanto eu tivesse comprado o livro A instituição imaginária da sociedade ainda em fins de 1983, posso dizer que só travei verdadeiramente contato com a obra filosófica de Cornelius Castoriadis cerca de um ano depois. Não tanto por ter achado o livro “difícil”: não foi bem esse o caso, ao menos não com respeito à primeira parte, em que o autor submete o marxismo a uma crítica implacável, e que li sem dificuldades. Para ser sincero, o que houve foi que hesitei em aceitar, de pronto, a rejeição do marxismo ali contida. Uma rejeição fundamentada, mas inquietante; semelhante, em tom, às denúncias e objeções trazidas pelo anarquismo clássico, mas expressa de modo muito mais profundo, complexo e erudito. O efeito inicial da leitura foi atordoante. Por isso, o livro nem chegou a ser lido por inteiro: após o primeiro contato, ficou ele descansando, por muito tempo, em minha estante, não tendo sido novamente tocado por muitos meses. No segundo semestre de 1984, porém, meu espírito estava preparado para apreciar uma mensagem tão desconcertante. A partir daí, todas as contribuições críticas de outros autores relativamente ao marxismo, ou pareceram-me superficiais (quanto aos ataques conservadores, nem sequer os menciono, embora nunca tenha me recusado a ler seus principais autores, como um Raymond Aron ou um Karl Popper, que reputo como leituras obrigatórias), ou, então, se me afiguravam como parciais ou meramente complementares em comparação com a monumental e original obra de Castoriadis (é o caso de autores que, a despeito disso, admiro muitíssimo e se tornaram muito importantes para mim, como E. Thompson, J. Bernardo, M. Foucault, C. Lefort, F. Guattari e outros mais). O projeto de autonomia, tal como discutido por Castoriadis, foi a chave com a qual passei a abrir ou tentar abrir várias portas, por minha conta e risco.
O “abrir portas” operou-se, contudo, de modo muito gradual. Hoje, olhando retrospectivamente, penso que o meu trabalho, no que nele há de mais característico, pode ser definido, inicialmente, como a incorporação do legado filosófico de Castoriadis, de acordo as minhas próprias necessidades e as minhas particularidades profissionais e histórico-espaciais (um cientista interessado na dimensão espacial da sociedade, nascido no Brasil em 1963). Por outro lado, desde o começo as minhas pretensões não se restringiam a algo tão passivo como uma pura “incorporação” daquele legado − e não somente porque eu sempre considerei contraditório com uma postura autonomista qualquer tipo de “veneração” acrítica ou “idolatria”, cabendo-me, portanto, usar do direito de discordar ou levantar ressalvas relativamente a Castoriadis sempre que achasse necessário. A questão é que, além disso, por mais que a obra filosófica de Castoriadis iluminasse o meu próprio trabalho, os meus interesses imediatos enquanto geógrafo de formação e pesquisador eram, forçosamente, distintos dos dele. Meu “projeto intelectual” (a expressão soa afetada, eu sei, mas com isso quero referir-me simplesmente aos objetivos de longo prazo de meu trabalho), assim, passava pelo desenvolvimento de uma abordagem não-marxista da mudança sócio-espacial (apesar de dialogar intensamente com autores marxistas fundamentais, como H. Lefebvre, M. Castells, D. Harvey e E. Soja, alguns deles bastante admirados por mim até hoje) (10), refletindo de uma maneira alternativa sobre os vínculos entre relações sociais e espaço. Uma tal empreitada, ainda que buscasse inspiração filosófica em Castoriadis, não poderia com ele dialogar diretamente: uma das principais lacunas da obra do autor greco-francês, como pude constatar desde cedo, é justamente a marginalíssima atenção dada por ele à dimensão espacial da sociedade. Essa tarefa se me apresentava sob medida para um geógrafo.
Um diálogo mais maduro com as ideias de Castoriadis, mais exigente e menos restrito a um mero “beber na fonte”, só começou para valer, em todo o caso, na década de 90. No Cap. 3 da Parte I de meu livro A prisão e a ágora: Reflexões sobre a democratização do planejamento e da gestão das cidades (A6) ofereci, pela primeira vez, quase um “inventário” daquilo que, a meu ver, são certas lacunas e deficiências da obra de Castoriadis (sem que isso, no entanto, implicasse ou implique negar a minha enorme dívida e a permanência de minha afinidade essencial com essa obra); refletir sobre essas lacunas e deficiências foi, de toda sorte, algo que foi sendo amadurecido ao longo da década de 90 e do começo da década seguinte. Antes disso, nos anos 80 e até o começo dos 90, eu não estava maduro para nem sequer para começar a enfrentar tais questões.
Data também desse período o início da “internalização teórica” da consciência de que as peculiaridades das circunstâncias histórico-geográficas em que um determinado autor escreve (sua língua, sua cultura, as vicissitudes e as potencialidades sociopolíticas de sua época...) não devem ser escamoteadas ou negadas; precisam, na verdade, ser assumidas e refletidas, caso não se queira que a busca de um significado “universal” para o próprio trabalho no campo das ciências sociais se circunscreva, no fundo, a uma imitação ou reprodução servil de ideias elaboradas em outros lugares e tempos, por autores embebidos em culturas e preocupações às vezes muito diferentes. Mas não foi ainda por essa época, e sim somente no decênio seguinte, que descobri e comecei a dar maior atenção a certos autores latino-americanos que iriam me instigar e inspirar, como o brasileiro Darcy Ribeiro (RIBEIRO, 1987 e 1995) no caso deste, uma “redescoberta”, pois já o havia estudado na década anterior , o argentino (radicado nos EUA) Walter Mignolo (MIGNOLO, 2003) e o uruguaio Raúl Zibechi (ZIBECHI, 1999, 2003, 2007 e 2008), profundamente empenhados em refletir sobre as potencialidades, sobre a complexidade e sobre os problemas cultural-identitários (Ribeiro e Mignolo) e sociopolíticos (Zibechi) das sociedades de nosso continente.
Não por qualquer espécie de “nacionalismo”, e sempre evitando cometer qualquer tipo de provincianismo teórico-conceitual, posso dizer, de todo modo, que, a partir desse instante, a consciência teórico-metodológica das particularidades de minha situação como pesquisador brasileiro e latino-americano, habitante de um país semiperiférico com características culturais específicas e em parte fascinantes, passou a estar muito mais presente em meu trabalho do que havia estado até então. É esse o momento, pode-se dizer, em que, no que tange à minha formação, sempre exposta a tensões entre vivências locais fortes e indeléveis (especialmente a minha infância e adolescência no Rio de Janeiro) e a experiência de “respirar os ares do mundo” (que começara, na minha imaginação, já com os livros, na década de 70, indo se concretizar com o meu doutorado na Alemanha, entre 1989 e 1993, e depois com experiências variadas em diversos países, na qualidade de pesquisador, professor, conferencista e expositor em congressos), a relação entre o “particular” e o “geral” se torna mais “equilibrada”, com um alimentando e fustigando intensamente o outro para provocar, no frigir dos ovos, a reposição constante da interrogação: “qual é, afinal, o meu papel como cientista?...”. Essa questão, devidamente contextualizada biográfica e histórico-culturalmente, está longe de ser trivial. Para mim, na verdade, ela tem sido motivo de angústia. Ao mesmo tempo em que somos socializados academicamente com base em uma exposição intensa a ideias europeias (e estadunidenses), seja no campo propriamente científico, seja no terreno filosófico, as achegas trazidas por intelectuais não-europeus costumam ser, com raras exceções, e pelo menos no que diz respeito à produção teórica, tacitamente subestimadas, secundarizadas. Mesmo em um país como o Brasil, e mesmo no âmbito do pensamento crítico, o mais comum é acabarmos acreditando que, de fato, o nosso papel é o de consumidores de reflexões de fôlego trazidas de fora, as quais possam nos ajudar a entender melhor a nossa própria realidade e a conduzir as nossas investigações empíricas. Os limites e os riscos de um exagero, quanto a isso, poucas vezes são seriamente discutidos, e até parece que problematizar essa situação teria, necessariamente, algo a ver com provincianismo ou desinteresse pelo diálogo com o Outro (Outro que, diga-se de passagem, quase nunca é um Outro mexicano, sul-africano ou peruano...). No longo prazo, introjeta-se uma imagem que, ao mesmo tempo que conserva uma certa divisão internacional do trabalho acadêmico “naturalizada” pela maioria dos pesquisadores europeus e estadunidenses, solapa a autoestima e aprisiona as potencialidades do pesquisador brasileiro (ou colombiano, chileno etc.). Não é acidental que “teoria” e “teórico” estejam, entre nós, quase que em vias de se consolidar como termos pejorativos ou suspeitos: ou são tomados como expressões de distanciamento da realidade ou, então, são vistos como dizendo respeito a coisas muito pretensiosas, além do nosso alcance.
Quanto à tarefa de contribuir um pouco para desenvolver uma abordagem libertária da mudança sócio-espacial, foi também apenas na década de 90 que, perseguindo a trilha entrevista em “Espaciologia”: Uma objeção, comecei a dar corpo a uma abordagem alternativa mais consistente. Essa abordagem, denominei-a “macroteoria aberta” do desenvolvimento sócio-espacial, designando por isso um enfoque basicamente procedural da mudança sócio-espacial, fundado metateoricamente sobre o princípio de autonomia (que constitui, no fundo, quase que o único conteúdo substantivo, histórica e culturalmente falando, desse arcabouço teórico). A rigor, essa “macroteoria aberta” é uma ferramenta para escavar e explorar as possibilidades de pensar os vínculos entre espaço geográfico e relações sociais, dentro de uma perspectiva de mudança para melhor (superação de obstáculos e gargalos), sem recorrer às usuais “muletas” das diversas teorias do desenvolvimento, mormente nos marcos da ideologia capitalista do desenvolvimento econômico: etnocentrismo (eurocentrismo), teleologismo e economicismo. Em vez de buscar definir um conteúdo específico para o “desenvolvimento”, como sói acontecer, a minha intenção tem sido a de propor, discutir e testar princípios e critérios tão abertos (mas também tão coerentes) quanto possível, de maneira que a definição do conteúdo da “mudança para melhor” seja deliberadamente reservado como um direito e uma tarefa dos próprios agentes sociais, e não do analista. Por dizer respeito à complementação de um enfoque metateórico já existente, a abordagem do desenvolvimento sócio-espacial inspirada na Filosofia castoriadiana da autonomia constitui, também ela, uma “macroteoria”, ou, pelo menos, um esboço de “macroteoria”; e, por ser basicamente procedural e não substantiva, pareceu-me merecer o adjetivo “aberta”. Essa opção por um enfoque procedural, sublinhe-se, é, na minha compreensão, a melhor saída para se livrar o debate em torno da mudança social (sócio-espacial) de seu usual ranço etnocêntrico, e, por tabela, igualmente de seus não muito menos usuais vícios do etapismo e do economicismo, que geralmente derivam do olhar eurocêntrico.
Esclareça-se, a esta altura, um pouco melhor: de que trata, afinal, o “desenvolvimento sócio-espacial”?
Vou me permitir resumir algumas considerações que teci em meu livro A prisão e a ágora (A6). Se se tomar o termo “desenvolvimento”, simplesmente, como um cômodo substituto da fórmula transformação social para melhor, propiciadora de melhor qualidade de vida e maior justiça social, sem presumir ser ela incapaz de ser redefinida em termos não-etnocêntricos, não-teleológicos e não-economicistas, abre-se a seguinte perspectiva diante dos nossos olhos: enquanto houver heteronomia, enquanto houver iniquidades, pobreza e injustiça, enquanto houver relações de rapina ambiental em larga escala (em detrimento de interesses difusos, mas particularmente em detrimento de determinados grupos e em benefício imediato de outros), fará sentido falar em implementar uma mudança para melhor na sociedade, rumo a mais autonomia individual (capacidade individual de decidir com conhecimento de causa e lucidamente, de perseguir a própria felicidade livre de opressão) e coletiva (existência de instituições garantidoras de um acesso realmente igualitário aos processos de tomada de decisão sobre os assuntos de interesse coletivo e autoinstituição lúcida da sociedade, em que o fundamento das “leis” não é metafísico, mas sim a vontade consciente dos homens e mulheres).
O projeto de autonomia, tal como descortinado por Cornelius Castoriadis, é, porém, um lastro metateórico, filosófico. Para ser tornado operacional, do ponto de vista da pesquisa e das necessidades de cientistas, e especialmente de geógrafos de formação, a interrogação filosófica que está aí embutida (o que é uma sociedade justa?) precisa ser desdobrada em parâmetros e em indicadores que lastreiem as análises de detalhe e o estudo de situações e processos concretos (de políticas públicas promovidas pelo Estado a dinâmicas de movimentos sociais). (11) O projeto de autonomia consiste em uma “refundação”/reinterpretação radical, por assim dizer, do projeto democrático, buscando inspiração na democracia direta da pólis grega clássica, ainda que sem ignorar-lhe os defeitos (notadamente a ausência de um elemento universalista, evidente diante da escravidão e da não-extensão às mulheres dos direitos de cidadania) e sem clamar, ingenuamente, por uma simples transposição de instituições da Antiguidade para um contexto sócio-espacial contemporâneo. Ao mesmo tempo, no meu entendimento, a discussão sobre a autonomia, no sentido castoriadiano, se inscreve, como eu já disse, na tradição mais ampla do pensamento libertário, atualizando-a.
O pensamento autonomista castoriadiano foi edificado no bojo de uma poderosa reflexão crítica tanto sobre o capitalismo e os limites da “democracia” representativa quanto sobre a pseudoalternativa do “socialismo” burocrático, visto como autoritário e, mesmo, tributário do imaginário capitalista em alguns aspectos essenciais. Ainda que a abordagem autonomista possa ser vista, em parte, como uma espécie de “herdeira moral” do anarquismo clássico (essa é a minha interpretação), em sua dupla oposição ao capitalismo e ao “comunismo autoritário”, seria, no entanto, incorreto tê-la na conta de uma simples variante anarquista: divergindo da tradição do anarquismo, redutora contumaz do poder e da política ao Estado, isto é, ao poder e à política estatais, compreende-se que uma sociedade sem poder algum não passa, conforme Castoriadis lembrou (CASTORIADIS, 1983), de uma “ficção incoerente”.
Faz-se mister esclarecer que não se trata de erigir a autonomia (que nada tem a ver com “autarquia” ou ensimesmamento econômico, político ou cultural, mas sim com as condições efetivas de exercício da liberdade, em diferentes escalas) em uma nova utopia em estilo racionalista. Não se trata de buscar um “paraíso terreno”, e muito menos de imaginar que a ultrapassagem da heteronomia seja um processo historicamente predeterminado ou inevitável. A autonomia, entendida muito simplificadamente como uma democracia autêntica e radical, é, ao mesmo tempo, um princípio ético-político e um critério de julgamento, e é essa segunda característica que lhe confere um sentido operacional: ou seja, os ganhos efetivos de autonomia são o critério que tenho utilizado no exame da utilidade social de situações e processos concretos, em substituição a critérios implícitos ou explícitos de corte liberal (que tendem a superestimar a liberdade individual, sendo muito fracos ou lenientes a propósito das condições de exercício da liberdade coletiva) ou marxista (que, em certa medida, fazem o inverso, além de serem complacentes, em significativa medida, com o poder heterônomo). Na qualidade de princípio e, principalmente, de critério de julgamento, a “geograficização” da autonomia remete, de imediato, a uma questão de escala: aumentos de autonomia em pequena escala (na esteira, por exemplo, de autossegregação), beneficiando grupos que, economicamente, existem às custas do trabalho e da opressão de outros, é, no fundo, uma autonomia que se alimenta de uma flagrante heteronomia em uma escala mais abrangente constituindo, portanto, uma pseudoautonomia, do ângulo da justiça social. Por fim: a autonomia, mesmo sendo, logicamente, uma meta (que é ou pode vir a ser assumida por vários grupos e movimentos e, hipoteticamente, por sociedades inteiras, dependendo de suas características culturais), não corresponde a um “estágio” alcançável de uma hora para outra. A superação da heteronomia é um processo longo, penoso, aberto à contingência e multifacetado (ganhos de autonomia aqui podem ser neutralizados com retrocessos heterônomos acolá) e não há promessa historicista alguma a assegurar a sua concretização. Como sempre, a história é criação e um processo aberto.
E quanto ao “desenvolvimento”? Mesmo sem pressupor ser razoável ou justo impor a “mudança para melhor”, como um valor, às mais diferentes culturas, o fato é que, nas sociedades ocidentais ou fortemente ocidentalizadas, esse valor (assim como a própria autonomia, ao menos como um valor latente) está, indubitavelmente, presente. (12). Hoje, praticamente o mundo todo situado fora das fronteiras do Ocidente (fronteiras essas não inteiramente consensuais), se acha ocidentalizado em alguma medida. A inocência foi perdida, quem sabe até mesmo para os ianomâmis ou pigmeus africanos remanescentes. Porém, a despeito do que induz a pensar a expressão, falar em “(sub)desenvolvimento” não deveria implicar achar que os países ditos “desenvolvidos” são perfeitos ou modelos a serem imitados. Para quase todos os efeitos, a heteronomia verificada em um país central e em um país semiperiférico ou periférico é mais uma questão de grau que de qualidade, por maior e mais chocante que seja a diferença, e o grau de heteronomia interno se correlaciona mal com o poderio econômico e militar. O que mais se assemelha a uma ruptura qualitativa se refere à posição geoeconômica e geopolítica dos países no cenário internacional: a oposição fundamental entre países centrais, de um lado capazes de, historicamente, exportar capital e drenar recursos dos demais países e até protagonizar intervenções militares para defender seus interesses, além de, mais recentemente, externalizar impactos ambientais “exportando entropia” (exportação de lixo químico, biológico ou nuclear, transferência de indústrias altamente poluidoras etc.) países periféricos, de outro. Os países semiperiféricos, a despeito das suas características intermediárias (“potências regionais”, já chamados países “subdesenvolvidos industrializados”), são, a exemplo dos periféricos, e em última análise, entidades subalternas no plano geopolítico e geoeconômico internacional. É bem verdade que, na base de uma mescla de fatores como a pressão de movimentos sociais internos (movimento operário) e, em muitos casos, os benefícios do “imperialismo”, os países centrais criaram condições para mitigar consideravelmente as desigualdades e a heteronomia internas. Contudo, se se entender o desenvolvimento sócio-espacial como um processo de superação de injustiças e conquista de autonomia, processo esse sem fim (término) delimitável, e se, além do mais, e empiricamente, não forem esquecidas as significativas (e, amiúde, crescentes) desigualdades que podem ser atualmente constatadas em muitos países centrais, a começar pelos EUA, então a distinção entre países “subdesenvolvidos” e “desenvolvidos” é, ainda que útil para caracterizar um certo tipo de contraste, muitíssimo pouco rigorosa, e pode acabar prestando um desserviço.
Contemplando-se a questão de um modo alternativo em relação às teorizações dos anos 50, 60 e 70 e, em grande medida, também diferentemente do ambíguo terreno do “desenvolvimento sustentável”, muito mais um slogan ideologicamente manipulável que um referencial teórico sólido, “desenvolvimento” não é conquistar “mais do mesmo” no interior do modelo social capitalista, isto é, mais crescimento e modernização tecnológica, mas sim, acima de tudo, enfrentar a heteronomia e conquistar mais e mais autonomia. E isso não pode ser feito sem a consideração complexa e densa da dimensão espacial, em suas várias facetas: como “natureza primeira” (processos naturais); como “natureza segunda” material, transformada pela sociedade em campo de cultivo, estrada, represa hidrelétrica, cidade...; como território, espaço delimitado por e partir de relações de poder; como “lugar” (place) dotado de significado e carga simbólica, espaço vivido em relação ao qual se desenvolvem identidades sócio-espaciais; e assim segue. Por conseguinte, cumpre reescrever a fórmula anteriormente empregada: o que importa não é, sendo rigoroso, uma “transformação social para melhor, propiciadora de melhor qualidade de vida e maior justiça social”, mas sim uma transformação para melhor das relações sociais e do espaço, propiciadora de melhor qualidade de vida e maior justiça social.
No passado, as teorias e abordagens do “desenvolvimento”, por vício disciplinar de origem (pois não eram oriundas da Geografia), ou negligenciavam o espaço geográfico, ou valorizavam-no muito parcelarmente, mutilando-o. O espaço era, o mais das vezes, reduzido a um espaço econômico ou, então, visto como “recursos naturais” e “meio ambiente”. (13) A reflexão geográfica sobre a mudança sócio-espacial (isto é, sobre o desenvolvimento) tem como apanágio, portanto, não apenas buscar evitar o economicismo, o etnocentrismo e o teleologismo (etapismo, historicismo), mas, obviamente, também o empenho na afirmação da espacialidade como um aspecto essencial do problema. De maneira mais indireta que direta, a Geografia vem dando, desde o século XIX, contribuições fantásticas para essa empreitada, e tenho procurado recuperar e valorizar essas contribuições. Uma delas, aliás, gostaria de ressaltar, por seu pioneirismo e sua afinidade ética e político-filosófica com o meu próprio trabalho: o projeto de Élisée Reclus, e especialmente do Reclus de L’Homme et la Terre (RECLUS, 1905-1908), de investigar a dialética entre uma natureza que condiciona a sociedade e uma sociedade que se apropria da natureza (material e simbolicamente: na verdade, a própria “natureza” é sempre uma ideia culturalmente mediada) e, para o bem e para o mal, a transforma. Esse projeto possui, acredito, um brilho ímpar e duradouro. É certo que a crença no “progresso” e o otimismo em relação ao avanço tecnológico, típicos de um autor do século XIX e nele compreensíveis, precisam, hoje, ser temperados, sem que necessariamente nos convertamos em pessimistas; e é lógico que, conceitual, teórica e metodologicamente, não faz mais sentido reproduzir o caminho trilhado por Reclus (o qual, ele próprio, estava sempre em movimento). Mas a ideia do homem como “a natureza tomando consciência de si mesma” (uma de suas muitas frases lapidares), reconsiderada à luz de uma época em que um modo de produção essencialmente antiecológico parece conduzir a humanidade à beira de uma catástrofe sem precedentes, na esteira de processos cada vez mais entrópicos em escala global, é a “deixa” para que os geógrafos refinem e otimizem a colaboração que podem prestar a um repensamento do mundo e suas perspectivas.
Sem embargo, a Geografia, apesar de privilegiadamente “vocacionada” para afirmar a importância do espaço como algo que não se restringe a um epifenômeno, e isso nos marcos de um tratamento holístico da espacialidade, se acha enredada em dúvidas que, até certo ponto, a minam e, se não a paralisam, pelo menos a tolhem. Compreender o espaço em suas múltiplas facetas, na esteira de uma concepção da apropriação e produção (econômica, simbólica e política) do espaço geográfico que faça justiça à imensa complexidade que reside na diversidade de fatores, relações e ambientes do espaço da “natureza primeira” (não no sentido de um espaço “intocado”, mas sim de processos geoecológicos), nos vínculos entre as facetas do espaço socialmente produzido (enquanto materialidade social, território, “lugar” etc.) e nos condicionamentos recíprocos entre natureza e sociedade, contudo, exige que se medite sobre o “contrato epistemológico” (por analogia à ideia de “contrato social”) que é inerente à Geografia, em suas relações internas. O “contrato epistemológico” que vigorou na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX, indiscutivelmente envelheceu. Submetidas a pressões por especialização e verticalização do conhecimento, e em uma época em que belas descrições de conjunto já não satisfaziam ao paladar científico, “Geografia Física” e “Geografia Humana” terminaram por, gradativamente, ter dificuldades para investir nos costuramentos horizontais. A isso acresce que, desejosa de ser aceita como um Saber Maior, ao lado de disciplinas nitidamente “nomotéticas” como a Economia ou a Sociologia, a Geografia Humana passou a recusar o hibridismo físico-humano de “ciência da Terra” em favor de um status como ciência social. Em tais circunstâncias, dois processos se foram desenrolando. De um lado, a velha “Geografia Física” no estilo de um Emmanuel de Martonne foi sendo, aos poucos, eclipsada por um conjunto de especialidades cada vez mais autônomas (Geomorfologia, Climatologia...); de outro, a “Geografia Humana”, que de Reclus e Ratzel a Orlando Valverde havia tido como uma de suas características a de estar solidamente assentada sobre uma base de informações trazida pela “Geografia Física”, passou a substituir a valorização do conhecimento de processos naturais pela construção e pelo aprimoramento de uma visão da natureza como algo cultural-simbolicamente construído e socialmente apropriado e, com isso, ganhou-se em senso crítico e visão humanística de conjunto, mas perdeu-se alguma coisa em matéria operacional, o que é uma pena. O potencial do discurso geográfico (e da sinergia teórica, conceitual e metodológica que se pode operar no interior do campo) o convida, o impele e quase que o predestina a jogar luz sobre temas espinhosos, na interface da sociedade com a “natureza”: das escorregadias noções de “sustentabilidade” e “desenvolvimento sustentável” à discussão dos processos de “externalização de custos ambientais” (e “exportação de entropia”) em várias escalas, passando pela “fabricação social” de “desastres naturais”. Faz-se mister, ou mesmo urgente, portanto, reconstruir, em bases novas, o “contrato epistemológico” que dá um rosto próprio à Geografia (conforme está implícito na nota 3), sob pena de, caso se fracasse, vir a Geografia a se tornar um saber cada vez mais apequenado, amesquinhado. Um saber que muitos julgarão supérfluo.
Apesar das várias exposições teórico-gerais da abordagem do desenvolvimento sócio-espacial (A3, A6, A11, B1, B5, B15, C8, C10, C11, C12, C13, C18, C19, C20 e C23, entre outros), bem como dos diversos projetos e muitos trabalhos empíricos e análises de temas específicos em que busquei tanto testá-la quanto retroalimentá-la e refiná-la (A2, A6, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B26, B27, C4, C5, C6, C7, C14, C15, C16, C17, C21, C22, C23, C24, C25, C27, C35, C36, C37, C38, D2, D3 e D4, entre outros), muito, muito mesmo ainda resta por fazer. De certo modo, acredito, há anos, que esse é quase que um “projeto de vida”... Socraticamente, quanto mais prossigo investigando, melhor percebo as lacunas que subsistem e a imensidão de coisas para ler, de autores com os quais dialogar, de abordagens para mencionar e de exemplos concretos para tomar contato e estudar. Posso, talvez, repetir as palavras de Riobaldo em Grande sertão: veredas: “[e]u quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa.” Só espero viver o suficiente (e ter energia suficiente) para poder avançar mais, convertendo desconfianças em conhecimento convincente.
PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PLANEJAMENTO E NA GESTÃO URBANOS PROMOVIDOS PELO ESTADO:
CONHECENDO POR DENTRO E... EXTRAINDO LIÇÕES
Pode-se dizer que, durante os anos 80, o meu interesse por “planejamento urbano” e “gestão urbana” era mínimo, quase nulo, e restringia-se a uma crítica e a
34
uma denúncia deles, vistos como expressões de práticas conservadoras ou mesmo reacionárias promovidas pelo Estado capitalista. Muito embora eu viesse acompanhando um pouco as discussões a respeito da “reforma urbana” desde meados daquela década, as quais culminaram com a elaboração da “Emenda Popular da Reforma Urbana”, submetida em 1987 ao Congresso Constituinte, minha mente ainda se achava por demais prisioneira de certos reducionismos e preconceitos, de modo que eu tendia a só valorizar, em matéria de contribuição para mudanças sócio-espaciais na direção de uma redução da heteronomia, as práticas dos movimentos sociais (ainda que elas de maneira alguma fossem encaradas sem um alto grau de exigência e mesmo uma certa dose de ceticismo, conquanto não no estilo em última análise desqualificador do “primeiro Castells”, aquele do La question urbaine). As práticas estatais, por outro lado, eram olhadas, quaisquer que fossem, com absoluta suspeição.
Pode-se talvez dizer, a meu favor, que a conjuntura política do período, anterior ao momento que, em 1989, viu nascer experiências muito interessantes (ainda que limitadas e ardilosas...) como o orçamento participativo de Porto Alegre, de fato não era nada estimulante. Seja como for, minha trajetória dos anos 80 me facultou uma poderosa “vacina” contra o “vírus” do reformismo complacente, “imunizando-me” contra a degenerescência um tanto quanto tecnocrática (“tecnocratismo de esquerda”, como venho provocando desde os anos 90) que passou a caracterizar o mainstream do pensamento sobre a “reforma urbana” no Brasil já a partir de fins dos anos 80.
Sem embargo, o refluxo e o enfraquecimento dos ativismos urbanos no Brasil, e mais amplamente a mediocridade política e o neoconservadorismo que, em escala global, tornaram-se hegemônicos ao longo da década de 80, me foram estimulando, juntamente com a “redemocratização” no Brasil e as possibilidades institucionais que isso permitiu (criação e multiplicação de instâncias participativas, de políticas públicas de caráter [re]distributivo etc.), a uma reflexão mais ponderada, embora de forma alguma complacente, a propósito do que se poderia (ou deveria) esperar (ou não esperar) do aparelho de Estado. Algo me dizia que, para além das leituras estruturais (planejamento urbano = Estado capitalista = exploração e opressão), em si mesmas um balizamento essencial, havia toda uma complexidade de situações e margens de manobra a explorar. Foi nessa época que “redescobri” a obra tardia de Nicos Poulantzas e sua reflexão sobre o Estado como uma “condensação de uma relação de forças” (POULANTZAS, 1985). Muito embora eu já tivesse rejeitado, desde meados da década de 80, a concepção de Estado do marxismo ortodoxo (que o reduzia a um “comitê executivo da burguesia”), a obra de Castoriadis, que se havia revelado decisivamente útil para mim em tantos outros aspectos, mostrou-se pouco útil no que se refere à tarefa de abraçar uma alternativa simultânea à concepção de Estado do liberalismo (“juiz neutro”, “árbitro pairando acima dos conflitos de classe”) e à visão marxista-leninista tradicional. Com Poulantzas isso foi possível, e uma “integração” do insight de Poulantzas ao arcabouço autonomista me permitiu, desde então, compreender melhor e tirar as devidas consequências, em um plano operacional, que o Estado, embora seja estruturalmente heterônomo (e, portanto tendencialmente sempre conservador), não é um “monólito”, um bloco sem fissuras ou contradições; conjunturas específicas, sob a forma de governos concretos, podem trazer consigo não somente uma potencialidade no que tange a ações diretamente desempenhadas pelo aparelho de Estado e que possam, dialeticamente (ou seja, contraditoriamente), apresentar uma positividade emancipatória, mas também oferecer para os movimentos sociais emancipatórios uma margem de manobra legal e institucional a ser inteligente e convenientemente explorada. Ao mesmo tempo, todavia, não me escapou que, em última análise, o Estado permaneceria sendo, sempre, uma instância de poder heterônoma e perigosa (risco de cooptação, por exemplo)...
Explorar as possibilidades oferecidas por políticas públicas, pela legislação formal e por instrumentos com forte potencial (re)distributivo e por esquemas de participação popular o chamado domínio da luta institucional (não-partidária) ao mesmo tempo em que não se deixava de lado a contribuição que os movimentos sociais poderiam oferecer e tinham já oferecido diretamente domínio da ação direta, foi a tarefa que me propus a enfrentar entre fins da década de 90 e meados do decênio seguinte. Esse período teve, por assim dizer, duas “fases”, que refletiram não somente meu maior amadurecimento analítico mas, também, uma estratégia de publicação.
Em uma primeira “fase” (que tem como “precursor” um texto por mim publicado já em 1993 nas Actas Latinoamericanas de Varsóvia, sobre as perspectivas e limitações da “reforma urbana” [C3]), o principal produto, o livro Mudar a cidade: Uma introdução crítica ao planejamento e gestão urbanos (A3), publicado em 2002, representou o meu esforço para submeter a escrutínio toda uma experiência acumulada de crítica do planejamento e da gestão promovidos pelo Estado e de desenho e implementação de instrumentos e políticas públicas de tipo “alternativo”, “progressista” e “participativo”. Experiências e instrumentos de planejamento e gestão urbanos participativos de diversos países, mas sobretudo do Brasil (com uma ênfase especial sobre tudo o que se discutira, desde os anos 80 e 90, sob as rubricas “reforma urbana”, “orçamentos participativos” e “novos planos diretores”), foram, nesse livro (mas também em inúmeros artigos, publicados mais ou menos na mesma época: p.ex. B11, B12, C12, C13, C14, C15, D3 e E4), identificados, esquadrinhados e avaliados. Em contraste com o período representado por minha dissertação de mestrado, o livro Mudar a cidade simboliza uma clara valorização, se bem que decididamente cautelosa e antiestadocêntrica, da luta institucional não-partidária (isto é, das possibilidades de aproveitamento de canais participativos institucionais por parte das organizações de ativistas), sob influência da conjuntura favorável que se estendeu da década de 90 (ou já desde fins da década anterior) até o começo da década seguinte. Durante vários anos, do finzinho da década de 90 até meados do decênio seguinte, estudei, sistematicamente, nos marcos de projetos de pesquisa que incluíram trabalhos de campo em cidades tão distintas quanto Porto Alegre e Recife, as potencialidades, limitações e contradições de vários instrumentos de planejamento geralmente tidos como progressistas e de diversas institucionalidades participativas (conselhos gestores, orçamentos participativos etc.), com o fito de formar um juízo mais sólido sobre o assunto.
Em uma segunda “fase”, cuja principal expressão é o livro A prisão e a agora (A6), aprofundou-se a discussão dos limites do esquemas de planejamento e gestão urbanos participativos patrocinados pelo aparelho de Estado, ao mesmo tempo em que o papel dos movimentos sociais teve sua análise complementada e refinada em alguns pontos importantes (voltarei a isso mais adiante). Fica mais nítido, nessa segunda “fase”, aquilo que, desde o começo, era a minha principal motivação para submeter a escrutínio os instrumentos, estratégias e rotinas de planejamento e gestão urbanos: explorar a questão das potencialidades, das limitações e dos riscos (por exemplo, dos riscos de cooptação), para os movimentos sociais, do envolvimento com a luta institucional (negociações com e pressões sobre o aparelho de Estado, apoio a canais e instâncias participativos oficiais, acesso a fundos públicos, acompanhamento ativo de processos legislativos e geração de expectativas concernentes ao potencial distributivo de instrumentos e políticas públicas), compreendida como um complemento taticamente conveniente ou necessário (em certas circunstâncias) da ação direta. Devido à grande atenção dedicada, no livro Mudar a cidade, a instrumentos de planejamento e rotinas de gestão a serem implementados pelo Estado (ainda que sob pressão e influência da sociedade civil, bem entendido), esse livro padece de um certo “desequilíbrio”, coisa que já não ocorre com A prisão e a ágora.
A CRIMINALIDADE VIOLENTA COMO DESAFIO
PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ESPACIAL NAS CIDADES
Conforme eu já expliquei anteriormente, meu interesse pela criminalidade violenta, como uma forma de compreender certos aspectos fundamentais da produção do espaço urbano do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras, começou durante a pesquisa de minha tese de doutorado. Esse interesse, conforme também já tive oportunidade de mencionar, teve continuidade logo após o meu retorno ao Brasil. Formalmente, dediquei um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq ao estudo dos efeitos sócio-espacialmente desestruturadores/reestruturadores do tráfico de drogas nas cidades brasileiras, sendo o produto principal dessa atividade de pesquisa o livro O desafio metropolitano.
Ao longo da década de 90 investi em uma abordagem e propus um conceito, a que denominei fragmentação do tecido sociopolítico-espacial da cidade, que reunia, em um todo analítico e explicativo integrado, o exame da formação de enclaves territoriais ilegais controlados pelo tráfico de drogas de varejo, a autossegregação em “condomínios exclusivos” e a “decadência” dos espaços públicos. Não se tratava, aí, de atualizar ou renovar as reflexões sobre a segregação residencial no Rio de Janeiro que eu realizara no início dos anos 90, mas de ir além da segregação enquanto conceito e realidade sócio-espacial. Com efeito, a referida fragmentação do tecido sociopolítico-espacial, conquanto se assente sobre a segregação residencial (e sobre vários outros problemas, que exigem, inclusive, a consideração de processos operando em escala global), a ela não se restringe e com ela não se confunde, como venho argumentando em artigos publicados em periódicos, coletâneas e anais de congressos desde os anos 90 e, também, em vários livros. A segregação residencial existe e existiu desde sempre, em qualquer cidade inscrita em uma sociedade de classes, na qual existam assimetrias e desigualdades estruturais. A fragmentação do tecido sociopolítico-espacial, de sua parte, é um fenômeno mais específico, que, por assim dizer, se superpõe a uma segregação já existente e a agrava (ou agrava alguns de seus aspectos, como a estigmatização sócio-espacial).
No que toca aos livros relacionados com a temática, a O desafio metropolitano seguiu-se, em 2006, A prisão e a ágora: Reflexões sobre a democratização do planejamento e da gestão das cidades. Este trabalho foi concebido como o primeiro de uma espécie de “trilogia” uma “trilogia” curiosa, não apenas por estar somente na minha cabeça e não ter sido explicitada para o público leitor como intenção do autor, mas também porque, nela, a “síntese” precede a “análise”. Explicando este último ponto: ao mesmo tempo em que A prisão e a ágora deveria retomar, de maneira articulada, minhas preocupações, meu envolvimento profissional e meu engajamento com o planejamento urbano crítico e os movimentos sociais (aquilo que, em grande parte metaforicamente, é representado pela “ágora” do título), o livro também deveria sintetizar os resultados de mais de uma década de pesquisas sobre a violência urbana, a fragmentação do tecido sociopolítico-espacial e a “militarização da questão urbana” (a “prisão” do título, em grande parte, embora não inteiramente, a ser interpretada enquanto metáfora) sendo os dois componentes, a “prisão” e a “ágora”, examinados e discutidos integradamente, um em relação com o outro. Por outro lado, era minha intenção, desde o começo, desdobrar esse livro em dois outros: um que retomasse e aprofundasse algumas questões relativas à “prisão”, isto é, à violência, heteronomia, à fragmentação, à “militarização da questão urbana”; e outro que retomasse e aprofundasse a análise da “ágora”, em particular da espacialidade e do papel dos movimentos sociais urbanos. Fobópole: O medo generalizado e a militarização da questão urbana (A7) foi publicado em 2008 tendo sido um dos dez finalistas do Prêmio Jabuti em 2009, na categoria ciências sociais e constituiu a exploração aprofundada disso que estou chamando de a dimensão da “prisão”, desdobrando e esmiuçando alguns assuntos que já haviam sido focalizadas no A prisão e a ágora. O aprofundamento da reflexão sobre a dimensão da “ágora” (as espacialidades de insurgência e luta por direitos e liberdade, com destaque para aquelas efetivamente caracterizadas por uma dinâmica autogestionária), de sua parte, ficará a cargo de um livro que, no momento, está sendo elaborado (vide a seção “O espaço no pensamento e na práxis libertários”, um pouco mais à frente).
Depois da publicação de A prisão e a ágora e Fobópole, passei a concentrar-me, no que respeita ao interesse pela temática da violência e da criminalidade, exclusivamente à interseção desse assunto com o tema da dinâmica e dos desafios dos movimentos sociais (problema já focalizado no Cap. 3 de Fobópole e em vários
38
artigos), do que derivou, sobretudo, o longo artigo Social movements in the face of criminal power, publicado em 2009 na revista City (C21).
A crise do ativismo favelado possui as suas especificidades em comparação com a dos bairros formais. Uma das causas da crise dos ativismos favelados no Rio de Janeiro já a partir dos anos 80 e, desde os anos 90, cada vez mais em várias outras cidades, foram e têm sido, ao lado dos efeitos de longo prazo do clientelismo tradicional (o qual é indissociável de um quadro de pobreza, desigualdade e dependência), certos impactos da presença crescente do tráfico de drogas de varejo nas favelas, conforme o autor já fizera notar em trabalho anterior (A2, págs. 167-8; ver, também, A6, A7, B2, B13, B25, B26, C4, C5, C6, C7, C17, C21, C32, C37). Embora seja difícil ter acesso a dados confiáveis, tudo indica que o número de líderes de associações de moradores de favelas mortos ou expulsos por traficantes, por se recusarem a submeter-se, tem sido, no Rio de Janeiro, desde os anos 80, muito grande, e igualmente muito grande parece ser o número daqueles que, diversamente, aceitaram submeter-se ou foram mesmo “fabricados” por traficantes. E o Rio de Janeiro é apenas um exemplo particularmente didático; casos de líderes favelados intimidados ou mortos por traficantes e de (tentativas de) interferência de criminosos em associações de moradores têm sido também reportados a propósito de várias outras cidades brasileiras. A isso se vêm acrescentando, cada vez mais, as intimidações por parte de grupos de extermínio (“milícias”), formados por (ex-)policiais, envolvidos em diferentes tipos de atividades ilegais, a começar pela extorsão de moradores.
O problema das interferências dos traficantes de drogas e “milícias” (sem falar na tradicional brutalidade policial) já começou a colocar-se também para a “segunda geração” dos “novos ativismos urbanos”, como o movimento dos sem-teto (vide A7 e C21). Cite-se, a título de exemplo, a expulsão dos militantes da organização Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) da ocupação Anita Garibaldi (uma grande ocupação na periferia de São Paulo, em Guarulhos, iniciada em 2001), em 2004. De nada adiantou os ativistas buscarem “argumentar” com os traficantes e, depois, tentarem enfrentá-los.
Até que ponto a ação de criminosos tem o potencial de dificultar o crescimento e a atuação dos movimentos sociais no meio urbano? (14)
Para os traficantes de drogas operando no varejo, uma favela e uma ocupação de sem-teto representam possíveis pontos de apoio logístico. (15) É possível imaginar que os movimentos conseguirão, em algumas situações, evitar, com base na astúcia, ser expulsos e desterritorializados (vide A6, a propósito de uma situação desse tipo envolvendo uma ocupação de sem-teto do Rio de Janeiro). É lícito conjecturar, porém, uma tendência de fricções e conflitos.
O tráfico de varejo de drogas ilícitas é uma atividade capitalista, embora informal, e os seus agentes são, muitas vezes, oprimidos que oprimem outros oprimidos (A6, pág. 510; A7; C17, pág. 7; C19). Todavia, imaginá-los como “potencialmente revolucionários” (e, por isso, potencialmente aliados das organizações de movimentos sociais) pelo fato de serem, de algum modo, explorados e consumidos pelo sistema como peças descartáveis, seria um caso extremo e quase delirante de raciocínio simplista e mecanicista e de wishful thinking (A7). Por outro lado, os traficantes de varejo são, sim, os “primos pobres” do tráfico de drogas; têm origem quase invariavelmente pobre e em espaços segregados, e são instrumentalizados por todo um conjunto de agentes sociais que engloba de empresários a policiais. Em vez de analisá-los apenas como categoria genérica (“os traficantes de varejo”), cabe lembrar que, no que se refere a essas pessoas, há muitas situações, dos garotos de onze ou doze anos de idade (ou até menos) que geralmente atuam como “olheiros” e “aviõezinhos” até os “donos” que operam a partir de presídios, passando pelos “soldados” (muitas vezes simples adolescentes) e “gerentes”. Diversos cenários podem ser construídos a propósito de como as relações entre ativistas e criminosos podem evoluir nos próximos anos, mas toda cautela é pouca a esse respeito. É bastante realista aceitar que o quadro atual dá margem a vários tipos de pessimismo, mais que a qualquer otimismo significativo.
No limite, é possível especular igualmente sobre outra coisa: a militarização da questão urbana, decorrente das respostas estatais à problemática da insegurança pública, não é, também, uma ameaça para qualquer movimento emancipatório?... Medidas legais restritivas e estratégias repressivas adotadas para (e a pretexto de) coibir a ação de criminosos não poderão ser utilizadas para constranger e abafar também movimentos sociais? Não se trata de pura dedução: a história da relação dos movimentos com o aparato policial e penal do Estado sempre mostrou exatamente isso, com intensidade variável ao longo do tempo. No momento, a luta contra o terrorismo a partir dos EUA e da Europa já traz evidências suficientes de uma nova fase do problema. No Brasil, onde a criminalidade ordinária desempenha o papel que, nos países centrais, é cumprido pelo espectro do terrorismo, a fragilidade da “democracia” representativa torna-se evidente em face do caráter “estrutural” e quase ubiquitário da corrupção estatal e o papel ainda largamente tutelar desempenhado pelas Forças Armadas (ZAVERUCHA, 1994:Cap. 3 e 2005) não pode ser ignorado, deve-se ter atenção para com os desdobramentos de longo prazo. A preocupação, no caso, é menos com golpes militares explícitos e clássicos que com um recrudescimento da militarização da questão urbana, que, aliás, já vem se manifestando desde os anos 90 (A2, pág. 98; A6, pág. 491; A7).
AUTOGESTÃO E “AUTOPLANEJAMENTO”:
UM OLHAR DIFERENTE SOBRE O PLANEJAMENTO E A GESTÃO URBANOS... E SOBRE OS PRÓPRIOS MOVIMENTOS SOCIAIS
A dimensão da “ágora”, porém, tal como tratada por mim em diversos capítulos de livros, artigos em periódicos e anais de congressos (como em B19, B21, B26, C12, C18, C23, C24, C25, C27, C33, C34,C35, C36, E16, E17, E18, E19, E20, E33) e, em particular, no livro A prisão e a ágora, merece algumas considerações adicionais. Afinal, se no Mudar a cidade eu havia focalizado mais detidamente a margem de manobra oferecida por um planejamento e uma gestão críticos promovidos pelo próprio Estado (ainda que sem deixar de lado as contribuições oferecidas pelos movimentos sociais diretamente), e se no livro O desafio metropolitano a preocupação com os movimentos sociais aparece sobretudo em seu aspecto “negativo” (vale dizer, análise de uma “crise” e de seus fatores), A prisão e a ágora e outros trabalhos de meados da década refletiram as minhas pesquisas sistemáticas sobre as potencialidades e as conquistas dos movimentos sociais incluindo-se, aí, uma defesa, muito mais aprofundada que aquela oferecida em algumas passagens do Mudar a cidade (como o Cap. 11 da Parte II), da possibilidade de analisar os movimentos sociais e suas organizações também como agentes de planejamento e gestão urbanos.
A ideia de que os movimentos sociais e suas organizações podem e devem ser enxergados também como agentes de planejamento e gestão urbanos é, para muitos, simplesmente contraintuitiva, devido ao arraigado preconceito (cujas razões teóricas e causas ideológicas tenho me esforçado para desvendar e explicitar) segundo o qual “planejamento urbano” e “gestão urbana” são atividades desempenhadas exclusivamente pelo aparelho de Estado. Opondo-me a isso, propus, com base em argumentos teórico-conceituais e evidências empíricas, uma expansão do entendimento do que seriam “planejamento urbano” e “gestão urbana”, de modo a englobar também diferentes aspectos das ações de vários movimentos sociais e suas organizações (movimento dos sem-teto no Brasil, piqueteros, asambleas barriales e fábricas recuperadas na Argentina, entre outros). É claro que me preocupei em esclarecer as muitas diferenças entre as práticas de planejamento e gestão realizadas pelos movimentos, de um lado, em comparação com as atividades do Estado, de outro, à luz das óbvias diferenças em matéria de prerrogativas legais (por exemplo, desapropriação de imóveis), de capacidade econômica etc. Entretanto, examinar os movimentos a partir desse ângulo permitiu não só elucidar melhor certas coisas, mas também situar melhor, conceitual e classificatoriamente, o universo do que eu venho chamando, há muitos anos, de planejamento e gestão urbanos críticos: se, em circunstâncias favoráveis, que tendem a ser antes a exceção que a regra, o próprio aparelho de Estado, na qualidade de governos específicos em conjunturas bastante particulares, pode, conforme já argumentei, bancar e promover a implementação de estratégias, políticas públicas, instâncias participativas e instrumentos que representam um avanço em matéria (re)distributiva e, às vezes, até mesmo político-pedagógicas (ampliação de consciência de direitos, “escolas de participação direta” etc.), somente os movimentos sociais podem protagonizar práticas espaciais insurgentes, que questionem a instituição global da sociedade e apontem para a sua superação radical. Com isso, um “planejamento urbano” e uma “gestão urbana” insurgentes, protagonizados pelos próprios movimentos sociais em diversas escalas da gestão dos seus “territórios dissidentes” em escala “nanoterritorial” ou microlocal até suas articulações em rede e ações arquitetadas em escalas supralocais, passaram a ser conceitualmente tratados por mim como um subconjunto do planejamento e da gestão urbanos críticos e, na verdade, como um subconjunto particularmente ousado, o único potencialmente radical.
Algumas de minhas contribuições a esse respeito têm obtido repercussão, inclusive, em âmbito internacional: prova disso é que, em 2014, saiu publicada uma tradução para o francês de um texto originalmente publicado em inglês na revista City, da Inglaterra. Providenciada pelos próprios colegas em que saiu publicado o capítulo (intitulado “Ensemble avec l’État, malgré l’État, contre l’État. Les mouvements sociaux, agents d’un urbanisme critique” [B27]) (16), Matthieu Giroud, um dos organizadores da coletânea (ao lado de Cécile Gintrac), não se limitou a fazer uma breve apresentação de meu texto: escreveu uma apresentação de sete páginas sobre o que tem sido o meu trabalho, sob o título “Marcelo Lopes de Souza, l’oeil libertaire d’Amérique latine”. Um reconhecimento desse naipe e desse calibre não pode deixar de ser visto por mim como uma certa compensação por trabalhar, como os demais pesquisadores brasileiros, em condições geralmente subótimas quando não hostis em matéria de infraestrutura e quadro institucional. (Mal sabe a maioria dos colegas europeus e estadunidenses aquilo que, no dia a dia, com frequência enfrentamos...)
Voltando às práticas de “planejamento urbano” e “gestão urbana” insurgentes, por fim, havia igualmente que distinguir entre situações distintas do ponto de vista político. Mais especificamente, se tornava necessário explicitar, da maneira mais criteriosa possível, as diferenças entre formas de organização mais “horizontais” e anti-hierárquicas, mais distantes de práticas heterônomas e centralistas, e, de outro lado, formas de organização significativamente “verticais”, embora insurgentes e críticas em face da ordem sócio-espacial capitalista. Tratava-se, mais concretamente, de admitir que, em matéria de “planejamento urbano” e “gestão urbana” insurgentes, nem tudo era (projeto de) autogestão e, por analogia, tampouco “autoplanejamento”. Essas diferenças têm sido sistematicamente estudadas por mim desde meados da década; embora tenham alcançado uma condensação inicial bastante explícita em A prisão e a ágora e em outros trabalhos, somente em um próximo livro, planejado para vir à luz daqui a alguns anos, é que será possível o aprofundamento que julgo ser necessário. Com esse outro livro encerrar-se-á, também, a “trilogia” que mencionei. Antes disso, porém, decidi fazer uma pausa de vários anos, para desincumbir-me de um projeto que acalentava, em segredo, desde os anos 1980: refletir, sistematicamente, sobre as concepções de espaço e as abordagens espaciais ao longo da história do pensamento libertário. É justamente essa a principal temática que me ocupou e ocupa no período que vem desde 2008, e sobre a qual discorrerei, ainda que forçosamente de modo muito sucinto, a seguir.
O ESPAÇO NO PENSAMENTO E NA PRÁXIS LIBERTÁRIOS
Logo após entregar à editora Bertrand Brasil o meu livro Fobópole, que foi publicado em maio de 2008, passei a dedicar-me ao levantamento sistemático e à leitura ou releitura de material para o meu próximo livro, juntamente com as atividades concernentes ao principal projeto de pesquisa por mim coordenado, o projeto CNPq intitulado Territórios dissidentes: Precarização socioeconômica, movimentos sociais e práticas espaciais insurgentes nas cidades do capitalismo (semi)periférico, conduzido por mim desde 2007. Começava a tomar forma, naquele momento, a obra O espaço no pensamento e na práxis libertários, que se encontra, atualmente, em estágio de redação. A preparação desse livro, porém, foi interrompida em 2011, para que eu pudesse me dedicar à elaboração de um outro, que considerei mais prioritário em termos imediatos, ainda que não tivesse a ver tão diretamente com os meus projetos de pesquisa: trata-se da obra Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial (A11 destinada a estudantes de graduação. Trata-se, como o nome sugere, de uma obra de discussão de conceitos básicos; a motivação para escrevê-la foi a constatação de que vários conceitos importantíssimos ainda não haviam sido sistematicamente explorados em língua portuguesa, ou, então, no caso de outros tantos conceitos, os melhores artigos disponíveis já tinham, em grande parte, dez, quinze ou mais anos desde que foram publicados. Escrita de modo a valer como uma introdução, a obra não deixou, porém, de trazer também muitos resultados de quase três décadas de pesquisas e reflexões pessoais, muito embora a variedade de conceitos ali tratados levasse a que, no caso de alguns deles (como região), a minha contribuição original individual seja diminuta. Como todo manual voltado para iniciantes, a liberdade do autor acaba sendo muito menor que no momento de redigir um ensaio ou artigo que reflita os resultados de suas pesquisas específicas: em uma obra como o livro em questão, somos obrigados a tratar não apenas do que nos agrada ou daquilo com que temos mais afinidade (ou a respeito do que temos mais acúmulo direto), mas sim daquilo que de fato é relevante para os estudantes, de modo a não gerar muitas lacunas ou assimetrias.
Uma vez entregue na editora Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial, pude, então, debruçar-me de novo sobre O espaço no pensamento e na práxis libertários.
Vem de longa data o meu interesse em refletir sobre a “linhagem libertária” na Geografia, sem restringi-la ao anarquismo clássico e buscando, com efeito, levar em conta as reflexões de neoanarquistas, autonomistas e outros intelectuais antiautoritários, tanto europeus (de Bookchin e Castoriadis a Foucault, Deleuze & Guattari) quanto latino-americanos (como Raúl Zibechi), que, mesmo sem serem geógrafos de formação, refletiram profunda e/ou criativamente sobre o espaço e a espacialidade. Foi somente em 2008, todavia, paralelamente ao projeto Territórios dissidentes (e, até certo ponto, em articulação com ele), que comecei a me organizar para fazer uma longa e minuciosa pesquisa sistemática, que incluísse a leitura (e, em vários casos, releitura) das obras de Élisée Reclus (em que só La Terre, a Nouvelle Gégraphie Universelle e L’Homme et la Terre, juntas, totalizam cerca de vinte e três mil páginas!) e Piotr Kropotkin, assim como de vários outros autores. De lá para cá, transformou-se em convicção a minha intuição de que do exame sistemático e generoso das contribuições teórico-conceituais explícitas e implícitas da “linhagem libertária” poderia resultar uma contribuição à renovação da pesquisa sócio-espacial, bastante em conformidade com as necessidades e urgências de nossa época.
Diversos artigos em periódicos e anais de congressos ou divulgados na Internet têm já se beneficiado dos resultados preliminares dessa empreitada (por exemplo, B19, C22, C23, C24, C25, C26, C35, C36, C37, C38, C41, E16, E17, E18, E19 e E20). Um outro marco da publicização de resultados preliminares sobre o tema foi a (co-)organização, em 2013 (juntamente com Richard White, da Sheffield Hallam University; Simon Springer, da University of Victoria; de Collin Wlilliams, da University of Sheffield; de Federico Ferretti, da Universidade de Genebra; de Alexandre Gillet, da Universidade de Genebra; e de Philippe Pelletier, da Universidade de Lyon) do panel (compreendendo três sessões ao longo de um dia inteiro de atividades) Demanding the impossible: transgressing the frontiers of geography through anarchism, parte das atividades da Annual International Conference 2013 da Royal Geographical Society (em parceria com o Institute of British Geographers), realizado em Londres.
No momento (dezembro de 2014), posso dizer que, após ter finalizado a parte principal do levantamento de material já no começo de 2010, estão também concluídas a fase das análises básicas a respeito das obras de alguns autores (como Élisée Reclus, Piotr Kropotkin, Murray Bookchin e Cornelius Castoriadis) e uma grande parte da primeira versão do trabalho. Contudo, não tenho tido pressa em terminar a redação: venho me permitindo verdadeiramente degustar as coisas que leio (muitas delas deliciosas, como é o caso de praticamente toda a prosa de um Reclus ou de um Kropotkin ora, como sabiam escrever os antigos!), checando e rechecando fontes, cotejando versões em diferentes línguas, polindo e tornando a polir o estilo, verificando os últimos detalhes. Também tenho aproveitado as estadias de ensino e pesquisa no exterior (como, recentemente, em Madri, entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014) para levantar material adicional em bibliotecas, arquivos e livrarias, e até para realizar entrevistas. Por maior que seja a minha paixão por meu trabalho como um todo, poucas vezes uma tarefa me cativou tanto quanto a longa pesquisa que está na base da redação desse livro.
No entanto, decidi não formalizar a pesquisa que está na base de O espaço no pensamento e na práxis libertários, submetendo um projeto a algum órgão de fomento. Isso por várias razões. Em primeiro lugar, porque Territórios dissidentes, que tem como um de seus objetivos propiciar alguns cotejos entre situações nacionais distintas (Brasil, África do Sul e Argentina, principalmente), já é um projeto que exige grande fôlego. E a isso se acrescenta o fato de que, recentemente, estive envolvido (ou passei a estar envolvido) com dois projetos internacionais: de 2011 a 2013 fui o coordenador latino-americano do projeto Solidarity Economy North and South: Energy, Livelihood and the Transition to a Low-Carbon Society, financiado pela British Academy; e desde 2012 (e até 2016) tenho sido membro do Steering Committee do projeto Contested_Cities Contested Spatialities of Urban Neoliberalism. Dialogues between Emerging Spaces of Citizenship in Europe and Latin America, financiado pela União Europeia, que reúne dez universidades de seis países diferentes (Inglaterra, Espanha, Brasil, México, Argentina e Chile), sendo eu o coordenador da equipe brasileira.
Em segundo lugar, porque foram exatamente certas observações e constatações que fiz no decorrer da condução do projeto Territórios dissidentes, inclusive com base em trabalhos de campo no Brasil e fora do Brasil, que me levaram a, finalmente, dar início ao sempre protelado esforço de reflexão sistemática sobre o lugar do espaço e da espacialidade na história do pensamento e dos movimentos libertários: mormente a constatação, ou antes confirmação, de que vários movimentos sociais emancipatórios da atualidade possuem tanto uma inequívoca dimensão libertária (autogestionária, “horizontal” etc.) quanto um denso conteúdo de “geograficidade” (organizacional, estratégica e identitariamente). Resolvi, então, que o mais razoável seria cultivar O espaço no pensamento e na práxis libertários como uma espécie de “projeto paralelo”, mas de modo algum menor. A rigor, ainda que Territórios dissidentes implique uma discussão teórica específica e que O espaço no pensamento e na práxis libertários se alimente de muito material empírico, há, entre esses dois esforços, uma relação de complementaridade: Territórios dissidentes se nutre, em grande parte, das reflexões teórico-conceituais que associo mais diretamente a O espaço no pensamento e na práxis libertários, enquanto que este bebe, a todo momento, na fonte de material empírico que é o ambiente mais imediato de Territórios dissidentes. E há, também, diferenças outras, por conta dessas já citadas: a pesquisa que embasa a maior parte de O espaço no pensamento e na práxis libertários é um pouco solitária e artesanal, dependente de uma imensa carga de leitura com a qual eu mesmo preciso lidar (e que prazer tem sido lidar com ela!), ao passo que Territórios dissidentes se beneficia grandemente dos esforços somados de toda uma equipe sob a minha orientação. Aliás, é chegada a hora de fazer um agradecimento dos mais necessários: aos meus colaboradores, sejam orientandos de graduação ou pós-graduação. Eles, juntamente com os muitos parceiros fora da universidade (nos movimentos sociais, sobretudo, mas também em outros ambientes), além de alguns bons amigos e colegas pesquisadores espalhados por quase meia dúzia de países, têm sido o esteio indispensável à realização de pesquisas tão dependentes de trabalho de campo e levantamentos bibliográficos extensos e diversificados. Sem a ajuda desses pesquisadores, bastante jovens na sua quase totalidade, eu certamente não teria obtido muitos dos resultados que logrei obter, desde meados dos anos 1990. Sem a ajuda deles eu seria, seguramente, apenas um pesquisador solitário, (auto)confinado a certas tarefas, e provavelmente mais rabugento do que sou.
OS “PRÓXIMOS CAPÍTULOS”: PROVÁVEIS FUTUROS PASSOS
EM MINHA TRAJETÓRIA COMO PESQUISADOR
Como já mencionei parágrafos atrás, coordeno, desde 2007, o projeto CNPq intitulado Territórios dissidentes: Precarização socioeconômica, movimentos sociais e práticas espaciais insurgentes nas cidades do capitalismo (semi)periférico; e, desde 2012, sou um dos coordenadores do projeto internacional Contested_Cities. É minha intenção publicar, após o término deles, e notadamente do projeto Territórios dissidentes, um livro que dê divulgação aos seus principais resultados. Entretanto, como o referido projeto só termina em 2018, esse livro, que já comecei a projetar, deverá ainda esperar vários anos para vir à luz, muito embora a redação de alguns de seus capítulos já tenha sido esboçada. Diversos artigos em periódicos e anais de congressos, além de alguns capítulos de livros, já têm trazido para o debate acadêmico alguns resultados parciais do que é um projeto ainda em andamento (vide, especialmente, B15, B16, C23, C24, C25, C32, C38, C40, D4, E7, E8, E11, E12, E14, E16, E17, E21, E22, E23; ver, também, o livro que co-organizei, sobre segregação residencial: A8). Provavelmente, contudo, nada será comparável a um livro que forneça uma visão de conjunto e aprofundada. De toda sorte, aquilo que imagino como os meus interesses prioritários pelos próximos cinco ou mesmo dez anos continuará tendo a ver com uma espécie de sinergia derivada da condução simultânea desses dois eixos de pesquisa; um, mais formal, representado pelo projeto CNPq (e pelo projeto da União Europeia); outro, mais informal, simbolizado pelo livro O espaço no pensamento e na práxis libertários. O acúmulo de material empírico e reflexões teóricas, com uma coisa continuamente fertilizando a outra, ainda irá render vários anos de trabalho, com diversos tipos de produtos específicos: livros, capítulos e artigos, cursos e palestras, textos de divulgação, atividades de extensão, e assim sucessivamente.
Em sua essência, o que pretendo realizar, durante os próximos anos, tem a ver com o aprofundamento e o refinamento, por meio tanto da consolidação de análises já feitas quanto da incorporação de novos temas e novos exemplos empíricos, da abordagem do desenvolvimento sócio-espacial que venho tentando construir. Em especial, um eixo de discussões referente aos aspectos ecogeográficos da problemática deverá ser, na medida do possível, implementado, para além do nível preliminar até agora alcançado. Não, evidentemente, para tornar-me, a esta altura da vida, especialista na matéria, mas sim para incorporar, de modo mais profundo e sistemático, os resultados do conhecimento gerado por colegas que têm dedicado suas carreiras ao estudo das dinâmicas e vulnerabilidades dos ecossistemas, de maneira a robustecer a contextualização (e problematização) de questões concernentes, por exemplo, às vinculações entre segregação residencial e “risco ambiental”, e entre proteção ambiental (e a instrumentalização do discurso a esse respeito) e conflitos pelo uso do solo. Em um patamar de maior abrangência e abstração, cumpre também devotar crescente atenção aos vínculos dos diferentes modos de produção e “estilos de desenvolvimento”, de um lado, com as intensidades de “estresse ambiental” e resiliência ambiental”, por outro, ou ainda às maneiras de integrar TEK (= Traditional Ecological Knowledge) e SEK (= Scientific Ecological Knowledge). (17) Interessantemente, uma das mais importantes fontes de inspiração para esse tipo de ampliação de meus interesses não precisa ser buscada em nenhum lugar remoto: basta recordar o exemplo de Orlando Valverde, “geógrafo clássico” e completo cujo figurino intelectual me parece, quanto a esse tipo de preocupação, cada vez mais atual.
Cenários de mais longo prazo que os próximos cinco ou, já um pouco temerariamente, dez anos são demasiado arriscados e, portanto, desaconselháveis. Tenho, todavia, a firme intenção, como já expus antes, de prosseguir burilando e lapidando as reflexões sobre a espacialidade das lutas contra a heteronomia e sobre os vínculos entre mudança social e transformação espacial, nos marcos do enfoque que tenho chamado, desde meados dos anos 1990, de “desenvolvimento sócio-espacial”. No fundo, esse tem sido o fulcro de meu trabalho acadêmico desde os anos 1980, e contra cujo pano de fundo todos os demais esforços podem ser encarados como esforços parciais, de “teste” ou de exemplificação. Tanto quanto posso enxergar (e esperar) agora, esse é o caminho que, se o destino e as circunstâncias assim permitirem, continuarei a trilhar.
MARCELO LOPES DE SOUZA, PROFESSOR
Dediquei-me, nas seções precedentes, a esquadrinhar e refletir sobre a minha atuação como pesquisador. É bem verdade que o meu trabalho propriamente como professor universitário, isto é, como educador, teve e tem a ver, na sua maior parte, com os resultados de meus esforços como pesquisador: sobretudo em nível de pós-graduação, mas também na graduação, muito do que eu tenho feito tem sido decorrência do conhecimento que amealhei em virtude e ao longo de minha experiência de pesquisa. Não obstante, duas razões se colocam para que um tratamento específico seja dado ao meu papel estritamente como docente: 1) um professor não é, ou pelo menos não deve ser, meramente um “pesquisador que ministra aulas”, mas sim alguém intrinsecamente preocupado com a comunicação de conteúdos aos mais jovens, aos futuros professores e pesquisadores (ou, no caso da pós-graduação, aos pesquisadores em início de carreira); 2) nem tudo o que lecionei teve relação direta com os meus temas preferenciais, muito menos com os temas de meus projetos de pesquisa.
De partida, faço a confissão de que, na qualidade de professor, tenho sido constantemente assaltado pela angústia de quem regularmente se interroga sobre a eficácia e o efeito de suas palavras. Não que esse tipo de preocupação esteja ausente de minha labuta como pesquisador; se assim fosse, decerto não seria eu um cientista. Ocorre, porém, que há uma diferença entre, de um lado, fazer trabalho de campo, revirar papéis em um arquivo, coordenar e treinar uma equipe e escrever livros e artigos, e, de outro lado, conviver com um grupo (às vezes bem numeroso) de jovens em uma sala de aula, no contexto formal de uma disciplina. Por quê?
Enquanto pesquisador, tenho, evidentemente, sempre que medir as minhas palavras e buscar o rigor; no campo, ao entrevistar pessoas que geralmente não conheço (embora, às vezes, já conheça, o que apresenta dificuldades adicionais), preciso adequar a minha forma de falar e, mesmo sem mentir, não posso me esquecer de ser cuidadoso e diplomático (dependendo do assunto da pesquisa, muitíssimo cuidadoso e diplomático, inclusive por razões de segurança, minha, da equipe e do entrevistado); e, ao lidar com os meus assistentes de pesquisa, não posso me esquecer de que são jovens em busca de orientação, não de sermões, muito menos de reprimendas que podem magoar e desestimular, em vez de estimular. (Uma autocrítica: algumas vezes me esqueci disso, ou me deixei guiar mais por emoções que pela razão. Lembro-me bem e com pesar de várias dessas ocasiões, e tento fazer com que a lembrança sirva de vacina.) Entretanto, ao conviver com orientandos e assistentes, tenho, via de regra, a chance de, após uma palavra inapropriada, um tom de voz desnecessariamente áspero ou uma pequena injustiça de julgamento, corrigir a falha, evitando maior prejuízo. (Felizmente, aliás, naqueles casos em que eu mesmo não me perdoei, tive a impressão de ser perdoado...) Um orientando ou um assistente, por conviver com o pesquisador que o guia por meses e anos, acaba por conhecer, em uma “escala humana”, as virtudes e as falhas deste, comumente aprendendo, por isso, a relevar os pequenos senões do quotidiano.
O aluno, em uma sala de aula, não goza, normalmente, do mesmo privilégio. Por mais que se diminua a distância entre docente e discente, e por mais que o professor tenha a consciência de recusar uma “educação bancária” (como diria Paulo Freire, aquela que apenas “deposita conteúdos” nas cabeças dos alunos) e buscar um diálogo mesmo com tudo isso não deixará de existir uma relação menos ou mais formal, em que alguém ministra conteúdos, aconselha, auxilia e... avalia. Ah, as notas! E a função de avaliador permeia, sempre, em maior ou menor grau, a relação professor-aluno. Quem assiste a uma palestra ou conferência tem a plena liberdade de se retirar do recinto, se o conteúdo ou a forma (ou ambos) não lhe agradar; pode, inclusive, sem maiores sobressaltos (embora, na prática, não seja bem assim), desafiar o expositor para um duelo intelectual. No máximo, o expositor pode discordar, até mesmo com ironia ou (lamentavelmente) com grosseria ao que o desafiante pode retrucar no mesmo diapasão, em se apresentando a oportunidade. Quanto ao leitor real ou potencial de um livro ou artigo, ele pode decidir não ler a obra, ou, já tendo lido, vociferar contra a mesma, praguejar contra o autor, jogá-la fora ou (mais produtivo) escrever um competente comentário bibliográfico, para alimentar o debate científico. Já o aluno, na sala de aula, é, em princípio, alguém que, sabendo-se destinado a uma avaliação, terá de conviver com o medo, latente ou manifesto, de não tirar uma boa nota, ou mesmo de ser reprovado. Ao menos em nossas instituições formais, o que se tem é uma relação menos ou mais vertical, menos ou mais hierárquica. Nessas circunstâncias, a margem de manobra para a “parrésia” dos antigos gregos a plena e plenamente corajosa liberdade de expressão face a face tende a ser modesta. Dependendo da “fama de mau” do professor, modestíssima.
Minha “fama”, pelo que me consta, não é de “mau”, mas, mais que propriamente ambígua, ela é ambivalente. Isso porque, por um lado, acho que sou conhecido entre os estudantes como exigente e, na opinião de alguns, de “durão” (especialmente, creio, daqueles que não sabem muito bem por que cargas d’água estão matriculados em um curso de Geografia, mesmo já tendo chegado ao último ano). Por outro lado, me permito acreditar, depois de duas décadas de magistério na UFRJ (ao que se acrescenta o ano e meio em que, durante o mestrado, lecionei na PUC-RJ, como professor auxiliar), que os alunos dedicados e sérios, por saberem que nada têm a recear e, imagino, também por desconfiarem que, a despeito do elevado grau de exigência, me esforço ao máximo para não ser injusto, comumente guardam boas lembranças do convívio comigo, inclusive no plano pessoal. Lembro-me bem de que, em algum momento no final dos anos 1990, desabafei com Roberto Lobato Corrêa, com quem na época eu dividia sala, queixando-me de que tinha chegado ao meu conhecimento que uma parte dos alunos me tinha como “muito exigente”, o que era motivo mais de temor do que propriamente de alegria por parte deles. Para mim, sempre tentando viver de acordo com os princípios que animam os meus projetos e escritos, essa imagem incomodava, pois eu desejava ser valorizado, exatamente, por ser exigente, ao mesmo tempo em que fazia de tudo para não exagerar. Recordo-me que Lobato me dirigiu mais ou menos as seguintes palavras: “quer saber de uma coisa? Essa é uma boa fama!” Partindo de quem partiu, essa observação serviu para reduzir enormemente as minhas inquietações. Porém, não as eliminou de todo: continuo, até hoje, me empenhando para que o “muito exigente” de alguns seja, em última instância, nada mais que um “exigente na justa medida”.
De toda sorte, nada nos pode servir de álibi para fugir à constante reflexão sobre a postura em sala de aula, nos quesitos comunicabilidade, didática e justiça. Não é por acaso que, com frequência, peço a monitores e estagiários em docência algum tipo de feedback, após uma aula em que não estive seguro de ser plenamente compreendido: “e então, o que você acha? Por que será que fizeram tão poucas perguntas, hoje?! A aula foi chata? Eu peguei muito pesado?” É comum, nessas horas, que meu jovem interlocutor faça críticas à sua própria geração. Independentemente de ele ter razão ou não (e deixando de lado a hipótese de simples bajulação ou falta de sinceridade), diante disso costumo insistir, pois, certamente, há sempre ou quase sempre algo que um professor possa fazer para melhorar seu desempenho. E, à medida que a diferença etária me afasta mais e mais da geração de meus alunos de graduação, esse tipo de preocupação só faz aumentar. “Será que posso usar uma ou outra gíria, ou contar uma anedota, para quebrar o gelo e facilitar a comunicação? Mas, será que essa ainda é uma gíria usada pelos jovens de hoje?”; “será que estou abusando das metáforas?”; “devo forçar um pouco mais a barra?”. Eis perguntas que, a cada semestre e quase a cada aula, me faço. Quanto a isso, aliás, houve época em que eu buscava “a” forma ideal de lecionar. Sem perceber, eu estava sendo positivista, formalista. Hoje sei que podem existir princípios e dicas, mas que, como “cada turma é uma turma”, cabe a mim ser flexível. O geral só é geral porque existe o particular, com todas as suas particularidades.
Além de tudo isso, preciso dizer que, com os meus alunos e graças a eles, fui me aprimorando, tornando-me menos rígido, ao mesmo tempo em que busco nunca virar leniente ou “bonzinho” (eu nunca respeitei professores apenas “bonzinhos”, e desconfio de que nenhum aluno, bom ou mesmo não muito bom, respeita). Mas, mais do que isso: várias vezes lucrei muito, também como pesquisador, quando alguém me fazia uma pergunta (ou uma crítica) que me obrigava a refinar um argumento, a atualizar meus dados e minhas informações, a preencher alguma lacuna, a encontrar uma forma de exposição mais persuasiva ou a ser mais claro. Sem querer ser apelativo, posso, honestamente, dizer que, com o passar dos anos, fui constatando o acerto das palavras de Sêneca, “docendo discǐmus”, “ensinando aprendemos”. Não é por acaso que, nos Agradecimentos de meus livros, várias vezes disse “obrigado” não apenas a assistentes, orientados e colegas, mas também aos alunos das turmas que tive os quais, com suas dúvidas, me despertaram novas dúvidas, ajudando a erodir algumas certezas provisórias.
Propus e vi serem aprovadas, desde os anos 1990, diversas disciplinas eletivas de graduação. Inicialmente, vieram “Planejamento urbano para geógrafos” e “Tópicos especiais em planejamento urbano”, disciplinas que costumam surpreender aqueles que esperam cursos puramente “técnicos”, e acabam topando com estímulos à reflexão sobre as potencialidades, mas também sobre o contexto econômico, político e cultural, sobre os limites, sobre as contradições e sobre os riscos de instrumentos e leis formais sem contar com o fato de que se espantam por eu inserir discussões sobre um assunto que parece estranho de ali comparecer: o papel dos movimentos sociais. Mais tarde, chegaram “Urbanização brasileira” e “Teoria da urbanização”. Contudo, durante quatorze anos ministrei uma disciplina muito abrangente, obrigatória, que apenas em limitada medida tinha a ver com os meus interesses imediatos como pesquisador: “Geografia Humana do Brasil”. Cobrindo, com um enfoque temático que sempre implicava uma seleção criteriosa, temas que iam das estruturas agrárias e da “questão agrária” ao debate sobre a “reforma urbana”, passando pela espacialidade da industrialização, a (auto[s])segregação residencial nas cidades e a dialética entre problemas sócio-espaciais e “desastres naturais”, entre outros assuntos, essa disciplina representou um certo fardo mas, acima de tudo, quase uma benção. Reforcei, graças a ela, o hábito de estabelecer conexões variadas entre os meus assuntos específicos prediletos (ou temas de pesquisa) e várias outras questões relevantes, cujas interconexões se impunham a um olhar não viciado pelos excessos da especialização. Preciso admitir que levei alguns anos até me achar à altura de uma disciplina tão ampla coisa um tanto amedrontadora quando se tem, como eu tinha ao começar a ministrá-la, pouco mais de trinta anos de idade e não muita experiência de vida. Para falar do Brasil, da “geografia” de um país, conhecimentos advindos da leitura são, para dizer o óbvio, insuficientes. Com o tempo, acho que me tornei um professor algo melhor que sofrível de “Geografia Humana do Brasil”, e terminava uma aula bem satisfeito ao ver que os exemplos, as fotos ou os mapas que obtive em campo ou dando cursos e assessorias pelo Brasil afora surtiam um efeito didático que uma descrição ou uma explicação “de segunda mão” não teriam surtido.
Ultimamente, de 2008 (quando deixei, por “fadiga específica” e temendo ficar muito repetitivo, de ministrar a “Geografia Humana do Brasil”) a esta parte, tenho acrescentado à minha experiência docente algumas disciplinas eletivas (que não foram criadas por proposta minha), no estilo “valise” ou “guarda-chuva”, em cujo âmbito trabalho, em cada semestre, com um tema central diferente: “Tópicos especiais em teoria e métodos da Geografia” e “Tópicos especiais em Geografia Política”. “Cidades, guerras e criminalidade”, “Os conceitos básicos da pesquisa sócio-espacial”, “Geografia dos movimentos sociais”, “Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial” e “A Geografia e o pensamento libertário” estão entre os assuntos que já focalizei, na qualidade de temas centrais dessas disciplinas.
Na pós-graduação (tanto no mestrado quanto no doutorado), cheguei a ministrar (como, aliás, também na graduação) a disciplina “Metodologia científica”, mas já muito cedo propus a criação de uma disciplina, “Desenvolvimento sócio-espacial”. Esta tem sido ministrada por mim anualmente, mas sempre com um tema central diferente: da análise crítica das “teorias do desenvolvimento” dos anos 1950, 1960, 1970 e 1980 ao pensamento geopolítico a respeito da urbanização (e seus pressupostos e implicações), vários são os temas que abordei desde meados da década de 1990. Um núcleo básico, no entanto, está sempre presente: a reflexão crítica sobre os processos de mudança sócio-espacial e sobre os conceitos e teorias que podem nos ajudar a compreendê-los ou elucidá-los. Ainda na pós-graduação, tenho sistematicamente colaborado, desde a década de 1990, com os Seminários de Doutorado, seja coordenando-os eu mesmo (o que já ocorreu diversas vezes), seja oferecendo alguma palestra a convite algum colega (o que também já aconteceu em várias ocasiões).
Também os cursos que ministrei no exterior (em Berlim, em Frankfurt/Oder, na Cidade do México e em Madri), sem contar as minhas experiências de interação direta com alunos de graduação e pós-graduação como conferencista no âmbito de atividades paradidáticas (em Tübingen, Londres, Edimburgo, Buenos Aires, Cidade do México, Joanesburgo e Madri, entre outros lugares), foram extremamente gratificantes. Serviram eles não somente para divulgar a ciência brasileira tentando, no caso de alguns países, colaborar para desafiar a formação eurocêntrica incutida desde cedo nos pesquisadores, mas também para aprender com o comportamento e a mentalidade dos estudantes de outros países e continentes. Não propriamente com satisfação, mas decerto que com interesse pude repetidamente constatar que, ao menos em matéria de motivação, meus alunos brasileiros não estavam atrás dos estudantes de países com uma vida universitária mais consolidada e um nível educacional formal mais elevado. No fundo, perceber (e, até certo ponto, compartilhar) as angústias de moças e rapazes de lugares e culturas tão diferentes tem sido algo que me impele ainda mais a refletir sobre o desafio generalizado que se coloca para as jovens gerações, atualmente amedrontadas, em todos os lugares, pelos fantasmas do desemprego, da precarização no mundo do trabalho, da erosão do welfare state (ou de seus arremedos, como no Brasil) e das medidas de controle sócio-espacial tomadas pelos Estados a pretexto do combate à criminalidade ordinária ou ao terrorismo.
ARRISCANDO-ME COMO “ADMINISTRADOR”
Independentemente de meus méritos e deméritos enquanto educador, abri mão de pôr a palavra “professor”, no meu caso, entre aspas. Não apenas por eu ser, formalmente, o tempo todo também professor, e não somente pesquisador; mas, igualmente, por me permitir pensar que minha atuação docente corresponde a uma de minhas vocações ou, quando menos, a uma de minhas paixões: a de transmitir conhecimento, comunicar descobertas e participar ativamente da formação dos futuros profissionais. Já o meu papel como administrador universitário, além de humilde e esporádico, provavelmente não corresponde, muito honestamente, a uma das coisas que faço na vida com maior competência. Mas há, aí, uma gradação a ser estabelecida. Se, por um lado, navegar em meio à burocracia (e lidar com as idiossincrasias dos burocratas) não está, definitivamente, entre os meus talentos, participar da formulação de políticas e diretrizes acadêmicas é uma das atividades que desempenho com mais gosto, e sobre a qual venho tentando, há bastante tempo, refletir. Não por acaso, a reforma do atual currículo do curso de bacharelado da UFRJ começou em fins dos anos 1990, quando eu era coordenador da graduação; e, no momento, após ter assumido em outubro de 2014 novamente a coordenação do curso de bacharelado (fui coordenador entre 1997 e 1998), integro e presido o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Departamento de Geografia, que tem como uma de suas missões, justamente, a discussão do currículo.
A restrição acima, portanto, não significa que eu descure a atividade administrativa. Em parte, muito pelo contrário. Os problemas e os destinos das universidades e a formulação de políticas e diretrizes (curriculares, por exemplo) são temas que sempre me interessaram e motivaram. Não é à toa que, em meados de 2010, divulguei, para um amplo público, por meio de um sítio na Internet (PassaPalavra), uma série de reflexões intitulada “Universidades: burocratização, mercantilização e mediocridade” (vide E9 e E10). Outro exemplo é que, quando fui coordenador de graduação, em fins dos anos 1990, ajudei a deflagrar um processo de reforma curricular, desafio que sempre me motivou muito, por envolver a discussão do espírito e do futuro da disciplina. (E, no momento, me encontro, novamente, em uma comissão de reforma curricular, composta pelos membros do Núcleo Docente Estruturante.) No entanto, o dia a dia da gestão universitária, em um ambiente nem sempre caracterizado por lhaneza e urbanidade, além de amiúde padecer com a ausência de critérios claros (e, às vezes, com o desinteresse justamente pelo estabelecimento de critério claros) e com o absenteísmo e a desmotivação de alguns agentes fundamentais, exige uma flexibilidade, um sangue-frio e uma capacidade de não se irritar que, confesso, ainda estou procurando conquistar mais completamente. É necessário, mas não é fácil.
Em que pese a minha dificuldade em lidar com os problemas supramencionados, não tenho, por obrigação institucional e por dever moral, me furtado a tentar cooperar também nessa seara. Sou e fui, como já mencionei, coordenador do curso de graduação em Geografia (bacharelado), e fui também, em duas ocasiões (1995 a 1996 e 2003 a 2004), vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ (sem contar a participação em comissões diversas). Espero ter acertado mais do que errado. Só posso dizer que cada nova experiência representou um aprendizado adicional, às vezes parcialmente doloroso. E percebi que, diante de circunstâncias muitas vezes bastante adversas (e quem dera que as dificuldades fossem meramente materiais...), tornar-se mais realista sem perder o entusiasmo e sem tornar-se cínico é um constante e magno desafio.
ESFORÇOS COMO ORGANIZADOR DE EVENTOS E EDITOR DE PERIÓDICOS
Tenho buscado colaborar com a organização de eventos científicos e, como se poderá depreender pelo exame de meu currículo, principalmente com a preparação de eventos temáticos (para algumas dúzias ou, no máximo, algumas poucas centenas de participantes), como o Primeiro Colóquio Território Autônomo (outubro de 2010) Os grandes eventos (muitas centenas ou alguns milhares de participantes) desempenham um papel relevante; por exemplo, na socialização acadêmica de estudantes e no início da carreira de jovens pesquisadores. Cada vez mais, porém, a massificação dos eventos, agravada pelo espírito “produtivista” (multiplicar os papers, às vezes bem repetitivos e pouco ou nada inovadores, com a finalidade de acumular pontos), exige que, se quisermos o aprofundamento de certos debates, teremos de lançar mão de eventos menores, que propiciem uma interação maior entre todos os participantes e invistam no adensamento de discussões específicas. Na verdade, eventos grandes e pequenos se complementam; não se trata de ter de optar por um ou por outro.
Em matéria de participações como editor, minhas atividades começaram, de maneira bem artesanal e rudimentar, já com os meus primeiros ensaios na época da graduação, época em que, juntamente com alguns colegas, ajudei a criar duas revistas de vida muitíssimo curta: Geografia & Crítica e Práxis. Constato, com pesar, que não me restou nem sequer um único exemplar dos poucos que chegaram a ser publicados, na primeira metade dos anos 1980. Se os menciono, aqui, é, acima de tudo, por razões sentimentais.
Minha primeira incursão “séria” no terreno da editoria de revistas científicas se deu nos anos 1990, já como professor da UFRJ. Foi em meados dos anos 1990 que, juntamente com alguns colegas vinculados ao Laboratório de gestão do Território/LAGET do Departamento de Geografia da UFRJ (inicialmente, Roberto Lobato Corrêa, Bertha Becker e Claudio Egler, aos quais se acrescentaram, mais tarde, dois outros editores, Maurício de Almeida Abreu e Gisela Aquino Pires do Rio), ajudei a criar a revista Território. Essa revista rapidamente se afirmou como uma das melhores da Geografia brasileira na década de 90, tanto pela qualidade dos textos (cuidadosamente avaliados) quanto pela qualidade de impressão e excelência estética.
A partir do início da década passada, multiplicaram-se os convites para atuar como consultor científico de diversas revistas brasileiras. Uma, em particular, muito me alegrou: em 2003 tornei-me membro do Conselho Científico da revista Cidades, seguramente um dos mais importantes periódicos no campo dos estudos urbanos no Brasil e na América Latina. Exerci essa função até 2007, quando tornei-me, aí sim, membro da Comissão Editorial da referida revista. Organizei, inclusive, dois números especiais de Cidades (vide A9 e A10).
Entre o final da década passada e o início da presente década foi a vez de, após publicar uma apreciável quantidade de artigos e capítulos de livros no exterior (em países tão diversos como Inglaterra, Alemanha, Polônia, Portugal, África do Sul, México, Venezuela e Equador), ser convidado para atuar como consultor permanente (já havia atuado como parecerista esporádico) e, depois, como editor de periódicos também no exterior, publicados em inglês. O primeiro desses convites veio em 2009, quando me tornei membro do International Advisory Board da revista City, publicada na Inglaterra pela editora Routledge, que vem se afirmando como um dos mais criativos e influentes veículos e fóruns de discussão de problemas urbanos no mundo. No ano seguinte recebi o honroso convite para tornar-me Associate Editor da mesma revista, incorporando-me a um rol que já incluía nomes como Manuel Castells e Leonie Sandercock trabalho que, para muito além da preparação de pareceres, inclui a participação na definição da própria linha editorial e do conteúdo temático da revista (temas de dossiês, alterações gráficas e de estrutura, reflexão sobre a “filosofia” e o papel do periódico, e assim segue). Desde 2011, aliás, coordeno, juntamente com Barbara Lipietz, a seção “Forum” daquela revista. Por fim, também em 2010, fui convidado para integrar o Editorial Board da revista Antipode, publicada nos Estados Unidos pela editora John Wiley & Sons (em associação, na Inglaterra, com a editora Blackwell). Muito embora o meu envolvimento quotidiano com a revista City seja bem maior, o convite para cooperar com o grupo que coordena e anima Antipode revestiu-se de um significado muito especial: afinal, trata-se de um periódico pioneiro no âmbito da Geografia crítica, com cujos artigos e debates muito aprendi desde os tempos de estudante de graduação e pós-graduação.
APRESENTANDO E COMENTANDO OS TRABALHOS DE COLEGAS
Uma das atividades para as quais fui já várias vezes convidado, e à qual não posso me furtar, consiste na difícil porém relevante tarefa de avaliar trabalhos de colegas pesquisadores. Refiro-me, aqui, não a pareceres sobre projetos de pesquisa (coisa que tenho feito regularmente, na qualidade de pesquisador do CNPq), e tampouco aos pareceres que (também regularmente) tenho dado sobre artigos enviados aos mais diferentes periódicos, no Brasil e no exterior. Refiro-me, isso sim, aos comentários que tenho sido convidado a fazer sobre livros de colegas, ora sob a forma de prefácios, ora sob a forma de comentários bibliográficos e resenhas críticas para periódicos nacionais e estrangeiros.
Dentre os prefácios, gostaria de destacar três: o texto “Um ‘olhar afrodescendente’ sobre as cidades brasileiras”, escrito para o livro Do quilombo à favela: A produção do “espaço criminalizado” no Rio de Janeiro, de meu ex-orientando de mestrado e doutorado (e hoje professor da Faculdade de Formação de Professores da UERJ) Andrelino de Oliveira Campos (F1); o texto “Mapeando (e refletindo sobre) a criminalidade violenta”, escrito para o Atlas da criminalidade no Espírito Santo, de Cláudio Luiz Zanotelli et al. (F2); e o texto “Às leitoras e aos leitores desassombrados: Sobre o livro Espaço, gênero e masculinidades plurais”, preparado para o livro Espaço, gênero e masculinidades plurais, organizado por Joseli Maria Silva, Márcio José Ornat e Alides Batista Chimin Junior (F3). Os temas são bem diferentes entre si, mas nos três casos senti-me muito honrado por poder dizer algumas palavras sobre publicações que, cada uma ao seu modo, são relevantes científica e socialmente. No caso do livro de Andrelino, trata-se de um estudo sério, derivado de sua dissertação de mestrado, a respeito da origem e evolução das favelas e de sua estigmatização, tomando como exemplo o Rio de Janeiro; o atlas coordenado pelo colega Cláudio Zanotelli, da Universidade Federal do Espírito Santo, é uma contribuição importante para a discussão do tema da (in)segurança pública e, ao mesmo tempo, um marco no envolvimento dos geógrafos de formação com esse assunto, no Brasil; finalmente, o livro organizado pela professora Joseli Maria Silva, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (PR), com a colaboração de dois colegas, é uma das várias contribuições da colega paranaense a propósito das questões de gênero através do prisma da análise sócio-espacial, a que os anglo-saxônicos costumam referir-se como “feminist geography” (tema do qual estou longe de ser um especialista, mas cuja relevância reconheço e tenho volta e meia enfatizado, razão que, aos olhos da referida colega, justificou o convite para que eu apresentasse a obra).
Quanto aos comentários bibliográficos e às resenhas, como se pode ver pelo meu c preparei já vários, no Brasil (em 1998, um comentário sobre o livro The Wealth and Poverty of Nations. Why Some are so Rich and Some so Poor, de David Landes, e em 2000 um comentário sobre o número temático da revista Plurimondi intitulado Insurgent Planning Practices, organizada por Leonie Sandercock) e no exterior (em 2010, uma análise, sob o título "The brave new (urban) world of fear and (real or presumed) wars", do livro Cities under Siege: The New Military Urbanism, de Stephen Graham, e em 2011, sob o título "The words and the things", um comentário sobre o livro Seeking Spatial Justice, de Edward Soja). Além de ser o mais recente, o que teve mais conseqüências, sob a forma de uma resposta do autor, foi o comentário bibliográfico “The words and the things”, que publiquei em 2011 na revista inglesa City (C26).
E FORA DO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO?...
Apesar das críticas e ressalvas que costumo endereçar à instituição universitária (especialmente no Brasil), por suas dificuldades em lidar com as demandas e os desafios que põem à prova a sua capacidade de resposta não raro um tanto emperrada pelas fronteiras disciplinares e pelas corporativismos, pelo burocratismo etc. devo ressalvar que não subestimo a importância que o mundo acadêmico tem e deveria ter ainda mais, como um dos poucos espaços em que é ainda possível o exercício de reflexões e pesquisas de fôlego e, geralmente, sem constrangimentos e interdições de natureza política à livre manifestação de opiniões (como ocorre em órgãos da administração estatal ou no âmbito das empresas privadas). Em tendo a academia como a minha “casa”, qualquer contribuição mais ampla que eu possa oferecer, tenho buscado sempre, acima de tudo, oferecê-la a partir da universidade, e não fora dela. Acho importante ressaltar isso, em um momento em que críticas niilistas e simplistas (às vezes um pouco ingênuas) são volta e meia dirigidas às universidades em geral, indistintamente, inclusive por pessoas ligadas a ela (fazendo cursos de graduação e pós-graduação).
No entanto, muitas vezes é imperativo sair da universidade, e é óbvio que não me refiro apenas aos trabalhos de campo. É gratificante, conveniente e mesmo necessário interagir diretamente com os agentes que, explícita ou tacitamente, endereçam demandas à universidade; no meu caso, sem desprezar por completo a colaboração eventual com administrações municipais, o Ministério Público e outras instâncias do Estado (em que, seja dito com todas as letras, aprendi coisas que não aprenderia apenas no âmbito de trabalhos de campo, e muito menos somente sentado em alguma biblioteca), tenho privilegiado a interlocução e a colaboração com organizações da sociedade civil, notadamente de movimentos sociais. Em todos esses casos, trata-se de atingir novas audiências e de conversar com não geógrafos. Para atingir novas audiências e tratar de certos assuntos, vi-me compelido a adotar novas linguagens: a linguagem da divulgação científica, a linguagem do texto de circunstância, a linguagem daquele que concede uma entrevista a um jornalista, a linguagem de quem discute com ativistas, a linguagem de quem dialoga com “operadores do Direito” (promotores etc.), e assim segue. No currículo completo que complementa este memorial pode ser encontrada uma lista de minhas atividades nesse sentido, entre palestras, consultorias e escritos. Gostaria, entretanto, neste momento, de destacar uma delas: os meus livros de divulgação científica, sobretudo o ABC do desenvolvimento urbano (A4) e Planejamento urbano e ativismos sociais (em coautoria com Glauco B. Rodrigues) (A5), bem como os textos de divulgação e de circunstância que tenho, basicamente, disseminado por meio da Internet (ver de E1 a E33). De certa maneira, aqui entram também os textos introdutórios à seção de debates entre ativistas da revista City (seção essa chamada “Fórum”), escritos em coautoria com Barbara Lipietz (vide C29, C30 e C42).
Tenho dedicado uma atenção especial à divulgação científica (a popular science dos anglo-saxônicos, a Populärwissenschaft dos alemães). A divulgação científica pode ser exercida, e bem, por jornalistas dotados de sólido embasamento científico, e temos vários exemples felizes disso. Entretanto, sempre acreditei que também cabe aos próprios pesquisadores concorrer para disseminar as suas ideias para além de um público especializado (os pares, os estudantes). Quando publiquei, em 2003, o ABC do desenvolvimento urbano, atualmente em sua quinta edição, preparei um prefácio intitulado “Por que livros de divulgação científica, nas ciências sociais, são tão raros?”. Me intrigava e incomodava que, com a principal exceção da História (ou uma ou outra coisa em outra área, como A era da incerteza, do economista J. K. Galbraith), os assuntos das ciências sociais não costumavam render livros escritos para um público leigo que fizessem um sucesso comparável ao Cosmos, do astrônomo Carl Sagan, ou Uma breve história do tempo, do físico Stephen Hawking. Quando adolescente, minha inclinação para a ciência foi despertada, precisamente, pela leitura dos livros de Sagan, de Isaac Asimov (não me refiro apenas aos de ficção científica, mas sobretudo a O universo), do físico George Gamow (que criou um simpático personagem fictício, com o qual explicava a Teoria da Relatividade para adolescentes!), do matemático Carl Boyer, do astrobiólogo Alexander Oparin, do filósofo e matemático Bertrand Russell, do astrônomo brasileiro Ronaldo Rogério de Freitas Mourão... Nas últimas duas décadas, livros de divulgação científica escritos por cientistas naturais, do biólogo britânico (nascido no Quênia) Richard Dawkins ao físico brasileiro Marcelo Gleiser, passando pelo paleontólogo estadunidense Stephen Jay Gould e o físico-químico russo (radicado na Bélgica) Ilya Prigogine, tornaram-se ainda mais populares do que jamais o foram. Em face disso, sempre me perguntei por que cargas d’água a Geografia, já com tão vasta experiência acumulada com a preparação de livros didáticos, não investia mais decididamente na produção de livros para leigos: afinal, o fascínio pela Geografia é latente entre o público em geral. (Seria o medo de parecer... banal? Um tal temor, quiçá não muito consciente, se existir, é até um pouco compreensível em uma ciência que aspira a um papel sofisticado. Compreensível, mas equivocado. Divulgar não significa trivializar, bagatelizar, hipersimplificar. A dificuldade que os leigos ainda têm de conceber a Geografia, para além de uma disciplina escolar, como uma ciência relevante, não advém do fato de ela fazer parte da experiência educacional de todos! Advém, isso sim, de sua imersão ainda insuficiente no trato autoconfiante e “integrador” de problemas e questões postos pela própria história humana e suas vicissitudes. Mas, para avançar nessa direção, os geógrafos precisarão se lamentar menos e aprender melhor a cooperar uns com os outros, nas condições desafiantes do século XXI.) O exemplo de Élisée Reclus, com a sua monumental Nouvelle Géographie Universelle (RECLUS, 1876-1894) em dezenove volumes (publicados, em fascículos, ao longo de dezoito anos) e repleta de mapas e belíssimas ilustrações, está aí para nos inspirar... Despertar o entusiasmo dos jovens pela Geografia é a forma mais direta de se cultivar as vocações autênticas e fortes das novas gerações de geógrafos. E de mostrar aos não-geógrafos o que a Geografia de fato é e pode ser.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (1): OBRAS DE OUTROS AUTORES CITADAS AO LONGO DO MEMORIAL
CASTORIADIS, Cornelius (1975): L’institution imaginaire de la société. Paris: Seuil.
---------- (1978 [1970-1973]): Science moderne et interrogation philosophique. In: Les carrefours du labyrinthe. Paris: Seuil.
---------- (1983 [1979]): Introdução: socialismo e sociedade autônoma. In: Socialismo ou barbárie. O conteúdo do socialismo. São Paulo: Brasiliense.
---------- (1985 [1973]): A questão da história do movimento operário. In: A experiência do movimento operário. São Paulo: Brasiliense.
---------- (1986): La logique des magmas et la question de l’autonomie. In: Domaines de l’homme Les carrefours du labyrinthe II. Paris: Seuil.
---------- (1990): Pouvoir, politique, autonomie. In: Le monde morcelé Les carrefours du labyrinthe III. Paris: Seuil.
---------- (1996): La démocratie comme procédure et comme régime. In: La montée de l’insignifiance Les carrefours du labyrinthe IV. Paris: Seuil.
58
DARDEL, Eric (1990 [1952]): L’homme et la terre. Nature de la réalité géographique. Paris: Editions du CTHS.
GONÇALVES, Carlos Walter Porto (1998): Nos varadouros do mundo: da territorialidade seringalista à territorialidade seringueira. Rio de Janeiro: mimeo. [Tese de doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ.]
---------- (2001): Outras Amazônias: As lutas por direitos e a emergência política de outros protagonistas. In: Amazônia, Amazônias. São Paulo: Contexto.
LACOSTE, Yves (1988): A Geografia – Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Campinas: Papirus.
LEFEBVRE, Henri (1981 [1974]): La production de l’espace. Paris: Anthropos.
MIGNOLO, Walter D. (2003 [2000]): Histórias locais/projetos globais. Colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: Editora UFMG.
NICHOLLS, Walter J. (2007): The Geographies of Social Movements. Geography Compass, 1(3), pp. 607-22 [Texto colhido na Internet em 9/5/2007: http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1749-8198.2007.00014
POULANTZAS, Nicos (1985 [1978]): O Estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro: Graal.
RECLUS, Élisée (1876-1894): Nouvelle Géographie Universelle. La Terre et les Hommes. Paris: Hachette, 19 vols. Há uma reprodução fac-similar disponibilizada na Internet pela Librairie Nationale Française (http://gallica.bnf.fr; o endereço específico varia de acordo com o tomo), mas da qual estão ausentes três volumes (4, 11 e 14). [Uma versão em inglês, publicada em Nova Iorque em 1892 por D. Appleton and Company sob o título The Earth and its Inhabitants, pode ter sua reprodução fac-similar acessada por meio do sítio dos Anarchy Archives; faltam, porém, os dois últimos dos dezenove volumes, justamente os dedicados à América do Sul. Felizmente, entretanto, os três que estão ausentes do sítio da Librairie Nationale Française se acham ali presentes.]
---------- (1905-1908): L’Homme et la Terre. Paris: Librairie Universelle, 6 vols. Reprodução fac-similar disponibilizada na Internet pela Librairie Nationale Française (http://gallica.bnf.fr; o endereço específico varia de acordo com o tomo).
59
RIBEIRO, Darcy (1987 [1978]): Os brasileiros (Livro I: Teoria do Brasil). Petrópolis: Vozes, 9.ª ed.
---------- (1995): O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras.
SANTOS, Milton (1978): Por uma Geografia nova. São Paulo: HUCITEC.
---------- O espaço dividido. Os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos. Rio de Janeiro: Francisco Alves.
SOJA, E. (1980): The Socio-Spatial Dialetic. Annals of the Association of American Geographers, 70 (2), pp. 207-225.
VALVERDE, Orlando (1979 [1958]): Apresentação da 1.ª edição. In: WAIBEL, Leo: Capítulos de Geografia Tropical e do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE.
ZAVERUCHA, Jorge (2005): FHC, Forças armadas e polícia: Entre o autoritarismo e a democracia (1999-2002). Rio de Janeiro, Record, 2005.
ZIBECHI, Raúl (1999): La mirada horizontal. Movimientos sociales y emancipación. Montevidéu: Nordan-Comunidad.
---------- (2003): Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento. Buenos Aires e Montevidéu: Letra libre e Nordan-Comunidad.
---------- (2007): Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
---------- (2008) Territorios en resistencia: Cartografia política de las periferias urbanas latinoamericanas. Buenos Aires: Lavaca.
NOTAS
1 A história é comprida, mas vou resumi-la. Atraído pela Geografia Agrária e pela Geopolítica (a ponto de eu, inclusive, buscar até mesmo mesclar conhecimentos desses dois campos, como quando de minhas incipientes reflexões de juventude sobre o papel das colônias agrícolas israelenses na estratégia defensiva do Estado de Israel), comecei, ainda durante o último ano do nível médio, em 1981, a frequentar regularmente a Biblioteca do IBGE, que funcionava por cima livraria da instituição, na Av. Franklin Roosevelt, no Centro do Rio de Janeiro. Lá trabalhava, como bibliotecário, um professor de Geografia, Sr. Nísio, o qual, em dada altura, depois de alguns meses, em face do talvez curioso interesse de um adolescente por aqueles temas (como logo lhe ficou claro, eu não estava indo até lá apenas por força de algum trabalho do colégio, mas sim para passar horas e horas me deliciando com livros de Geografia e outros assuntos, assim como também já fazia, desde alguns anos, na Biblioteca Nacional e na do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), me deu uma dica: o livro Capítulos de Geografia Tropical e do Brasil, de Leo Waibel. Devorei o livro, e fiquei tão tocado pelo prefácio de Orlando Valverde que, daí, para ler o primeiro volume (o único que chegou a ser publicado, por conta do golpe de 1964) do Geografia Agrária do Brasil, do próprio Orlando, além de outros textos dele, foi um pulo. Diante do meu interesse pelo autor, o amável Prof. Nísio me sugeriu que, com sorte, acabaria encontrando com o próprio Orlando por ali, já que ele costumava ir até a biblioteca. Infelizmente, meses se passaram, mas a feliz coincidência não se deu. Impaciente, o adolescente de dezessete anos fez, ao menos dessa vez, um uso construtivo da impetuosidade típica da idade: buscou o endereço no catálogo telefônico e escreveu uma cartinha para o grande geógrafo, expondo-lhe dúvidas e opiniões sobre assuntos diversos, como as distinções entre “Geografia Agrícola”, “Geografia Agrária” e “Geografia Rural”. E não é que Orlando, mesmo ocupadíssimo, respondeu à carta de um secundarista? Mandou-me uma detalhada resposta e, ainda por cima, anexou separatas de trabalhos seus, além de um livro. E ainda deixou uma portinha aberta, para caso eu desejasse voltar a fazer contato. E, obviamente fiz. A partir daí, e até o seu falecimento, em 2006, foi ele, para mim, a principal referência, se não teórica ou temática (como ele dizia, com seu jeito maroto: “você se bandeou para a Geografia Urbana...”), seguramente ética.
2 Uma dessas outras dívidas é para com alguém que, apesar de não ter influenciado diretamente as minhas opções profissionais (temáticas, teóricas ou metodológicas), desempenhou um papel que não poderia ser minimizado por mim, sob pena de incorrer em flagrante ingratidão. Trata-se do geógrafo Jorge Xavier da Silva, de quem fui assistente de pesquisa durante vários anos na UFRJ. Apesar das nossas diferenças de temperamento e inclinações profissionais, além de umas tantas discordâncias a propósito de questões referentes à Geografia, com Jorge Xavier aprendi muita coisa útil, da minha iniciação ao geoprocessamento a certos conteúdos próprios à pesquisa ambiental; talvez não a ponto de lidar com elas com o entusiasmo que ele teria desejado, mas, de todo modo, eu creio que sempre soube valorizar esses conhecimentos, ainda que à minha própria maneira. Para além disso, algumas de nossas polêmicas ou debates acalorados deram ensejo a algumas das conversas mais estimulantes que tive em minha fase de formação: por exemplo, sobre a presença e os efeitos da tecnologia na sociedade contemporânea e o papel do geógrafo quanto a isso. Confesso sentir uma grande saudade desses papos, mas, com o tempo, fui aprendendo que, a propósito das boas lembranças, o mais gostoso é deixá-las ser o que são: lembranças. E uma lembrança das mais essenciais é aquela referente ao apoio que ele várias vezes me deu, sendo que sem um deles, em um momento decisivo, eu provavelmente teria de ter adiado o meu doutorado. Por fim, mas não com menos ênfase, preciso ressaltar que Xavier esteve por perto em alguns dos momentos mais importantes da minha vida, fossem os inesquecivelmente bons (como o almoço com Paulo Freire, na casa deste, em São Paulo, em 1987), fossem os inesquecivelmente ruins (como a perda da minha mãe, em 1995) sendo que, com relação a estes últimos, ele esteve sempre entre os primeiros a oferecer um ombro amigo e palavras de conforto. Hoje em dia, e cada vez mais, percebo o quanto essa dimensão humana transcende qualquer outra coisa.
3 Eis que surge, então, quase inevitavelmente, a dilacerante questão: Geografia ou “Geografias”? Será legítimo falar da Geografia como uma ciência social, apenas? Ou será ela, como sempre insistiram os clássicos, uma “ciência de síntese”, “de contato”, na “charneira” das ciências naturais e humanas, sendo ambas estas coisas ao mesmo tempo? As ideias da “síntese” e da “ciência do concreto”, no sentido tradicional (tal como com quase arrogância e uma certa quase ingenuidade professadas, por exemplo, por Jean Brunhes, que implicitamente colocava a Geografia em um patamar diferente das disciplinas “abstratas”), se acham, há muito, bastante desacreditadas. Outras ciências também praticam sínteses, não apenas análise; e não há ciência que repudie, impunemente, o exercício da construção teórica, fazendo de uma (pseudo)concretude empirista profissão de fé. Em nossa época, com tantas necessidades de aprofundamento, a resposta dos clássicos, muito inspiradora decerto, mas um tanto datada, não mais satisfaz. Entretanto, não teria o legado que compreende o longo arco que vai de um Ritter ou um Reclus, em meados ou na segunda metade do século XIX, até um Orlando Valverde, na segunda metade do século XX, sido amplamente renegado em favor de uma compreensão da Geografia (por parte dos geógrafos humanos pós-radical turn) um pouco exclusivista, ainda que largamente correta e fecunda? Não pretendo “resolver” esse problema secular da “identidade da Geografia”, mas vou propor, aqui, duas analogias, que talvez soem estranhas. Milton Santos, com a sua teoria dos “dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos” (SANTOS, 1979), logrou superar as interpretações dualistas, no estilo “setor moderno”/“setor tradicional”, por meio de uma visão dialética da bipolarização entre dois “circuitos” (“inferior” e “superior”) que, apesar de distintos e volta e meia atritarem entre si, são, sem embargo, em última instância interdependentes. Me arrisco a pensar que seria produtivo ver a Geografia de modo semelhante: em vez de tratá-la dicotômica e dualisticamente (como se fosse realmente razoável “descolar” sociedade e natureza uma da outra, ou como se não se achassem dinâmica, processual e historicamente entrelaçadas de modo complexo), e também em vez de apenas decretar que a Geografia é “social” e que a Geografia Física é uma ilusão ou um anacronismo, não seria uma questão de sensatez, mais até do que se simples “tolerância”, reconhecer que a Geografia é, diferentemente da Sociologia, da Ciência Política ou da História, mas também da Física, da Astronomia ou da Química, epistemologicamente bipolarizada? Dois “polos epistemológicos” se abrigam no interior desse complexo, vasto e heterogêneo campo denominado Geografia: o “polo” do conhecimento sobre a natureza e o “polo” do conhecimento sobre a sociedade. Há geógrafos que fazem sua opção preferencial (identitária) pelo primeiro, o que terá consequências em matéria de formação e treinamento teórico, conceitual e metodológico; e há geógrafos que fazem sua opção preferencial (identitária) pelo segundo, o que também terá consequências em matéria de formação e treinamento teórico, conceitual e metodológico. E ambas as opções são legítimas, assim como legítimo e saudável será aceitar que as especificidades metodológicas, teóricas e conceituais exigem que, para que se possa falar em cooperação (ou, no mínimo, em respeito mútuo), os dois tipos de geógrafos uns, identitariamente herdeiros por excelência da tradição dos grandes geógrafos-naturalistas, e os outros basicamente identificados com a tradição de um estudo da construção do espaço geográfico como “morada do homem”, desembocando mais tarde na análise da produção do espaço pela sociedade possuem interesses e, por isso, treinamentos e olhares diferentes. Em havendo essa compreensão, base de uma convivência produtiva, pode-se chegar, e é desejável que se chegue, ao desenho de problemas (de pesquisa) e à construção de objetos de conhecimento (específicos) que promovam, sem subordinações e sem artificialismo, cooperação e diálogo. Que promovam, pode-se dizer, a unidade na diversidade, sem o sacrifício nem da primeira nem da segunda. Gerar-se-iam, com isso, sinergias extraordinárias, atualizando-se e modernizando-se, sobre os fundamentos de um esforço coletivo, o projeto intelectual de um Élisée Reclus (RECLUS, 1905-1908), e que era o espírito da Geografia clássica (século XIX e primeira metade do século XX) em geral. Para “integrarmos” esforços dessa forma não basta, entretanto, imaginarmos, abstratamente, que o “espaço” ou o “raciocínio espacial”, por si só, já uniria, pois a própria maneira como o “espaço” é construído como objeto há de ser diferente, daí derivando conceitos-chave preferenciais bem diferentes: em um caso, bioma, (geo)ecossistema, nicho ecológico, habitat (natural)... Em outro, território (como espaço político), “lugar” (espaço percebido/vivido), identidades sócio-espaciais, práticas espaciais... Partindo para a minha segunda analogia, poder-se-ia, à luz disso, dizer que a Geografia seria uma “confederação”, devendo abdicar da pretensa homogeneidade ideologicamente postulada pelos ideólogos de um “Estado-nação”. A Geografia é irremediavelmente e estonteantemente plural. Na medida em que os geógrafos “físicos” admitam que a própria ideia de “natureza” é histórica e culturalmente construída e que a “natureza” que lhes interessa não deveria, em diversos níveis, ser entendida em um sentido “laboratorial” e “desumanizado” (no máximo recorrendo a conceitos-obstáculo como “fator antrópico”), e na medida em que os geógrafos “humanos” reconheçam que os conceitos, raciocínios e resultados empíricos da pesquisa ambiental (em sentido estrito) pode lhes muito útil (articulando esses conhecimentos, sejam sobre ilhas de calor, poluição ou riscos de desmoronamentos/deslizamentos, aos seus estudos sobre segregação residencial ou problemas agrários), então deixar-se-á para trás o desconhecimento recíproco para se ingressar em um ciclo virtuoso. Se esse é o cenário mais provável? Tenho, infelizmente, muitas dúvidas.
4 Desenvolvida por uma variedade de autores, com diferenças às vezes sutis em matéria de enfoque, a “Teoria da Regulação” não é um corpo teórico uniforme e inteiriço. Corresponde, muito mais, àquilo que os alemães chamam de Theorieansatz (livremente traduzível como “esboço teórico”), uma construção teórica aberta, aproximativa e heterogênea, típica do universo das ciências sociais e humanas (e diferente dos padrões de “teoria” preconizados pelas ciências naturais).
5 No caso das ciências da natureza, as coisas se passam de modo parcialmente análogo, mas parcialmente bastante diverso. Em primeiro lugar, porque as construções teóricas mais universais (mecânica newtoniana, Teoria da Evolução darwiniana, Teoria da Relatividade etc.) podem até, muitas vezes, acarretar consequências filosóficas e deflagrar debates éticos (o que é muito bem exemplificado pelas querelas que acompanham o darwinismo), mas o peso dos valores, das visões de mundo e dos condicionamentos ideológicos que se amalgamam com as escolhas e se associam intestinamente às argumentações dos pesquisadores não é, de modo algum, comparável ao que se tem nos estudos sobre a sociedade. Em segundo lugar, porque as exigências para que algo seja considerado uma “teoria” costumam ser bem mais rígidas nas ciências naturais, particularmente naquelas mais abstratas, como a Física: uma teoria física deve, por exemplo, possuir grande poder preditivo, sendo capaz de abrir caminho para descobertas empíricas a partir de uma base muito abstrata (como a inferência sobre a existência de um novo planeta apenas pela consideração de peculiaridades nas órbitas de astros próximos, sobre os fundamentos da teoria da gravitação); ao mesmo tempo, o elevado nível de abstração implica que, não raro, uma construção matemática preceda de muitos anos as observações empíricas e os experimentos que possam validá-la em caráter definitivo (como aconteceu, inclusive, com a própria Teoria da Relatividade). No estudo da sociedade, em que o próprio objeto impõe a consideração muito mais séria da contingência e da criação inesperada de novas qualidades, predições tendem a ser muito mais flexíveis e modestas (pautadas em uma criação robusta de cenários tendenciais), caso não se queira correr o risco de sofrer a acusação de ser uma “profecia” ideologicamente embalada. Além das óbvias diferenças na relação sujeito/objeto, no estudo da sociedade praticamente nunca se pode recorrer a experimentos controlados, em contraste com aquilo que é corriqueiro nas ciências da natureza. De todas essas diferenças epistemológicas decorrem diferenças de ordem não apenas teórica (grau de formalização possível ou desejável das teorias), mas também metodológicas.
6 O leitor encontrará, ao final deste memorial, a relação dos meus trabalhos aqui citados, precedidos por uma bibliografia referente às obras dos outros autores que menciono. No caso dos outros autores, empreguei o padrão usual de referenciação bibliográfica, reservando para os meus trabalhos essa forma codificada (“A1”, “B3” etc.), em que o material aparece classificado de acordo com a sua natureza (livro [A], capítulo de livro [B], artigo em periódico [C], trabalho publicado na íntegra em anais de congressos [D] e artigo de divulgação científica [E]).
7 Apesar de terem produzido uma razoável quantidade de estudos empíricos sobre o tema desde os anos 80, os geógrafos de formação têm tido, no terreno da teoria acerca da dimensão espacial dos ativismos e movimentos, uma atuação modesta, o que tem dificultado a percepção de sua produção por parte dos outros cientistas sociais. Isso é, ainda por cima, agravado por certos fatores, como o fato de que, na Geografia Urbana, o interesse pelo assunto tem sido bastante irregular, tendo até mesmo declinado nos anos 90, para ressurgir timidamente na década seguinte (consulte-se, sobre isso, B14). (Interessantemente, no âmbito dos estudos rurais e na interface destes com a reflexão ecológica vários trabalhos dignos de nota têm sido elaborados e publicados no Brasil, com destaque, por sua criatividade, para os estudos de GONÇALVES [1998 e 2001].) Seja lá como for, as lacunas já vêm sendo tematizadas e problematizadas, como, por exemplo, por NICHOLLS (2007).
8 Apesar disso, tomei conhecimento, anos depois, de que um Personagem Influente, insatisfeito com as críticas que eu lhe havia endereçado, externara veemente protesto contra a publicação do trabalho, já que algumas ressalvas a propósito de aspectos de sua obra haviam sido feitas por mim. Felizmente para mim (e espero, que, também, ao menos para alguns leitores), os responsáveis pela revista souberam preservar a dignidade da mesma e rechaçar, diplomaticamente, a objeção, utilizando um argumento singelo: se o texto possuía qualidade acadêmica, então a resposta deveria ser acadêmica; que se permitisse e saudasse um debate público, em vez de interditá-lo, ao se vetar um trabalho cuja publicação havia sido aprovada. Entretanto, jamais houve uma réplica, um único comentário sequer − talvez para não atribuir demasiada importância ao trabalho de um novato petulante.
9 E a ele devo, ainda, mais uma coisa, no âmbito profissional: o gosto pela Cartografia Temática e, sobre essa base, o melhor domínio da linguagem cartográfica.
10 É o caso, em especial, de Edward P. Thompson, Henri Lefebvre, Nicos Poulantzas, Anton Pannekoek, Herbert Marcuse e Raymond Williams, com os quais nunca deixei de dialogar em meus trabalhos.
11 No que concerne ao desenvolvimento sócio-espacial, venho propondo, há muitos anos, o seguinte encadeamento de parâmetros: 1) parâmetro subordinador (escolha de natureza, evidentemente, basicamente metateórica): a própria autonomia, com as duas faces interdependentes da autonomia individual (grau de efetiva liberdade individual) e da autonomia coletiva (grau de autogoverno e de autodeterminação coletiva, na ausência de assimetrias de poder estruturais, e também com os dois níveis distintos da autonomia no plano interno (ausência de opressão no interior de uma dada sociedade) e no plano externo (autodeterminação de uma dada sociedade em face de outras); 2) parâmetros subordinados gerais: justiça social (questões da simetria, da equidade e da igualdade efetiva de oportunidades) e qualidade de vida (referente aos níveis histórica e culturalmente variáveis de satisfação de necessidades materiais e imateriais); 3) parâmetros subordinados particulares: derivados dos gerais, enquanto especificação deles, correspondem aos aspectos concretos (cuja escolha e seleção dependerá da construção de um objeto específico e das circunstâncias em que se der a análise ou julgamento) a serem levados em conta nas análises, tais como (apenas para exemplificar) o nível de segregação residencial, o grau de acessibilidade (acesso socialmente efetivo a recursos espaciais/ambientais) e a consistência participativa de um determinado canal ou instância institucional vinculada ao planejamento ou gestão sócio-espacial. Aproveitando o gancho, a tarefa de construção de indicadores é importante complemento dos esforços de seleção e integração de parâmetros; sobre isso, tenho buscado contribuir, por exemplo, precisamente no que se refere à construção de indicadores de consistência participativa (e, mais recentemente, colaborando para se pensar em indicadores de “horizontalidade”/“verticalidade” de organizações de movimentos sociais, levando-se em conta a dimensão espacial).
12 Falar em “desenvolvimento” (e em “subdesenvolvimento”), aliás, só faz sentido no contexto da ocidentalização que veio na esteira da multissecular expansão do capitalismo, dos séculos XV e XVI à atual globalização: as civilizações pré-colombianas, o Egito dos faraós, a Atenas de Péricles ou o Japão feudal não eram, evidentemente, “subdesenvolvidos”, nem tampouco “desenvolvidos” (“subdesenvolvidos” ou “desenvolvidos” em relação a quê?...). Essas categorias, simplesmente, tornam-se inteiramente desprovidas de toda e qualquer razoabilidade fora do contexto histórico da emergência e da expansão do moderno capitalismo.
13 Em A6 e, já antes disso, em B1, B5, C8 e C10, eu havia discorrido sobre a maneira como o espaço geográfico é tratado (quando é!) nas teorias sobre o desenvolvimento, da teorização mais clássicas sobre o desenvolvimento econômico (de Schumpeter a Rostow e a Hirschman) ao “desenvolvimento sustentável” dos anos 90 em diante, passando pelos enfoques da “redistribuição com crescimento”, da “satisfação de necessidades básicas”, da “dependência” (e do “sistema mundial capitalista” de I. Wallerstein), do “development from below”, do “desenvolvimento endógeno”, do “ecodesenvolvimento” e do “etnodesenvolvimento”. Também tive a oportunidade de considerar o que chamo de críticas “niilistas”, no estilo de um S. Latouche ou de um G. Esteva. Faz-se necessário salientar que, de modo algum, pretendo ou pretendi sugerir que aportes sumamente fecundos ou, pelo menos, interessantes sobre o espaço não tenham sido carreados por, pelo menos, algumas dessas vertentes. Das contribuições perrouxianas a propósitos da regionalização e do “polos de crescimento” à valorização operada por I. Sachs a propósito do ambiente natural (para além do economicismo mais estreito), passando pelos elementos inspiradores que podem ser encontrados nos trabalhos de um Wallerstein, bastante coisa foi e tem sido importante para mim mesmo. O grande problema é que, como expus no corpo do texto, a valorização do espaço, quando existe, é, ao menos aos olhos de um geógrafo, tímida e parcial. E a isso se deve acrescentar que, na minha avaliação, uma valorização realmente holística e plena da dimensão espacial não exige apenas uma formação profissional propiciadora das bases epistemológicas e teórico-conceituais para uma tal valorização, mas igualmente uma disposição filosófica para evitar a tentação de determinar de modo muito amarrado o que seja o conteúdo concreto da “mudança para melhor” (= desenvolvimento). Uma significativa abertura, nesse estilo, é, aliás, o que pode permitir que, para além dos próprios conceitos científicos usuais (espaço e seus derivados: território, “lugar”, paisagem, região...), termos nativos (“pedaço”, “cena” e outros tantos) possam ser peças-chave da análise, em meio a uma consideração séria das vivências espaciais e cosmovisões particulares de cada grupo ou cultura).
14 Não quero sugerir, com isso, de maneira nenhuma, que o problema é desconhecido no campo. De modo algum, e já há, inclusive alguma literatura a respeito. Não obstante, o fato é que ele não possui a mesma visibilidade e a mesma repercussão midiática que nas grandes cidades
15 Esses espaços oferecem-lhes vantagens tais como: 1) sua localização, muitas vezes próxima de bairros de classe média ou, em todo caso, acessível aos consumidores; 2) sua estrutura interna (malha viária labiríntica), em alguns casos também sua topografia (favelas localizadas em encostas), que são dois trunfos que facilitam a defesa do território; 3) o “escudo humano” e a abundância de mão-de-obra barata (e que pode ser facilmente reposta) proporcionados pelas pessoas ali residentes. Em face disso, a territorialidade dos militantes e a territorialidade dos criminosos vão, quase inevitavelmente, atritar entre si. Sobre essas questões, investigadas por mim no contexto de projetos coordenados nos anos 90, discorri em vários trabalhos e livros, entre eles n’O desafio metropolitano e no recente Fobópole (ver, também, B2, B4, B6, B7, B8, B9, C4, C5, C6, C7, C17 e C21). É fácil verificar que todos esses aspectos, além de outros tantos evidenciam a importância da consideração da espacialidade para se compreender os processos em curso e os desafios e dilemas deles derivados.
16 O artigo original é Together with the state, despite the state, against the state: Social movements as ‘critical urban planning’ agents". City, 10(3), pp. 327-342. (C18)
17 Sem embargo, trata-se mais de renovação (ampliada) de um antigo interesse que, propriamente, de um interesse completamente novo da minha parte. Com efeito, um texto de divulgação como o artigo “O lugar das pessoas nas agendas ‘verde’, ‘marrom’ e ‘azul’: Sobre a dimensão geopolítica da política ambiental urbana”, enviado para publicação no sítio Passa Palavra e que deve sair em breve, representa, no fundo, a retomada de um esforço que já havia sido exemplificado, entre outros trabalhos, pelo capítulo “Dos problemas sócio-espaciais à degradação ambiental e de volta aos primeiros”, de meu livro O desafio metropolitano (A2).
18 Estão incluídos somente os trabalhos que foram mencionados no texto. Não se trata de uma lista exaustiva de minhas publicações. Alguns livros e vários outros trabalhos deixaram de ser incluídos, mas constam do currículo completo que se segue a este memorial.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (2): OBRAS DO PRESENTE AUTOR MENCIONADAS AO LONGO DO MEMORIAL (18)
A. LIVROS (INCLUI A ORGANIZAÇÃO DE LIVROS E DE NÚMEROS ESPECIAIS DE PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS)
(A1) Armut, sozialräumliche segregation und sozialer Konflikt in der Metropolitanregion von Rio de Janeiro. Ein Beitrag zur Analyse der “Stadtfrage” in Brasilien (Pobreza, segregação sócio-espacial e conflito social na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Uma contribuição para a análise da “questão urbana” no Brasil). Tese de Doutorado publicada pelo Selbstverlag des Geographischen Instituts (Editora do Instituto de Geografia) da Universidade de Tübingen, Alemanha (= série Tübinger Geographische Studien, n.° 111), 1993.
(A2) O desafio metropolitano. A problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiras. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2000 (2.ª ed.: 2005; 3.ª ed.: 2010; 4.ª ed.: 2012).
(A3) Mudar a cidade. Uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, (2.ª ed.: 2003; 3.ª ed.: 2004; 4.ª ed.: 2006; 5.ª ed.: 2008; 6.ª ed.: 2010; 7.ª ed.: 2010; 8.ª ed.: 2011; 9.ª ed.: 2013).
(A4) ABC do desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2003 (2.ª ed.: 2005; 3.ª ed.: 2007; 4.ª ed.: 2008; 5.ª ed.: 2010; 6.ª ed.: 2011; 7.ª ed.: 2013).
(A5) Planejamento urbano e ativismos sociais (em coautoria com Glauco B. Rodrigues). São Paulo, Editora UNESP, 2004 (2.ª ed.: 2013).
(A6) A prisão e a ágora. Reflexões sobre a democratização do planejamento e da gestão das cidades. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2006.
(A7) Fobópole. O medo generalizado e a militarização da questão urbana. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2008.
(A8) A produção do espaço urbano. Agentes e processos, escalas e desafios (livro organizado juntamente com Ana Fani Alessandri Carlos e Maria Encarnação Beltrão Sposito). São Paulo: Contexto, 2011. [ segundo organizador; ordem alfabética]
(A9) Ativismos sociais e espaço urbano, número temático da revista Cidades (vol. 6, n. 9), 2009. [ organizador]
(A10) O pensamento e a práxis libertários e a cidade, número temático da revista Cidades (vol. 9, n. 15), 2012. [organizador]
(A11) Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.
B. CAPÍTULOS DE LIVROS
(B1) O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In: CASTRO, Iná E. et al. (orgs.): Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1995.
(B2) O tráfico de drogas e a “questão urbana” no Brasil. A dinâmica sócio-espacial nas cidades brasileiras sob a influência do tráfico de tóxicos. In: CASTRO, Iná E. et al. (orgs.): Brasil: questões atuais da reorganização do território. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1996.
(B3) Modernização tecnológica, “ordem” e “desordem” nas metrópoles brasileiras. Os desafios e suas escalas. In: CZERNY, M. & KOHLHEPP, G. (orgs.): Reestructuración económica y consecuencias regionales en América Latina. Tübingen, Selbstverlag des Geographischen Instituts (Editora do Instituto de Geografia) da Universidade de Tübingen: Alemanha (= série Tübinger Geographische Studien, n.° 117), 1996.
(B4) Exclusão social, fragmentação do tecido sociopolítico-espacial da cidade e “ingovernabilidade urbana”. Ensaio a propósito do desafio de um “desenvolvimento sustentável” nas cidades brasileiras. In: SILVA, José Borzacchiello et al. (orgs.): A cidade e o urbano Temas para debates. Fortaleza, Edições UFC, 1997.
(B5) A expulsão do paraíso. O “paradigma da complexidade” e o desenvolvimento sócio-espacial. In: CASTRO, Iná E. et al. (orgs.): Explorações geográficas. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1997.
(B6) A “ingovernabilidade” do Rio de Janeiro – algumas páginas sobre conceitos, fatos e preconceitos". In: CASTRO, Iná E. et al. (orgs.): Redescobrindo o Brasil: 500 anos depois. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1999.
(B7) Revisitando a crítica ao “mito da marginalidade”. A população favelada do Rio de Janeiro em face do tráfico de drogas. In: ACSELRAD, Gilberta (org.): Avessos do prazer. Drogas, AIDS e direitos humanos. Rio de Janeiro, Editora da Fundação Oswaldo Cruz, 2000.
(B8) “Involução metropolitana” e “desmetropolização”: sobre a urbanização brasileira nas décadas de 80 e 90. In: KOHLHEPP, Gerd (org.): Brasil: modernização e globalização. Madri e Frankfurt, Bibliotheca Iberoamericana e Vervuert, 2001.
(B9) Da “fragmentação do tecido sociopolítico-espacial” da metrópole à “desmetropolização relativa”: algumas facetas da urbanização brasileira nas décadas de 80 e 90. In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (org.): Urbanização e cidades: perspectivas geográficas. Presidente Prudente, GAsPERR/UNESP, 2001.
(B10) Território do Outro, problemática do Mesmo? O princípio da autonomia e a superação da dicotomia universalismo ético versus relativismo cultural. In: ROSENDAHL, Zeny e CORRÊA, Roberto Lobato (orgs.): Religião, identidade e território. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2001.
(B11) Alternative urban planning and management in Brazil: Instructive examples for other countries in the South?. In: HARRISON, Philip et al. (orgs.): Confronting Fragmentation. Housing and Urban Development in a Democratising Society. Cidade do Cabo, University of Cape Town Press, 2003.
(B12) Problemas da regularização fundiária em favelas territorializadas por traficantes de drogas. In: ALFONSIN, Betânia e FERNANDES, Edésio (orgs.): Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade. Belo Horizonte, Editora Fórum, 2004.
(B13) Sozialräumliche Dynamik in brasilianischen Städten unter dem Einfluss des Drogenhandels. Anmerkungen zum Fall Rio de Janeiro [Dinâmica sócio-espacial nas cidades brasileiras sob a influência do tráfico de drogas: Notas sobre o caso do Rio de Janeiro]. In: LANZ, Stephan (org.): City of COOP. Ersatzökonomien und städtische Bewegungen in Rio de Janeiro und Buenos Aires. Berlim, b-books Verlag, 2004.
(B14) Ativismos sociais e espaço urbano: um panorama conciso da produção intelectual brasileira. In: OLIVEIRA, Márcio Piñon de et al. (orgs.): O Brasil, a América Latina e o mundo: espacialidades contemporâneas (II). Rio de Janeiro, Lamparina, ANPEGE, CLACSO e FAPERJ, 2008.
(B15) “Território” da divergência (e da confusão): Em torno das imprecisas fronteiras de um conceito fundamental. In: SAQUET, Marcos Aurélio e SPOSITO, Eliseu Savério (orgs.): Territórios e territorialidades: Teorias, processos e conflitos. São Paulo e Presidente Prudente, Expressão Popular e Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNESP/Presidente Prudente, 2009.
(B16) Práticas espaciais insurgentes em um mundo globalizado: Da “revolução molecular” à política de escalas. In: MENDONÇA, Francisco et al. (orgs.): Espaço e tempo: Complexidade e desafios do pensar e do fazer geográfico. Curitiba, ADEMADAN, 2009.
(B17) A cidade, a palavra e o poder: Práticas, imaginários e discursos heterônomos e autônomos na produção do espaço urbano. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri et al. (orgs.): A produção do espaço urbano. Agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2011.
(B18) As cidades brasileiras e os movimentos sociais no início do século XXI: sete questões para provocar o debate. In: PEREIRA, Élson Manoel e DIAS, Leila Christina Duarte (orgs.): As cidades e a urbanização no Brasil. Passado, presente e futuro. Florianópolis: Insular, 2011.
(B19) Autogestión, ‘autoplaneación’, autonomia: Actualidad y dificultades de las prácticas espaciales libertarias de los movimientos urbanos. In: ARAGÓN, Georgina Calderón e HERNÁNDEZ, Efraín León (orgs.): Descubriendo La espacialidad social desde América Latina: Reflexiones desde La geografía sobre el campo, la ciudad y el medio ambiente (= Cómo pensar la geografía, n.° 3). Cidade do México: Itaca, 2011.
(B20) Soziale Bewegungen in Brasilien im urbanen und ländlichen Kontext: Potenziale, Grenzen und Paradoxe. In: de la FONTAINE, Dana e STEHNKEN, Thomas (orgs.): Das politische System Brasiliens. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften (VS Verlag), 2012.
(B21) Challenging Heteronomous Power in a Globalized World: Insurgent Spatial Practices, ‘Militant Particularism’, and Multiscalarity. In: KRÄTKE, Stefan et al. (orgs.): Transnationalism and Urbanism. Nova Iorque e Londres: Routledge, 2012.
(B22) A geopolítica urbana da ‘guerra à criminalidade’: A militarização da questão urbana e suas várias possíveis implicações. In: RIBEIRO, Ana Clara Torres et al. (orgs.): Política governamental e ação social no espaço. Rio de Janeiro: ANPUR e Letra Capital, 2012.
(B23) Semântica urbana e segregação: Disputa simbólica e embates políticos na cidade ‘empresarialista’. In: VASCONCELOS, Pedro de Almeida et al. (orgs.): A cidade contemporânea: Segregação espacial. São Paulo: Contexto, 2013.
(B24) Panem et circenses versus o direito ao Centro da cidade no Rio de Janeiro. In: FERNANDES, José Alberto V. Rio e SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (orgs.): A nova vida do velho centro nas cidades portuguesas e brasileiras. Porto: Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) da Universidade do Porto, 2013.
(B25) Phobopolis. Städtische Angst und die Militarisierung des Urbanen. In: HUFFSCHMID, Anne e WILDNER, Kathrin (orgs.): Stadtforschung aus Lateinamerika. Neue urbane Szenarien:Öffentlichkeit. Territorialität. Imaginarios. Bielefeld: transcript, 2013.
(B26) Phobopolis: Violence, Fear and Sociopolitical Fragmentation of the Space in Rio de Janeiro, Brazil. In: KRAAS, Frauke et al. (orgs.): Megacities. Our Global Urban Future. Dordrecht e outros lugares: Springer.
(B27) Ensemble avec l’État, malgré l’État, contre l’État. Les mouvements sociaux, agents d’un urbanisme critique. In: GINTRAC, Cécile e GIROUD, Matthieu (orgs.): Villes contestées. Pour une géographie critique de l’urbain. Paris : Les Prairies Ordinaires.
C. ARTIGOS EM PERIÓDICOS (INCLUI COMENTÁRIOS BIBLIOGRÁFICOS)
(C1) “Espaciologia”: uma objeção (Crítica aos prestigiamentos pseudocríticos do espaço social). Terra Livre, n.° 5, 1988. São Paulo e Rio de Janeiro, AGB/Marco Zero, pp. 21-45.
(C2) O bairro contemporâneo: ensaio de abordagem política. Revista Brasileira de Geografia, 51(2), 1989. Rio de Janeiro, pp. 139-172.
(C3) Reflexão sobre as limitações e potencialidades de uma reforma urbana no Brasil atual. Actas Latinoamericanas de Varsovia, tomo 15, 1993. Varsóvia, pp. 207-228.
(C4) O narcotráfico no Rio de Janeiro, sua territorialidade e a dialética entre “ordem” e “desordem”. Cadernos de Geociências, n.° 13, 1995. Rio de Janeiro, IBGE, pp. 161-171.
(C5) Die fragmentierte Metropole. Der Drogenhandel und seine Territorialität in Rio de Janeiro. Geographische Zeitschrift, vol. 83, números 3/4, 1995. Stuttgart, pp. 238-249.
(C6) Efectos negativos del tráfico de drogas en el desarrollo socio-espacial de Rio de Janeiro. Revista Interamericana de Planificación, volume XXVIII, n.° 112, 1995. Cuenca (Equador), SIAP, pp. 142-159.
(C7) O tráfico de drogas no Rio de Janeiro e seus efeitos negativos sobre o desenvolvimento sócio-espacial. Cadernos IPPUR/UFRJ, ano VIII, números 2/3, 1994 [publicado em 1996]. Rio de Janeiro, pp. 25-39.
(C8) A teorização sobre o desenvolvimento em uma época de fadiga teórica, ou: sobre a necessidade de uma ‘teoria aberta’ do desenvolvimento sócio-espacial. Território, ano 1, n. 1, jul./dez. 1996. Rio de Janeiro, pp. 5-22.
(C9) Urbanização e desenvolvimento. Rediscutindo o urbano e a urbanização como fatores e símbolos de desenvolvimento à luz da experiência brasileira recente. Revista Brasileira de Geografia, 56(1/4), jan./dez. 1994 (publicado em 1997). Rio de Janeiro, pp. 255-291.
(C10) Algumas notas sobre a importância do espaço para o desenvolvimento social. Território, ano II, n. 3, jul./dez. 1997. Rio de Janeiro, pp. 13-35.
(C11) Desenvolvimento urbano: a problemática renovação de um “conceito”-problema. Território, ano III, n. 5, jul./dez., 1998. Rio de Janeiro, pp. 5-29.
(C12) Urban development on the basis of autonomy: a politico-philosophical and ethical framework for urban planning and management. Ethics, Place and Environment, vol. 3, No. 2, 2000, pp. 187-201.
(C13) O planejamento e a gestão das cidades em uma perspectiva autonomista. Território, ano V, n. 8, jan./jun., 2000. Rio de Janeiro, pp. 67-99.
(C14) Os orçamentos participativos e sua espacialidade: uma agenda de pesquisa. Terra Livre, n. 15, 2000. São Paulo, pp. 39-58.
(C15) Para o que serve o orçamento participativo? Disparidade de expectativas e disputa ideológica em torno de uma proposta em ascensão. Cadernos IPPUR/UFRJ, ano XIV, n. 2, ago./dez. 2000 [publicado em 2001]. Rio de Janeiro, pp. 123-142.
(C16) Metropolitan deconcentration, socio-political fragmentation and extended suburbanisation: Brazilian urbanisation in the 1980s and 1990s. Geoforum, n. 32, 2001. Oxford, pp. 437-447.
(C17) Urban planning in an age of fear: The case of Rio de Janeiro. International Development Planning Review (IDPR), 27(1), 2005, pp. 1-18.
(C18) Together with the state, despite the state, against the state: Social movements as “critical urban planning” agents. City, 10(3), 2006, pp. 327-42.
(C19) Cidades, globalização e determinismo econômico. Cidades, vol. 3, n. 5, 2007, pp. 123-42.
(C20) Da “diferenciação de áreas” à “diferenciação socioespacial”: A “visão (apenas) de sobrevôo” como uma tradição epistemológica e metodológica limitante. Cidades, vol. 4, n. 6, 2007, pp. 101-14.
(C21) Social movements in the face of criminal power: The socio-political fragmentation of space and “micro-level warlords” as challenges for emancipative urban struggles". City, 13(1), 2009, pp. 26-52.
(C22) Cities for people, not for profit From a radical-libertarian and Latin American perspective. City, 13(4), 2009, pp. 483-492.
(C23) Com o Estado, apesar do Estado, contra o Estado: Os movimentos urbanos e suas práticas espaciais, entre a luta institucional e a ação direta. Cidades, vol. 7, n. 11 [= número temático Formas espaciais e política(s) urbana(s)], pp. 13-47.
(C24) Welches Recht auf welche Stadt? Ein Plädoyer für politisch-strategische Klarheit [Que direito a qual cidade? Em defesa da clareza político-estratégica]. Phase2, 35, 2010, pp. 42-43.
(C25) Which right to which city? In defence of political-strategic clarity". Interface: a journal for and about social movements, 2(1), 2010, pp. 315-333. Disponibilizado na Internet (http://interface-articles.googlegroups.com/web/3Souza.pdf) em 27/05/2010.
(C26) The words and the things. Comentário bibliográfico sobre o livro Seeking Spatial Justice, de Edward Soja. City, 15(1). Abingdon, Oxfordshire (Reino Unido), pp. 73-77, 2011.
(C27) Hangi kentte hangi hak?: Politik-Stratejik netliğin müdafaasi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi [Revista Educação Ciência Sociedade], vol. 9, n.° 36, pp. 183-207, 2011. [Tradução parta o turco do artigo publicado em 2010 em Interface: a journal for and about social movements.]
(C28) Mauricio de Almeida Abreu: Mestre e pesquisador, inspirado e inspirador. Cidades, vol. 8, n. 14 [= número temático Mauricio de Almeida Abreu], pp. 675-677, 2011.
(C29) The ‘Arab Spring’ and the city: Hopes, contradictions and spatiality. City, 15(6), pp. 618-624., 2011.[escrito em coautoria com Barbara Lipietz; primeiro autor]
(C30) Where do we stand? New hopes, frustration and open wounds in Arab cities. City, 16(3), pp. 355-359, 2012. [escrito em coautoria com Barbara Lipietz; segundo autor]
(C31) Geografia: A hora e a vez do pensamento libertário. Boletim Gaúcho de Geografia, n. 38, pp. 15-33, 2012.
(C32) Militarização da questão urbana. Lutas Sociais, n. 29, pp. 117-129, 2012.
(C33) Introdução: A Geografia, o pensamento e a práxis libertários e a cidade. Encontros, desencontros e reencontros. Cidades, volume 9, número 15, pp. 9-58, 2012.
(C34) Autogestão, ‘autoplanejamento’, autonomia: Atualidade e dificuldades das práticas espaciais libertárias dos movimentos urbanos. Cidades, volume 9, número 15, pp. 59-93, 2012.
(C35) The city in libertarian thought: From Élisée Reclus to Murray Bookchin and beyond. City, 16(1-2), pp. 4-33, 2012.
(C36) Marxists, libertarians and the city: A necessary debate. City, 16(3), pp. 309-325, 2012.
(C37) ‘Phobopolis’: Gewalt, Angst und soziopolitische Fragmentierung des städtischen Raumes von Rio de Janeiro, Brasilien. Geographische Zeitschrift, Band 100, Heft, 1, pp. 34-50, 2012.
(C38) Panem et circensis versus the right to the city (centre) in Rio de Janeiro: A short report. City, 16(5), pp. 563-572, 2012.
(C40) Libertarians and Marxists in the 21st century: Thoughts on our contemporary specificities and their relevance to urban studies, as a tribute to Neil Smith. City, 16(6), pp. 692-698, 2012.
(C41) Ciudades brasileñas, junio de 2013: lo(s) sentido(s) de la revuelta. Contrapunto, 3, pp. 105-123, 2012.
(C42) Introduction: On structures and conjunctures, rules and exceptions. City, 17(6), pp. 810-811, 2012. [escrito em coautoria com Barbara Lipietz; primeiro autor]
D. TRABALHOS PUBLICADOS NA ÍNTEGRA EM ANAIS DE CONGRESSOS
(D1) “Miseropolização” e “clima de guerra civil”: sobre o agravamento e as condições de superação da “questão urbana” na metrópole do Rio de Janeiro. Anais do 3.° Simpósio Nacional de Geografia Urbana, Rio de Janeiro, 1993.
(D2) Revisitando o “mito da marginalidade”. A população favelada do Rio de Janeiro em face do tráfico de drogas". Anais do VII Encontro Nacional da ANPUR, vol. II. Recife, 1997.
(D3) De ilusão também se vive: caminhos e descaminhos da democratização do planejamento e da gestão urbanos no Brasil (1989-2004). Disponível em 18/05/2005 na página do XI Encontro Nacional da ANPUR (realizado em Salvador, 2005): www.xienanpur.ufba.br/112pdf.
(D4) As cidades brasileiras e os movimentos sociais no início do século XXI: sete questões para provocar o debate. Anais do X Simpósio Nacional de Geografia Urbana [CD-ROM] (Florianópolis, 2007) [mesa-redonda “O futuro das cidades e da urbanização no Brasil”]. Florianópolis.
E. ARTIGOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
(E1) “‘Megamiseropolização’ do eixo Rio-São Paulo”. Artigo publicado na revista PUC-Ciência, n.° 4, 1989. Rio de Janeiro, pp. 13-15.
(E2) “Revisão constitucional: Uma chance para a Reforma Urbana?”. Artigo publicado no jornal AGB em Debate, n.° 7, 1993, Curitiba.
(E3) “Some Introductory Remarks about a New City for a New Society”. Texto em formato HTM disponibilizado no sítio da revista virtual “Z Magazine”, seção “Life After Capitalism Essays” (http://zena.secureforum.com/znet/souzacity.htm), a partir de janeiro de 2003.
(E4) “As cidades, o seu Estatuto e a sua gestão democrática”. Texto em formato PDF disponibilizado no sítio do Núcleo de Pesquisas sobre Desenvolvimento Sócio-Espacial. NuPeD/UFRJ (http://www.geografia.ufrj.br/nuped/textos/acidadeoseuestatutogestao.pdf) em 18/07/2004.
(E5) “Os geógrafos e os movimentos sociais: Como cooperar? Dez teses para debate”. Texto em formato PDF disponibilizado no sítio do Núcleo de Pesquisas sobre Desenvolvimento Sócio-Espacial, NuPeD/UFRJ (http://www.geografia.ufrj.br/nuped/textos/geografosemovimentossociais.pdf) em 20/11/2005.
(E6) “El ‘lúmpen-proletariado armado’, el ‘capitalismo criminal-informal’ y los desafíos para los movimientos sociales”. Texto em formato htm disponibilizado no
sítio do Colectivo Libres del Sur, da Argentina (http://www.geocities.com/surlibre/2004/Debates.htm) em 31/03/2007.
(E7) “O que pode a economia popular urbana? Pensando a produção e a geração de renda nas ocupações de sem-teto do Rio de Janeiro”. Texto em formato PDF disponibilizado no sítio do Núcleo de Pesquisas sobre Desenvolvimento Sócio-Espacial- NuPeD/UFRJ (http://www.geografia.ufrj.br/nuped/textos/O%20que%20pode%20a%20economia%20popular%20urbana.pdf) em 26/05/2008.
(E8) “Rio de Janeiro 2016: ‘sonho’ ou ‘pesadelo’ olímpico?” (em co-autoria com Tatiana Tramontani Ramos e Marianna Fernandes Moreira [ primeiro autor]). Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=15000) em 16/11/2009.
(E9) “Universidades: burocratização, mercantilização e mediocridade (1.ª parte)”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=23461) em 16/05/2010.
(E10) “Universidades: burocratização, mercantilização e mediocridade (2.ª parte)”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=23469) em 23/05/2010.
(E11) “Dois fóruns urbanos, duas ilusões”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=27499) em 08/08/2010.
(E12) “Os apoiadores acadêmicos dos movimentos sociais: seu papel, seus desafios”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=29280) em 21/08/2010.
(E13) “A ‘reconquista do território´, ou: Um novo capítulo na militarização da questão urbana”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=32598) em 03/12/2010.
(E14) “O direito ao centro da cidade”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=37960) em 03/04/2011.
(E15) “O navio: Uma metáfora sobre o nosso tempo”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=49321) em 29/11/2011.
(E16) “Ação direta e luta institucional: complementaridade ou antítese? (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=56901) em 27/04/2012.
(E17) “Ação direta e luta institucional: complementaridade ou antítese? (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=56903) em 04/05/2012.
(E18) “A Geografia e o pensamento libertário: Subsídios para um debate sobre tradições e novos rumos”. Revista eletrônica Território Autônomo, n.° 1, primavera de 2012, pp. 5-14 (http://www.rekro.net/revista-territorio-autonomo/, disponibilizado em 08/10/2012).
(E19) “O campo libertário, hoje: Radiografia e desafios (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=77856) em 24/05/2013.
(E20) “O campo libertário, hoje: Radiografia e desafios (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=78158) em 31/05/2013.
(E21) “Cidades brasileiras, junho de 2013: O(s) sentido(s) da revolta (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=80789) em 09/07/2013.
(E22) “Cidades brasileiras, junho de 2013: O(s) sentido(s) da revolta (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=80839) em 16/07/2013.
(E23) “Cidades brasileiras, junho de 2013: O(s) sentido(s) da revolta (3.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=80884) em 23/07/2013.
(E24) “Brazilian cities: From ‘spring’s’ promises to winter’s disappointing reality. Texto disponibilizado na página da revista inglesa City (http://www.city-analysis.net/2013/07/10/brazilian-cities-from-“spring’s”-promises-to-winter’s-disappointing-reality-2/) em 23/07/2013.
(E25) “Diferentes faces da ‘propaganda pela ação’: Notas sobre o protesto social e seus efeitos nas cidades brasileiras (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/03/93153) em 19/03/2014.
(E26) “Diferentes faces da ‘propaganda pela ação’: Notas sobre o protesto social e seus efeitos nas cidades brasileiras (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/03/93164) em 25/03/2014.
(E27) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/04/93927) em 10/04/2014.
(E28) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/04/94172) em 17/04/2014.
(E29) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (3.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/04/94412) em 24/04/2014.
(E30) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (4.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/04/94846) em 01/05/2014.
(E31) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (5.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/05/95099) em 08/05/2014.
(E32) “Do ‘direito à cidade’ ao direito ao planeta: Territórios dissidentes pelo mundo afora − e seu significado na atual conjuntura (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/05/97823) em 24/07/2014.
(E33) “Do ‘direito à cidade’ ao direito ao planeta: Territórios dissidentes pelo mundo afora − e seu significado na atual conjuntura (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/05/98046) em 31/07/2014.
F. PREFÁCIOS
(F1) “Um ‘olhar afrodescendente’ sobre as cidades brasileiras”. Prefácio para o livro Do quilombo à favela: A produção do “espaço criminalizado” no Rio de Janeiro, de Andrelino de Oliveira Campos (Rio de Janeiro, Bertrand Brasil).
(F2) “Mapeando (e refletindo sobre) a criminalidade violenta”. Prefácio para o livro Atlas da criminalidade no Espírito Santo, de Cláudio Luiz Zanotelli et al. (São Paulo, Annablume e FAPES), 2011.
(F3) “Às leitoras e aos leitores desassombrados: Sobre o livro Espaço, gênero e masculinidades plurais”. Prefácio para o livro Espaço, gênero e masculinidades plurais, organizado por Joseli Maria Silva, Márcio José Ornat e Alides Batista Chimin Junior (Ponta Grossa, Todapalavra), 2011.
-
 LANA DE SOUZA CAVALCANTI
LANA DE SOUZA CAVALCANTI A DOCÊNCIA E O ENSINO DE GEOGRAFIA: EIXOS CENTRAIS DE UMA TRAJETÓRIA DE VIDA E DE PROFISSÃO
Lana de Souza Cavalcanti
MINHA HISTÓRIA: PORQUE CONTÁ-LA
Nos últimos anos, em razão de meu tempo de trabalho e de minha idade, tenho tido oportunidade de retomar lembranças de momentos diferentes da minha vida. Uma delas foi a escrita de um memorial para o concurso de Professora Titular na Universidade Federal de Goiás, em 2015, quando pontuei marcos da minha trajetória profissional e de formação. Após esse momento, recebi um convite para escrever um artigo sobre minha história de professora, para um livro publicado com a organização da professora Jussara Fraga Portugal. E, neste momento, faço um novo relato da minha história de vida e de formação, motivada pelo convite que me fizeram, a professora Joseli Maria Silva e Tamires Regina, para escrever autobiografia para compor o Observatório da Geografia Brasileira. Agradeço a vocês por essas oportunidades de reunir coisas da minha vida, do meu passado, em relatos que me permitem fazer um balanço e seguir em frente. Bom, estou mesmo ficando velha e acumulando histórias para contar. Nessas narrativas que fiz estão muitos eventos repetidos, entrelaçados, mas em cada texto, pelo tipo de demanda que os originaram, pela subjetividade de cada momento, percebo que a narrativa é diferente, talvez porque privilegie alguns episódios em detrimento de outros, o que reforça a ideia de que um relato é sempre uma leitura, uma interpretação datada do fato, real ou imaginário, relatado.
Não tenho uma trajetória de vida marcada por fatos e eventos extraordinários, ao contrário, minha história é comum, feita de pequenos e seguidos momentos de escolhas, de renúncias, de realizações, de perdas, de ganhos. Minha história é como a de muitas pessoas do meu tempo, da minha geração. Então, me pergunto: vale a pena contá-la? Não sei dizer ao certo. Acho que vale, não pelo extraordinário, mas por expor uma história que pode ser como a de muitas pessoas, tantas mulheres, trabalhadoras, lutadoras em busca de coisas que acredita e, felizes por conseguirem realizar, construir, produzir objetivamente sua própria vida. Então, não esperem relatos edificantes, mas uma narrativa de vida construída a cada passo e a cada decisão, em conjunto com parceiros da vida, do trabalho, dos projetos.
MINHA FORMAÇÃO: COMO PESSOA E COMO PROFISSIONAL
Eu nasci em 14 de março de 1957, em uma cidade pequena do interior de Goiás, Piracanjuba, distante 80 km de Goiânia, e que hoje tem cerca de 30 mil habitantes. Lá cresci junto aos familiares da minha mãe e a outros muitos conhecidos dos meus pais. Embora a família da minha mãe fosse de origem rural, ela, como filha caçula de 13 irmãos, estudou parte do tempo na cidade e tinha aversão ao mundo “da roça”. Casou-se com meu pai aos 21 anos, um advogado de 32 anos, irmão do então prefeito da cidade, que veio de outra cidade. Meu pai era natural de Pires do Rio, cidade próxima de Piracanjuba, filho de comerciante e de uma família conhecida da cidade. Estudou em Uberaba e depois fez direito no Rio de Janeiro. Seu mundo também era urbano, desde que se entenda como urbano o modo de vida das pessoas que viviam nas pequenas cidades do interior de Goiás, nas décadas entre 1920 e 1960. Meus pais tiveram 5 filhos, sendo eu a terceira mulher, seguida por dois homens. Em Piracanjuba vivi até os 8 anos, quando nos mudamos, toda a nossa família, para Goiânia, a capital do Estado. No entanto, tive a influência daquela cidade e de sua cultura por mais alguns anos, pois era ali que passava as férias no meu tempo de adolescência e juventude, convivendo com os parentes mais próximos: avós, tios, primos e amigos que ali fizemos.
Desse período da infância e adolescência, poderia destacar muitas coisas que ainda hoje carrego em mim, como lembranças, mas também como marcos da minha personalidade. Uma delas, a cultura urbana muito influenciada pelo rural: não gosto especialmente da vida rural, de estar no meio do mato, essas coisas, fui e sou tipicamente uma pessoa de classe média urbana, que gosta do barulho, do asfalto, dos carros, dos confortos das casas e apartamentos em cidades, dos aparelhos domésticos, das comidas produzidas industrialmente. Mas, ao mesmo tempo, tenho muitos gostos de infância que me atraem demais até o presente: comidas como pequi, pamonha, milho cozido, assado, e frutas como jabuticaba, manga, goiaba, tamarindo, caju. Gosto, não só de cada sabor desses alimentos, mas também de todo o ritual que envolve a colheita, o fabrico e também a sua própria degustação quando está pronto. Minha infância foi marcada por esses alimentos, que em minha lembrança sempre se misturam aos momentos de lazer, pois enquanto os pais elaboravam as comidas, os filhos (amigos e primos) se juntavam e iam brincar, e em alguns momentos ajudavam também em etapas do preparo da comida. Das brincadeiras, lembro-me especialmente daquelas coletivas que ocorriam ao ar livre, nos quintais ou mesmo na rua da minha casa, a “queimada”, o “bete”, o pique-esconde, o pique-pega, o pular cordas, entre outras.
Outro aspecto de minhas lembranças do período em que vivi em Piracanjuba foi minha escolarização. Nada especial, mas foram momentos marcantes. Fui aluna do Grupo Escolar da cidade. Era uma boa aluna, sempre muito “comportadinha”, acredito que não dava trabalho aos meus pais para estudar os “pontos” para as provas, por exemplo. E, associado a esse período de escolarização, considero que o ambiente em casa marcou indelevelmente minha trajetória escolar. Minha mãe era, como se dizia na época, “dona de casa”, ou seja, não trabalhava fora. Mas, tinha sempre alguém para fazer os trabalhos domésticos e ela fazia a parte de administração. Meu pai era o provedor, o trabalhador, tinha 3 atividades profissionais diferentes, segundo ele, para conseguir dar um bom padrão de vida para a família. Ele exercia a advocacia, era sócio de uma pequena fábrica de manteiga e era professor. Um homem conservador, de moral rígida, mas bastante amado e admirado por todos. Era um homem muito culto, desses que eram fonte de pesquisa de muita gente, em todos os assuntos. Esse fato ocorria em um momento em que a consulta aos mais estudados e mais velhos, em contextos como esse de cidade pequena no interior de Goiás, era muito importante para a formação, principalmente dos jovens e crianças da sociedade. Na época, não havia televisão, não havia internet, e as enciclopédias não eram comuns, não eram de fácil acesso.
Então, eu cresci vendo muitas pessoas, em geral jovens, visitando nossa casa para conversar com meu pai sobre uma dúvida qualquer de conhecimento, e principalmente de escola. Meu pai, mesmo sem formação específica para o magistério, era professor de diferentes matérias, português, matemática, ciências, no “ginásio” da cidade, além de ser também seu diretor por muitos anos. Essa referência foi muito importante, creio, para minhas primeiras imaginações profissionais. Eu queria ser cientista ou professora, afinal era isso que via meu pai fazer rotineiramente: lecionava, preparava as aulas, lia, recebia em casa pessoas para consultas da escola ou de advogado e, nos momentos de folga, ainda o via inventar coisas: ele construía aparelho de rádio como robe. E em minhas brincadeiras eu era frequentemente professora.
Na juventude, morando em Goiânia, tive pouca experiência e aventuras independentes, afinal era filha de um pai rígido que mantinha o cotidiano de suas filhas sob seu controle, sem muita liberdade para saídas, para festinhas, para viagens. Mesmo assim, namorei muito às escondidas, frequentei algumas festinhas e fiz umas poucas viagens. Tinha sempre grupo de amigas com quem compartilhava experiências, descobertas, angústias, dúvidas próprias de adolescentes e jovens. Estudei quase sempre em escolas públicas, pois eram escolas que ofereciam uma boa formação. No ensino médio, continuei na escola pública, mas, em 1975, fiz o preparatório para o vestibular em uma boa escola privada. Pensei, inicialmente, em fazer o curso superior de Farmácia, mas era difícil passar, pois a concorrência era muito grande e, então, decidi fazer licenciatura em Geografia, por gostar da matéria, por influência do meu pai, que continuava exercendo a docência em Goiânia, e de uma prima que havia feito esse curso. Naquela época já gostava de ser professora, havia tido experiências ocasionais de dar aulas de reforço para algumas crianças com dificuldades de aprendizagem, o que havia me proporcionado muito prazer. Mas, a escolha do curso não foi uma decisão muito consciente e fundada num ideal. Na verdade, foi mais pragmática. Queria garantir minha aprovação no vestibular, porque meu pai havia presenteado minhas irmãs mais velhas com viagem ao Rio de Janeiro, quando foram aprovadas no vestibular, e eu queria ser também contemplada com esse presente. Mas, como sempre digo para meus alunos: eu poderia ter cursado Farmácia, e provavelmente hoje seria uma professora de alguma matéria nessa área.
Fiz minha graduação em Geografia – Licenciatura, no período de 1976 a 1979, na Universidade Federal de Goiás- UFG. Era um período de muita repressão política ainda, a ditadura militar estava ainda sendo “desmontada”, o projeto de anistia para os militantes do movimento contra a ditadura estava em curso. E, assim como no ensino médio, a estrutura dos cursos havia passado por reformas, o clima era de despolitização e de racionalização das atividades. No início, então, havia algumas matérias básicas que eram feitas juntamente com alunos de outros cursos. As discussões e as leituras que questionavam a política dominante no país eram desencorajadas, mas muitas eram realizadas na clandestinidade.
Ainda no primeiro ano do curso fui convidada por meu antigo professor do preparatório do vestibular para dar aulas na mesma escola em que eu havia sido aluna. Aceitei o desafio, mas com muita insegurança, afinal ainda estava somente iniciando minha formação. Era uma escola de orientação tecnicista, voltada para preparar para o vestibular, como já disse. Trabalhei nessa escola por um ano e em seguida fui para outra escola com a mesma orientação pedagógica, e ali trabalhei até o final da minha graduação. Aceitei trabalhar com pequena carga horária, pois queria priorizar meus estudos. Além do mais, havia me casado no início do ano de 1979, e, também, precisava me dedicar às demandas de uma jovem mulher casada aos 22 anos. Já nesse período comecei a me acostumar com o acúmulo de funções e de atividades rotineiras como: mulher, dona de casa, professora, aluna e monitora do curso. Conseguia me organizar bem com esses diferentes papéis que desempenhava. Essa primeira experiência de trabalho formal, dos 18 aos 20 anos, foi importante para reafirmar meu gosto pela docência, apesar de não me adaptar com a orientação pedagógica das duas escolas, gostava muito de estar em sala de aula, em trabalho junto aos alunos.
No início, o curso de graduação era marcado por uma Geografia tradicional, com muita memorização e muita informação fragmentada. Mas, já se inseriam orientações diferentes, que hoje entendo como representando a coexistência de diferentes orientações teóricas que marcaram uma transição na Geografia brasileira, nas décadas de 1970/1980: uma mais clássica, outra mais técnica - a New Geography, voltada sobretudo à pesquisa e ao planejamento e outra de orientação crítica, predominantemente marxista.
Naquele contexto, foram muitos os bons professores que contribuíram para minha formação, mas destaco três deles, por terem mostrado uma Geografia nova, dinâmica, fecunda: Tércia Cavalcante, Antônio Teixeira Neto e Walter Casseti. Os três foram referências importantes naquele momento para renovar o curso, com novos referenciais, novas teorias e novas práticas. A professora Tércia era professora de Geografia Regional e contribuiu muito com suas maneiras de ministrar as aulas, provocando o debate, e pelas leituras que indicava, explicando teoricamente a Região com os referenciais do marxismo e com a teoria do desenvolvimento desigual e combinado. O professor Neto era professor de Cartografia. Com ele aprendi a refletir sobre o significado e a finalidade da representação cartográfica, e de como realizá-la tendo em conta que se trata de uma linguagem, que para ser vista e bem analisada é importante atentar-se para a lógica de seus símbolos: a semiologia gráfica. O professor Walter era professor de Geografia Física, Geomorfologia. Ensinou-me a não só apreender as classificações (complicadas) do relevo, mas também a compreender os processos dinâmicos de sua formação (explicava a dinâmica das vertentes), destacando-se neles o papel da ação antrópica. Esses professores e a atuação que pude ter como monitora no departamento durante três anos de minha formação propiciaram uma formação consistente e crítica na área. Destaco também as referências teóricas naqueles anos: de Milton Santos, que visitou o curso em 1979 para divulgar seu livro Por uma Geografia Nova, e de Yves Lacoste, com o livro (que líamos em xerox) A Geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. A leitura e a discussão dessas obras, entre outras, marcaram minha formação.
Esses elementos da formação foram importantes na constituição inicial de uma proposta de atuar com uma Geografia Crítica, com orientação marxista e voltada para a compreensão das contradições e desigualdades sociais. Tal proposta não coadunava com a empreendida pelo colégio em que eu, naquele tempo, trabalhava. Em razão dessa falta de identificação com as práticas pedagógicas do colégio, eu me demiti no final de 1979, justamente quando concluía meu curso.
Logo após a conclusão de minha graduação, no início de 1980, uma colega muito querida, que também havia sido monitora do departamento, me convidou para trabalhar em um órgão de planejamento do Estado – Instituto de Estudos Urbanos e Regionais - INDUR. Aceitei e comecei a trabalhar, em 1980, com essa colega – Neli Aparecida do Amaral – que coordenava a equipe de cartografia desse órgão. Nele trabalhei como técnica em planejamento até 1988, atuando em equipes diferentes: primeiramente na cartografia, elaborando o mapa do Aglomerado Urbano de Goiânia, que reunia a capital do Estado e os municípios limítrofes, delineando o que viria a ser o embrião da Região Metropolitana; após realizar esse trabalho, atuei na equipe de análise e aprovação de loteamentos urbanos na área de expansão da cidade e também na equipe que realizou um estudo para propor uma regionalização para Goiás, para fins de planejamento. Todo esse trabalho era muito relevante para o desenvolvimento social e econômico do Estado e da sua capital, porém, era muito decepcionante assistir às ingerências políticas que nele ocorriam. Na maioria das vezes, sem critérios técnicos, os políticos decidiam os projetos que poderiam ser realizados e os que seriam “engavetados”.
Nesse período, tive uma pequena experiência de ensinar em escola pública, com contrato temporário, visando perseguir meu interesse maior na profissão, que era pela docência. Enquanto trabalhava no INDUR, também tive meus três filhos, André, Diogo e Lucas, que têm hoje 40, 38 e 34 anos, respectivamente. Sempre conciliando trabalho de jornada integral e a responsabilidade com minha casa e com a criação dos filhos, me organizando nos horários para garantir os tempos mínimos necessários para dar atenção a eles. Meu marido viajava muito a trabalho e na maior parte do tempo eu tinha de cuidar de tudo sozinha, com a ajuda de uma empregada doméstica (tive algumas, sempre permanecendo por muitos anos em minha casa, mulheres guerreiras, ótimas, confiáveis e muito amáveis com meus filhos). Em função dessas demandas, era rígida com meus horários, com minha rotina, saía de casa logo cedo para trabalhar, mas sempre voltava para almoçar e, no final do dia, ia diretamente para casa, não me permitindo muito ter vida social e lazer fora da família. Tinha, portanto, uma vida limitada ao mundo particular e imediato, mas sempre atenta ao que acontecia na sociedade, na administração pública, nos níveis federal, estadual e municipal, e sempre sensível aos atos de injustiça social, de corrupção, de não reconhecimento dos direitos dos cidadãos. Nessa época, mesmo com esses limites que apontei, realizei, entre 1985 e 1986, um curso de especialização em Planejamento Urbano e Regional, ofertado pela UFG, com a finalidade de me aperfeiçoar na profissão.
Em 1986, com meu filho caçula com apenas um mês, fiz um concurso e fui aprovada para professora efetiva na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Assim, iniciei minha atuação profissional como professora do Ensino Superior, logo que fui contratada no final desse mesmo ano. Inicialmente conciliei essa atividade com a outra, de técnica em planejamento, mas assim que foi possível, solicitei um regime de dedicação exclusiva na Universidade e deixei o trabalho no INDUR, podendo me dedicar mais à nova atividade. Na Faculdade de Educação, minha atribuição principal era a docência para as turmas de Estágio Supervisionado em Geografia. O Curso naquela época tinha a estrutura chamada de 3+1, ou seja, os alunos cursavam três anos de disciplinas de conteúdo específico (geográfico) e um ano (o último) de disciplinas pedagógicas, entre as quais estava o Estágio Supervisionado.
No primeiro ano como professora da Faculdade de Educação, estava ainda em adaptação quando surgiu a oportunidade de prestar a seleção para cursar o mestrado no meu próprio local de trabalho. Fui aprovada e realizei, assim, o Mestrado em Educação Escolar Brasileira, no Programa de Mestrado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, no período de 1987 a 1990. A realização do Mestrado foi particularmente importante para mim. Meus limites em casa, embora comuns, eram muitos, pois os filhos ainda pequenos me requeriam atenção todo o tempo. Com as demandas postas, aprendi a estudar, como sempre brinco com meu caçula, com um bebê no meu pescoço, não desperdiçava nem um minuto de tempo livre. Nesse período, fiz um curso livre de filosofia (aos sábados à tarde), que objetivava formar quadros para o partido comunista, com os fundamentos marxistas. Esse curso me ajudou muito na leitura de Marx e de marxistas, o que, por sua vez, me ajudou a compreender as leituras indicadas na pós-graduação. O Mestrado era um curso bastante exigente (eu era da segunda turma de um recém aprovado programa de pós-graduação, que buscava obter boa avaliação entre os pares e junto à Capes), tinha muitas leituras, debates em sala de aula e trabalhos monográficos para fazer. Considero que esse foi um momento marcante de meu amadurecimento e autonomia intelectual. Ele propiciou momentos significativos de crescimento profissional e, também, pessoal, o que resultou em revisões quanto a valores e projetos de vida. Durante sua realização, fiz amizades e interlocuções com colegas queridos, muitos dos quais ainda hoje tenho contato e parceria, de trabalho e de vida. Destaco, entre eles, minhas amigas Sandramara, Dalva, Verbena (já falecida) e Maria Augusta.
Em 1989, me divorciei e, além de todas as dificuldades comuns de conciliar família e trabalho, passei a lidar com dificuldades com meu pai, que não aceitava a separação, dificuldades financeiras e de logísticas quanto aos cuidados com a casa e os filhos. Mas, segui em frente, conseguindo superar os desafios apresentados a cada dia, mesmo com meus limites.
Terminei o mestrado em março de 1990, com a dissertação intitulada “O ensino de Geografia em escolas de ensino fundamental de Goiânia”, uma pesquisa que teve como foco a busca de metodologias de ensino de Geografia mais críticas, evidenciadas na prática de professores do Ensino Fundamental. Em 1993, iniciei meu doutorado no Programa de Pós-graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, no mesmo ano em que, por uma mudança na estrutura dos cursos de licenciatura da UFG, passei a ser lotada no Departamento de Geografia dessa Universidade. Ali trabalhei inicialmente com disciplinas pedagógicas, embora tenha ministrado outras como Geografia Regional e Geografia Urbana.
Nessa mesma época me casei pela segunda vez, com José Carlos Libâneo, que havia sido meu orientador de Mestrado. Com ele passei a dividir muitos projetos de vida, nossos filhos dos primeiros casamentos - ele tinha dois e eu três – nossos amigos, nossos colegas de profissão e, também, a compartilhar muitas preocupações políticas, pedagógicas e sociais. Até hoje tenho com ele uma maravilhosa, amorosa e real vida a dois: cada um tem seus projetos e caminhos pessoais e profissionais, mas compartilhamos nossas ideias, nossa concepção de mundo, nossa casa, nossos filhos, nossos netos, que já são sete, e a família.
Terminei meu doutorado em 1996, com a tese “A construção de conceitos geográficos no ensino: uma análise de conhecimentos geográficos de alunos de 5ª. e 6ª. séries do ensino fundamental”, orientada por José Willian Vesentini. Fiz estudos seguindo a linha já iniciada no mestrado, firmando uma preocupação com a formação de professores de Geografia e sua orientação pedagógica, formulando minha compreensão dos fundamentos de um método dialético no ensino de Geografia, na linha histórico-cultural de Vygotsky, dando ênfase ao processo de formação de conceitos geográficos, a partir do encontro e confronto de conceitos cotidianos e científicos.
MATURIDADE INTELECTUAL E INSERÇÃO NA PRODUÇÃO GEOGRÁFICA BRASILEIRA
A tese que defendi no doutorado foi publicada como livro com o título “Geografia, escola e construção de conhecimentos”, em 1998, pela Editora Papirus. É uma editora bem conceituada e de boa circulação nacional, e propiciou uma ampla divulgação do meu trabalho, com várias edições até a atualidade, tornando-se uma referência do meu trabalho para muitos estudantes de graduação, de pós-graduação e de professores da rede básica de ensino. A partir da publicação desse livro, passei a ser convidada para palestras em várias partes do país, defendendo a proposta de um ensino crítico de Geografia, que buscasse uma aprendizagem significativa dos alunos. E, iniciei assim uma trajetória de pesquisadora, de intelectual que busca contribuir com a produção de fundamentos teóricos e práticos para a área do ensino de Geografia.
Voltei da licença concedida pela Universidade para o doutorado em 1996, quando o Departamento de Geografia havia crescido bastante e se transformado em Instituto de Estudos Sócio-Ambientais - IESA, oferecendo, além dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Geografia, o Mestrado em Geografia. Logo que retornei ao então Instituto, assumi uma disciplina obrigatória no Mestrado: Teoria e Método, e continuei a trabalhar com ela por muitas vezes, ora sozinha, ora em parceria com colegas. Além de ministrar essa disciplina obrigatória, a partir de 2002, até o momento atual, também passei a ministrar regularmente as disciplinas “Espaço urbano, Cidadania e Dinâmica Cultural” e “Formação de professores de Geografia”. Na graduação, continuei a trabalhar com as disciplinas pedagógicas. A docência nessas disciplinas foram fundamentais para meu amadurecimento intelectual, pelo contato com os alunos, que propiciou sempre muitos bons debates, pela preparação e pelas leituras exigidas para ministrá-las.
Com essas disciplinas e pelo meu perfil de formação e de atuação profissional fui delineando uma área de interesse de pesquisa e de orientação de alunos. Essa área é resultado da articulação de 3 fontes de reflexão: 1- minha experiência em planejamento urbano, 2- a Geografia Urbana, destacando como fontes teóricas básicas Henri Lefebvre, Milton Santos, Ana Fani A. Carlos e David Harvey, Edward Soja, 3- a área da educação e do Ensino de Geografia, orientando-me por autores da linha de Lee Semenovich Vygotsky, psicólogo russo do século XX, que investigou o desenvolvimento intelectual de crianças e a aprendizagem, com base na dialética.
Nesses mais de 30 anos de magistério, poderia destacar muitas atividades e muitos fatos, eventos, que me deram prazer em fazer e/ou participar, mas é um longo período e dele consigo relembrar alguns poucos. Um deles é a minha presença em sala de aula, uma imagem difusa, que se coloca em diversas situações, com diferentes grupos de alunos, em número e níveis de formação diferentes, mas sempre com um misto de tensão e prazer. Tensão por ter de estar em prontidão para saber o que fazer diante de qualquer circunstância colocada e prazer de poder estar com um grupo (geralmente de jovens) para ajudá-los em seu desenvolvimento intelectual, social e afetivo. O prazer era sempre maior que a tensão, esse prazer se estende enormemente em minha atividade de orientação, na graduação e na pós-graduação. Hoje já tenho contabilizado mais de 150 orientações concluídas em graduação (trabalho final de curso, iniciação científica, Programa de Educação Tutorial-PET), mestrado, doutorado e pós-doutorado, o que considero um número bem expressivo. Sempre exerci essa atividade com muita motivação, leveza, respeito mútuo e satisfação, procurando expor e defender meu modo de ver as coisas na Geografia, na profissão docente, na vida, mas sem impor esse modo a nenhum aluno, ao contrário, respeitando e incentivando a formulação de suas próprias ideias.
Embora tivesse que assumir muitas outras atividades em minha vida profissional, como coordenações da Graduação e Pós-Graduação, assessorias na administração superior da UFG, assessoria na CAPES, entre outras atividades, sempre dei prioridade à atividade de ensino, pois acima de tudo sou professora, e minha realização maior nessa profissão é o que posso fazer (pelo menos tento fazer) juntamente aos alunos.
Atuei também, entre os anos de 2006 e 2010, como coordenadora e professora do Curso de Docência no Ensino Superior, oferecido pela Pro-reitoria de Graduação da UFG. Nesses anos e em outras experiências subsequentes, conheci muitos professores que estavam ingressando na UFG, portanto representantes de uma “nova geração”. Com eles dialoguei, tive contato breve com seu trabalho de docência e pude ouvir seus depoimentos a respeito do que consideram seus principais dilemas, desafios e expectativas relacionadas ao exercício da profissão. Asseguro que esse contato foi bastante relevante para que eu pudesse continuar exercendo minhas atribuições. Embora não tenha me tornado uma especialista na área de Metodologia do Ensino Superior, que é um campo de investigação muito amplo e exigiria maior dedicação do que eu poderia ter, posso dizer que conheço um pouco a área. Percebo algumas das dificuldades da gestão acadêmica no âmbito das Universidades públicas, diante de um corpo docente que trabalha frequentemente de modo isolado, buscando intensamente “produzir” seu “lattes”, com inúmeras ocupações acadêmicas, que nem sempre tem identificação com a docência, que busca maior atuação na pesquisa e na pós-graduação. Ressalta-se que na Universidade, muitas vezes, os professores recebem maior incentivo para pesquisa e pós-graduação do que para a atividade docente, sobretudo na graduação. Para além disso, posso dizer que essa experiência profissional contribuiu significativamente para meu próprio amadurecimento como professora, fortalecendo minha convicção de que o exercício da docência é bastante complexo e exige uma formação específica, muito além do conhecimento da matéria a ensinar.
Articulada a essa dimensão do ensino, sempre dei também prioridade à atividade de estudo e pesquisa, pois para ensinar eu necessito estudar, estar atenta ao que se passa na sociedade, na escola, na academia. Entendo, assim, que as atividades investigativas são inerentes à docência. Na Universidade, e principalmente para os que concluem seus doutorados, a atividade de pesquisa tem uma relevância mais acentuada e por isso mesmo é institucionalizada em projetos, em submissão de aprovação e em financiamento pela própria instituição ou por outras agências de fomento. Nesse sentido, considero adequado salientar aqui a linha de investigação que fui tecendo ao longo de minha carreira, em coerência com as disciplinas ministradas na graduação e na pós-graduação e com as orientações que tenho feito. Para a tessitura dessa linha foram salientados, e tem sido ainda, alguns sujeitos, objetos e categorias. Os sujeitos sempre foram os professores de Geografia, em formação inicial ou os profissionais que já exercem sua docência na escola básica, e os alunos da escola de nível básico e seus processos de aprendizagem. Os objetos que posso mencionar como recorrente nas pesquisas que realizei e realizo são: os conteúdos e conceitos geográficos; as práticas docentes e seus métodos de ensinar; as práticas de formação profissional; os recursos didáticos, com destaque para os livros didáticos. E quanto às categorias, posso selecionar aquelas que dão norte às pesquisas: Geografia, pensamento geográfico, conceitos geográficos, docência, método de ensino, jovens escolares, cidade, espaço urbano, cidadania.
Na articulação entre esses elementos, foram delineadas algumas problemáticas de pesquisa, com o propósito de identificar seus fatores condicionantes e, também, potenciais de equacionamentos possíveis, dentro de um fundamento teórico de compreensão da realidade, o método dialético. Para exemplificar esses caminhos investigativos, destaco a seguir alguns projetos realizados mais recentemente por uma equipe de profissionais e alunos em formação, sob minha coordenação:
TÍTULO DO PROJETO
- Lugar e cultura urbana: um estudo comparativo sobre saberes docentes de professores de Geografia no Brasil (2004 - 2009)
- Elaboração de materiais didáticos temáticos sobre a área metropolitana de Goiânia (2007 - 2009)
- Tendências da Pesquisa sobre o ensino de cidade na Geografia e suas contribuições para a prática docente (2009 - 2012)
- Pesquisa colaborativa sobre demandas de produção Didática para o Ensino de Geografia na Região Metropolitana de Goiânia (2010 - 2013)
- Aprender a cidade: uma análise das contribuições recentes da Geografia Urbana brasileira para a formação de jovens escolares (bolsa produtividade) (2010 - 2013)
- Estrategias de formación del profesorado para educar en la participación ciudadana (2012 - 2014)
- Formação inicial de professores de Geografia: experiências formativas para atuar na educação cidadã (2012 - 2014)
- Jovens escolares e a vida urbana cotidiana: um eixo na formação de professores de Geografia (bolsa produtividade) (2013 - 2016)
- A mediação didática para o estudo de cidade e a formação de professores em Geografia: contribuições metodológicas para o desenvolvimento do pensamento teórico-conceitual sobre cidade e vida urbana (bolsa produtividade) (2016 - 2019)
- Ciência geográfica na escola: formação do pensamento geográfico para a atuação cidadã (2019 - Atual)
- Formação/Atuação de professores de Geografia, conhecimentos profissionais e o pensamento geográfico: práticas docentes com conteúdos escolares para a vida urbana cidadã (bolsa produtividade) (2019 - Atual)
Também articulada à dimensão do ensino, estão minhas atividades voltadas à extensão, ou seja, à relação mais direta com a sociedade, buscando dar efetividade ao que se produz na Universidade. Na relação com a comunidade acadêmica, podem ser destacadas minha participação em eventos, como ouvinte, como apresentadora de trabalhos, como parte da comissão organizadora ou como coordenadora. Nessa linha também destaco as palestras e mesas redondas que tenho participado em toda a carreira, no Brasil, em outros países da América Latina e na Europa (Portugal e Espanha). Destaco, entre os eventos que participo com maior regularidade, o Seminário Educação e Cidade (SEC-IESA), o Encontro Nacional de Práticas de Ensino de Geografia (ENPEG), o Encontro Nacional de Geógrafos (ENG), o Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia (ANPEGE), o Fórum Nacional de Formação de Professores de Geografia (Fórum NEPEG), o Simpósio de Geografia Urbana (Simpurb), o Encontro de geógrafos da América Latina (EGAL), o Colóquio da Rede Latino-americana de pesquisadores de Didática da Geografia (Redladgeo).
Na coordenação de eventos, destaco várias edições do Seminário Educação e Cidade, do Fórum Nepeg, uma edição do ENPEG, uma edição do Colóquio da Redladgeo. Sobre esses Encontros, saliento o XI ENPEG, com a temática “Produção do Conhecimento e Pesquisa no ensino da Geografia”, que ocorreu em abril de 2011, em Goiânia, sob minha coordenação geral. A coordenação desse evento permitiu o contato com muitos pesquisadores da área (registrou-se a participação de aproximadamente 600 pessoas), que realizam atividades de ensino e pesquisa em diferentes regiões do Brasil, e uma maior compreensão das diferentes linhas e perspectivas por eles desenvolvidas. Outro evento que destaco, pela oportunidade que tenho tido de participar, desde 2011, é o ENANPEGE, como uma das coordenadoras do Grupo de Trabalho sobre Ensino de Geografia. Também é importante destacar a coordenação geral dos eventos Fórum NEPEG, realizado a cada dois anos, desde 2001, e do Seminário Educação e Cidade, realizado anualmente nas dependências da UFG, desde 2004.
Além de buscar manter relações constantes com a comunidade acadêmica, sempre foi uma grande preocupação estreitar vínculos entre a Universidade e a Escola. Tenho feito essa tentativa em diferentes frentes de trabalho, em atividades formativas com os professores da Rede básica e por meio das pesquisas. Nos últimos anos, como proposta metodológica predominante, tenho encaminhado a pesquisa colaborativa. Trata-se de um conjunto de possibilidades de desenvolvimento metodológico de investigação que se pauta na colaboração entre os diferentes sujeitos do processo formativo que compõem a equipe de trabalho e são por ele corresponsáveis: os professores da educação básica, os professores em formação, os professores formadores.
Após alguns anos como professora e pesquisadora ligada à pós-graduação, com experiência já acumulada em orientação e pesquisa, com uma linha de investigação já consolidada, considerei que seria importante para minha carreira investir em um pós-doutoramento, para sistematizar estudos sobre a temática do ensino de cidade. Sendo assim, busquei contato com a professora Maria Jesus Marron Gaite, da Universidade Complutense de Madrid, que aceitou a supervisão de meu projeto, desenvolvido em Madri entre os meses de agosto de 2005 e janeiro de 2006. Foi uma experiência significativa para minha vida pessoal e profissional, propiciando momentos de conhecimento e de aprendizagem sobre a Europa, sobre o ensino de Geografia na Espanha e em Portugal, e permitindo também manter contatos com colegas de referência na área, nesses países. Toda essa experiência marcou bastante minha formação e atuação nos anos seguintes, em termos de fontes teóricas, de parcerias, de redes de pesquisa, de intercâmbios de estudantes.
Após voltar desse período de pós-doutorado, em 2006, passei a atuar de modo mais seguro nas diferentes atividades das quais participava: a docência, as orientações, as assessorias, a produção intelectual. Nesse período, na primeira década do século XXI, participei de um movimento de consolidação da área de ensino como uma área legítima de pesquisa, com reconhecimento institucional, nos Programas de Pós como linha de pesquisa, nas instituições de fomento, que subsidiava cada vez mais pesquisas e eventos na área, e entre os colegas pesquisadores de outras áreas da Geografia. Nesse contexto, fui contemplada com bolsa produtividade do CNPq, a partir de 2010, o que considero um marco importante de reconhecimento e de confiança em minha carreira profissional. Em 2016/2017, fiz meu segundo estágio pós-doutoral, por 6 meses, dessa vez em Buenos Aires, com a professora Maria Victoria Fernandez Caso, da Universidade de Buenos Aires, que supervisionou meu projeto de pesquisa, articulado à pesquisa produtividade, referente ao tema mais geral, o ensino de cidade.
A PRODUÇÃO INTELECTUAL E A CRIAÇÃO DE GRUPOS E REDES: A OBJETIVAÇÃO DE UM PROJETO PROFISSIONAL
Ao longo desses anos, desde a publicação de minha Tese de Doutorado, como livro, sempre me empenhei em publicizar minha produção intelectual: minhas ideias, minhas reflexões, os resultados de pesquisa por mim analisados, como forma de objetivar meu trabalho, de colocá-lo ao dispor da comunidade, para debate e utilização, caso fosse pertinente, por outros colegas, por alunos, por professores do ensino básico. Também me esforcei para realizar ações que resultassem em produtos para um projeto de institucionalização de uma área de investigação – a área do ensino de Geografia –. Dessas ações, quero destacar a instituição de alguns grupos e redes de pesquisa, como o LEPEG, o NEPEG, a REPEC, a Redladgeo.
A PRODUÇÃO INTELECTUAL
Minha produção intelectual é produto das atividades de ensino, de extensão e principalmente de pesquisa mais sistemática que tenho realizado ao longo dos anos. Ela está publicada em diferentes tipos de veículos: livros, capítulos de livros e artigos em periódicos. São reflexões, apostas teóricas, análises de dados produzidos em pesquisas, experiências profissionais, articulando-se em eixos temáticos conforme foram sendo delineados com o passar do tempo:
1- Ensino de Geografia: com a preocupação de trabalhar em prol de um ensino dessa disciplina que contribua efetivamente com o amplo desenvolvimento dos alunos, tenho me fundamentado na perspectiva histórico-cultural, proveniente dos estudos de Vygotsky. Destaco desse autor sua compreensão do papel da aprendizagem no desenvolvimento das funções psicológicas superiores nas crianças e jovens escolares, da relação entre pensamento e linguagem, do processo de formação de conceitos. Vygotsky (1984, 1993, 2001) desenvolveu uma teoria sobre o processo de formação de conceitos, na qual são importantes os conceitos científicos e os conceitos cotidianos, e suas mútuas relações. Em relação à aprendizagem, me aproprio das suas ideias sobre seu papel ativo no desenvolvimento das pessoas. E, em relação à linguagem, a concepção central é a de que ela está intrinsecamente ligada ao pensamento e ao seu desenvolvimento. Com essa orientação, tenho formulado proposições para um ensino de Geografia voltado à formação de conceitos, com base na ideia geral de que o ensino é uma intervenção intencional no desenvolvimento do aluno, que é sujeito ativo do processo. Parto da compreensão de que a Geografia escolar, como portadora de conhecimentos que contribuem para a compreensão da realidade, é um instrumento simbólico na mediação do sujeito com o mundo. Nessa linha, defendo que o objetivo do ensino de Geografia é o de contribuir para o desenvolvimento do pensamento geográfico do aluno, para que ele, com autonomia, possa pensar e agir sobre o mundo considerando a espacialidade dos fatos e fenômenos. E os conceitos são ferramentas culturais para o desenvolvimento desse pensamento, destacando-se os de paisagem, lugar, território, região e natureza.
2 - A formação profissional do professor de Geografia: é um tema que se destaca desde o início da minha carreira de professora universitária. Como professora de disciplinas como Estágio Supervisionado e Didática da Geografia durante anos, busco contribuir para essa formação propiciando atividades de ensino que promovam reflexões sobre conhecimento docente, identidade profissional do professor, requisitos da prática docente, elementos do processo de ensino e aprendizagem. Parto da convicção de que a atuação docente requer qualificação específica, referente ao domínio de conhecimentos sobre a matéria (a Geografia Escolar como distinta e ao mesmo tempo relacionada à Geografia Acadêmica) e sobre como ensiná-la. Essa qualificação pressupõe uma convicção, orientadora da prática, sobre a proposta metodológica julgada mais eficaz para a aprendizagem efetiva dos alunos e o papel dos conhecimentos geográficos no seu desenvolvimento. Muitos autores têm contribuído para o desenvolvimento das ideias sobre a formação de professores nessa perspectiva, entre os quais destaco: Antônio Nóvoa (1992, 1995), Carlos Marcelo García (2002a e 2002b), Clemont Gauthier (1998), José Gimeno Sacristán (1996a, 1996b, 1998), Lee Shullman (2005).
3- Ensino de cidade e cidadanias: o pressuposto de que crianças e jovens são sujeitos que constroem conhecimentos geográficos em seu cotidiano, que necessitam ser considerados no processo de ensino/aprendizagem, levou aos questionamentos sobre como percebem o lugar de seu cotidiano, como se relacionam com ele, como produzem e que conteúdos espaciais eles produzem, elegendo a cidade como lugar privilegiado dessas espacialidades. Os autores que têm subsidiado a produção com essa temática são, entre outros: Ana Fani Alessandri Carlos (1996, 2004, 2005), David Harvey (1989, 2004), Henri Lefebvre (1991, 2002, 2006), Milton Santos (1996a, 1999). O foco no tema da cidade destaca sua relação com a formação de cidadãos e se compromete com a formação da cidadania orientados por princípios democráticos, abertos para a diversidade e para o usufruto coletivo dos espaços urbanos. Entre os autores de referência para o tema da cidadania, ressalto: Andrea Pereira Santos e Eguimar F. Chaveiro (2016), José Murilo de Carvalho (2002), Márcio Piñon de Oliveira (2000), Maria Victoria de M. Benevides (1994), Milton Santos (2007, 1996/1997, 1996b), Olga María Moreno Fernándes (2013).
Com esses eixos de reflexão, tenho produzido artigos, capítulos de livros e livros ao longo de minha carreira acadêmica, entre os quais seleciono, por considerar que sintetizam diferentes momentos no desenvolvimento de minhas ideias e por terem tido destaque como referência dessas ideias, os seguintes produtos (somente os publicados no Brasil) que julgo que tiveram maior repercussão no espaço acadêmico (selecionei 5 para cada tipo de produto):
LIVROS
• Pensar pela Geografia. Goiânia: Editora Alfa&Comunicação, 1ª. Ed. 2019.
• Ensino de Geografia e a escola. Campinas, SP: Editora Papirus, 1ª. Ed. 2012
• Geografia escolar e a cidade. Campinas, SP: Editora Papirus, 1ª. Ed. 2008
• Geografia e práticas de ensino. Goiânia, Go: Editora Vieira, 1ª. Ed. 2002
• Geografia, escola e construção de conhecimentos. Campinas, SP: Editora Papirus, 1ª. Ed. 1998.
CAPÍTULOS DE LIVRO:
• A Geografia escolar como eixo de diálogos possíveis entre didática geral e didáticas específicas na formação do professor. In: Selma G. Pimenta; Cristina D’Ávila, Cristina C. A. Pedroso; Amali de A. Mussi. (Org.). A didática e os desafios políticos da atualidade. 1ed.Salvador: Editora UFBA, 2019.
• Espaços da cidade e jovens escolares: por que é tão importante conhecer a espacialidade desses sujeitos da aprendizagem geográfica?. In: Jusssara F. Portugal. (Org.). Educação Geográfica: temas contemporâneos. Salvador: EDUFBA, 2017.
• A Metrópole em foco no ensino de Geografia: o que/para quem ensinar?. In: Flávia M. de A. Paula, Lana de S. Cavalcanti, Vanilton C. de Souza. (Org.). Ensino de Geografia e metrópole. Goiânia: Gráfica e editora américa, 2014.
• Concepções Teórico-metodológicas da Geografia escolar no mundo contemporâneo e abordagens no ensino. In: Dalben, A.; Diniz J.; Leal, L. Santos, L.. (Org.). Convergências e Tensões no campo da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
• Ensino de Geografia e diversidade: construção de conhecimentos geográficos escolares e atribuição de significados pelos diversos sujeitos do processo de ensino. In: Sônia Maria Vanzella Castelar. (Org.). Educação Geográfica: teorias e práticas docentes. São Paulo: Editora Contexto, 2005.
ARTIGOS EM PERIÓDICO
• O estudo de cidade e a formação do professor de geografia: contribuições para o desenvolvimento teórico-conceitual sobre cidade e vida urbana. Ateliê geográfico (UFG), v. 11, 2017.
• Para onde estão indo as investigações sobre ensino de geografia no Brasil? Um olhar sobre elementos da pesquisa e do lugar que ela ocupa nesse campo. Boletim Goiano de Geografia, v. 36, 2016.
• Ensinar Geografia para a autonomia do pensamento. Revista da ANPEGE, v. 7, 2011.
• Cotidiano, mediação pedagógica e formação de conceitos: uma contribuição de Vygotsky ao ensino de Geografia. Cadernos CEDES, Campinas/SP, v.25, n.66, 2005.
• A cidadania, o direito à cidade e a Geografia escolar: elementos de geografia para o estudo do espaço urbano. Geousp, São Paulo, v. 5, 1999.
A FORMAÇÃO DE GRUPOS E REDES DE ESTUDO E PESQUISA
Desde os primeiros anos de professora e pesquisadora ligada à Pós-Graduação, a partir do final da década de 1990, busquei atuar no sentido de fortalecer a pesquisa na área do ensino de Geografia, no âmbito do Instituto, da UFG, das instituições goianas e, também, do Brasil e outros países. Destaco nesse sentido minhas iniciativas, juntamente com colegas da área, de formar grupos e redes de pesquisa, e fazer intercâmbios, por entender que tal fortalecimento só poderia ocorrer com a articulação de professores e instituições que compartilhassem do entendimento da relevância dessa área. Em relação a esses grupos, destaco a seguir o NUPEC, o LEPEG, o NEPEG e a Redladgeo.
1- NÚCLEO DE ESTUDOS EM ENSINO DE CIDADE - NUPEC
Além do trabalho mais formal de orientação e de pesquisa, coordeno um grupo de estudos desde 2000, e a partir de 2013 em conjunto com meu colega Vanilton Camilo de Souza, e com a colaboração das colegas Karla Annyelly e Lucineide Pires, chamado Núcleo de Estudos sobre Ensino de Cidade (NUPEC). Ele é composto por alunos da graduação e da pós-graduação, e se constitui em um espaço de leitura, reflexão e debate sobre essa temática. O grupo se reúne a cada 15 dias para fazer discussões com base em leituras de diferentes autores e de projetos de pesquisa dos integrantes do grupo. As discussões realizadas têm como referência diferentes contribuições teóricas, clássicas e contemporâneas, internas e externas à Geografia, à pesquisa em Geografia (modalidades e fundamentos teóricos) e à Geografia Urbana (destacando-se o objetivo do Ensino de cidade). Esse grupo, em colaboração com os demais membros do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica (LEPEG), realiza anualmente, no IESA, o Seminário Educação e Cidade.
2- LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA - LEPEG
Em 1997, com apoio de colegas e buscando fortalecer a área do ensino, criei no IESA o Núcleo de Ensino e Apoio à Formação de Professores – NEAP. Este núcleo caracterizou-se inicialmente por congregar alunos da graduação e pós-graduação para auxiliá-los no desenvolvimento de suas demandas de formação. Após alguns anos, em março de 2006, com o aumento, no Instituto, de pesquisas nessa área, houve reformulação no Núcleo, com a inserção de outros professores do IESA, passando a se constituir, sob minha coordenação, como laboratório - o Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação Geográfica (LEPEG). Atualmente, o LEPEG é uma referência importante no Instituto e no contexto acadêmico, agrega 7 professores especialistas na área e tem um fluxo regular de aproximadamente 80 usuários, alunos da graduação e pós-graduação e professores da educação básica e de outras instituições. Esse grupo de professores, formadores e formandos atuam em diferentes grupos de estudo e de pesquisa, como bolsistas ou como voluntários. Tenho muita satisfação de ter acompanhado o crescimento e a consolidação desse laboratório que eu propus a criação e que coordenei por muitos anos. Atualmente ele é coordenado pela professora Miriam Aparecida Bueno e pelo professor Denis Richter.
3- O NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA - NEPEG
O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica – NEPEG foi criado em 2004, por um grupo de professores de três Instituições de Ensino Superior de Goiás – Universidade Federal de Goiás, Universidade Católica de Goiás e Universidade Estadual de Goiás –, sob minha coordenação, que tinham em comum a preocupação com o ensino de Geografia, desde o nível básico até o superior, o que se expressa por meio de suas pesquisas sobre a temática. Após sua criação, ao longo desses anos o Núcleo, com base em seu regimento, agregou novos pesquisadores que se mostraram interessados em nele se integrar, sendo que atualmente tem componentes que são professores de universidades de outros Estados e até mesmo de outros países (como Moçambique e Chile). Fui coordenadora desse Núcleo desde o seu início, juntamente com Vanilton Camilo de Souza, no período de 2004 a 2011 e desde 2015 voltei a coordená-lo em parceria com Miriam Aparecida Bueno. Esse grupo tem se reunido mensalmente com o objetivo de discutir estratégias de ação no campo da pesquisa, da extensão e da formação acadêmica de seus membros. Suas principais ações têm sido: a de leituras e apresentação no grupo de seus resultados; cursos de aperfeiçoamento para professores de Geografia da Rede básica de ensino; organização de eventos; publicação de livros. O grupo, a cada dois anos, realiza o Fórum NEPEG de Formação de Professores de Geografia, sendo que em 2020 realizou sua 10ª. edição. O objetivo do evento, que já se tornou parte do calendário de muitos professores formadores de Universidades brasileiras, é aprofundar o debate sobre a formação dos professores de Geografia. Como resultados desses Fóruns são publicados livros, apresentando os textos de convidados para o evento e material produzidos a partir dos GTs. Por meio do NEPEG, foram realizadas pesquisas interinstitucionais., uma delas, encerrada em 2008, objetivou traçar um perfil do ensino de Geografia no Estado de Goiás. Outra, recém concluída (2020), “Projetos de formação de professores de Geografia: 10 anos após as Diretrizes Curriculares Nacionais”, foi desenvolvida com o envolvimento de diferentes Universidades do Brasil e analisou Projetos Pedagógicos de cursos de Licenciatura em Geografia.
A FORMAÇÃO DE REDES DE PESQUISA
1-REDE DE PESQUISA DO ENSINO DE CIDADE (REPEC)
Essa rede de pesquisa, a qual sou coordenadora, foi criada em 2006 e “chancelada” pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG. Seu objetivo é congregar pesquisadores de diferentes instituições do Estado – UEG, UFG, PUC Goiás, Rede municipal de Educação de Goiânia, Rede Estadual de Educação de Goiás e alunos da graduação e pós-graduação do Programa de Geografia da UFG, para realizar investigações sobre o ensino de Cidade e elaborar materiais didáticos temáticos sobre a Região Metropolitana de Goiânia e sobre a Rede Urbana de Goiás. A realização dessas atividades tem sido uma oportunidade de o Curso de Geografia da UFG ter uma maior aproximação com os professores de Geografia da Rede básica de Ensino de Goiás e disponibilizar materiais didáticos para essa Rede. Os produtos – Fascículos Didáticos – produzidos por essa Rede e que fazem parte de uma coleção denominada Aprender a cidade, são os seguintes:
1- Cartografia da Região Metropolitana de Goiânia – 2009, atualizada em 2020.
2- Espaço Urbano da Região Metropolitana de Goiânia – 2009, atualizada em 2020.
3- Violência Urbana na Região Metropolitana de Goiânia – 2009.
4- Bacias Hidrográficas da Região Metropolitana de Goiânia – 2009.
5- Dinâmicas Populacionais da Região Metropolitana de Goiânia - 2014
6- Dinâmica Econômicas da Região Metropolitana de Goiânia - 2013
7- A Relação Cidade-Campo no Território Goiano - 2019
8- Cerrado (em elaboração)
2- REDE LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES EN DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFIA (REDLADGEO).
Essa Rede foi formada por ocasião do IX Encontro de Geógrafos da América Latina – EGAL – de 2007, em Bogotá-Colômbia. Professores do Brasil, do Chile, da Argentina, da Venezuela e da Colômbia criaram a rede e, compõem seu Comitê Gestor, desde sua criação até a atualidade: Núbia Moreno Lache, Alexander Celly e Raquel Pulgarin (Colômbia); José Armando Santiago (Venezuela); Marcelo Garrido Pimenta e Fabian Palacio Araya (Chile); Maria Victoria Fernandez Caso e Raquel Gurevich (Argentina) e Sonia M. Vanzella Castellar, Helena Coppeti Callai e Lana de Souza Cavalcanti (Brasil). A intenção da Rede é promover o intercâmbio entre os pesquisadores e socializar as pesquisas da Didática da Geografia produzidas na América Latina. Um dos resultados iniciais da instituição dessa Rede foi a produção do livro sobre o estudo da cidade da/na América Latina, publicado em 2010, intitulado: “Ciudades Leídas, Ciudades Contadas: la ciudad latinoamericana como escenario para la enseñanza de la geografia”, no qual contribuí com dois artigos. Em 2010 (Bogotá: Geopaideia), também foi publicado por essa Rede o livro virtual denominado: “Itinerários Geográficos en la escuela: lecturas desde la virtualidad”. Em 2011, foi criada a revista virtual da Rede, chamada Anekumene e apresentado o número 1 - Geografia, cultura y educación. Os contatos de trabalho desta Rede têm sido feitos de modo virtual, por meio de reuniões virtuais e intercâmbios mais espontâneos; por ocasião dos Encontros de geógrafos da América Latina – EGAL, e especialmente nos Colóquios da Rede – o 1º Colóquio ocorreu em São Paulo, em 2010; o 2º Colóquio, em 2012, em Santiago do Chile; o 3º em 2014, em Buenos Aires, o 4º. em 2016, em Bogotá; o 5º. em 2018, em Goiânia/Pirenópolis (sob minha coordenação), e o 6º. está programado para acontecer em 2021, de forma virtual (em razão da pandemia do Corona vírus) e com sede em Valparaizo/Chile.
Após todos esses anos de trabalho junto à essa Rede, considero que sem dúvida trata-se de um projeto exitoso. Atualmente temos essa rede como uma referência para um bom número de investigadores na área da Didática da Geografia (no Brasil, temos 15 grupos, provenientes de vários estados, que fazem parte dessa rede), com vários colegas que a ela pertencem temos feito muitos trabalhos em conjunto, intercâmbio de alunos tem sido feito por seu intermédio, e, acima de tudo, compartilhamos amizade sincera, lealdade e cumplicidade, ajuda mútua no grupo, o que favorece um ambiente de trabalho fecundo e prazeroso.
AS PARCERIAS E INTERCÂMBIOS ENTRE UNIVERSIDADES E ENTRE COLEGAS DA ÁREA
INTERCÂMBIOS
Ao longo dessa trajetória profissional, tenho me integrado a grupos de investigadores para intercâmbio e ampliação de espaços de discussão, no Brasil, em outros países da América Latina (basicamente por meio da Redladgeo) e na Europa. Como resultado dessa integração, tenho participado da constituição de grupos de discussão, realizado eventos, organizado livros, estabelecido parcerias em orientações de pós-graduandos.
No Brasil, a participação em eventos acadêmicos, em bancas examinadoras e em palestras e outros tipos de colaborações intelectuais tem sido fundamental para estabelecer intercâmbio com pesquisadores da área. A realização de atividades como essas é muito relevante para consolidar um grupo que investe sua carreira profissional em ações voltadas ao ensino de Geografia.
Nesse sentido, destaco a muito fecunda parceria e amizade que tenho estabelecido com as queridas professoras Sônia Maria Vanzella Castellar (USP) e Helena Copetti Callai (UNIJUI), que tem resultado em vários momentos de produção e de atividades de compartilhamento pessoal, intelectual e acadêmico. Com elas compartilho uma amizade longa e plena de cumplicidade, respeito, muito carinho, ajuda mútua e prazer pelos trabalhos conjuntos. Considero que posso citar outros colegas, mesmo correndo o risco de não apontar todos, por se destacarem em interlocução teórica específica e, em alguns casos, cotidiana, como Vanilton Camilo de Souza (UFG), Eliana Marta Barbosa de Morais (UFG) e os demais colegas do LEPEG e do NEPEG; Valéria de Oliveira Roque Ascenção (UFMG); Nestor André Kaercher (UFRGS); Carolina Machado (UFT); Rafael Straforini (UNICAMP); entre outros. Além desses colegas, também registro aqui a parceria com todos os meus orientandos e ex-orientandos, sem distinguir nenhum deles, que tem representado para mim uma rede de colegas, uns mais próximos que outros, com quem divido e compartilho muitos projetos, amizades e encontros de corpo e alma.
Com outros países também tenho estabelecido importantes contatos que tem permitido intercâmbio entre as Universidades e, com isso, mútuo (suponho) enriquecimento. Com o Chile, tenho mantido contatos e intercâmbio de orientações de graduandos e pós-graduandos, destacando-se a parceria com os professores Marcelo Garrido Pereira, Fabian Araya Palacio e Andoni Arenas.
Por intermédio desses contatos fui convidada, por exemplo, para expor minha pesquisa no Seminário internacional sobre textos escolares de História e Ciências Sociais, em Santiago do Chile, no ano de 2008. O objetivo do evento consistiu em abrir espaço para pesquisadores chilenos e estrangeiros discutirem e trocarem experiências sobre os trabalhos relacionados à didática das Ciências Sociais. Como resultado desse evento, foi produzido um livro (2009), no qual tenho um artigo intitulado: “Elaboración de materiales didácticos temáticos sobre el Área Metropolitana de Goiânia/Goiás”. O intercâmbio com esse país favoreceu minha ida periódica a Santiago para participar de atividades, como professora visitante, da Universidad Academia de Humanismo Cristiano, com Marcelo Garrido Pereira à frente e a Valparaíso, na PUC de Valparaizo, a convite do professor Andoni. Pude também encaminhar, em diferentes ocasiões, alunos da graduação e da pós-graduação para participar de atividades acadêmicas, sob a coordenação de Marcelo Garrido Pereira ou de Andoni Arenas, além de também receber no nosso Programa alunos desses professores.
Em La Serena/Chile, a convite de Fabian Araya, participei, como avaliadora externa, de atividades de discussão e avaliação de resultados de pesquisa por ele coordenada, em 2013. A realização dessa atividade foi, também, uma importante experiência para mim e ocasião de muita aprendizagem e de trocas. Em 2019, participei, juntamente com a professora Eliana Marta Barbosa de Morais, como representante do Brasil, de atividades em Valparaíso, juntamente com um grupo de pesquisa da PUC de Valparaíso, do qual participa o professor Andoni, que realiza um trabalho de formação docente colaborativo. Nessa ocasião, também ministramos aulas para um grupo de alunos do curso de pós-graduação em Educação em Ciências. Como resultado desse intercâmbio, fui convidada, em 2020, para ser professora externa no programa de doutorado dessa Instituição. Essa parceria, acadêmica e afetiva, e de amizade, tem se estreitado ao longo dos anos, resultando na vinda desses professores à UFG para diferentes eventos e na organização de diversas publicações no Brasil e no Chile.
Em Buenos Aires também tenho participado de algumas atividades e intercâmbio com as professoras Maria Victoria Caso e Raquel Gurevich, o que foi acentuado a partir de 2017, após a realização do meu pós-doutorado, e mais recentemente, desde 2019, mantenho contato fecundo com Verônica Hollman, também uma importante referência para a área.
Na Colômbia, participei de algumas atividades por meio de convites de professores Nubia Moreno, Alexander Celly, em Bogotá (presencialmente) e Raquel Pulgarin, em Medelín (de modo virtual). Nesse país, o contato com investigadores da área iniciou-se no Encontro de Geógrafos da América Latina - EGAL, que ocorreu na cidade de Bogotá em 2007, sobretudo com dois colegas: Nubia Moreno Lache e Alexánder Cely Rodríguez, que estavam na organização do evento. Nesse evento, fui convidada a participar de uma Mesa Redonda para falar sobre o ensino de Geografia no Brasil. Ao final do Encontro, como já mencionei, reunimos alguns colegas, da Venezuela, da Argentina, do Brasil e do Chile, e decidimos criar a Rede de pesquisadores em Didática da Geografia, conforme já foi relatado anteriormente.
A partir daí, mantive contato periódico com esses dois colegas e com Raquel Pulgarin, que, em 2012, me indicaram para participar de outro evento na Colômbia, dessa vez na cidade de Tunja. Nesse evento, fiz uma conferência e participei, juntamente com colegas do Chile, Venezuela e Estados Unidos, de uma sessão de clausura, bastante desafiadora, com o administrador (Alcaide) do Município e auxiliares, para fazer análise de problemas ambientais daquela cidade. Desse encontro, resultou um livro publicado em 2013, La Educación Geográfica ante los retos del siglo XXI, no qual está um artigo de minha autoria, intitulado La geografía y la realidad escolar brasileña contemporánea: abordaje teórico y la práctica de la enseñanza. Ainda nesse país, em 2014, participei da banca de doutoramento de Alexánder Cely Rodríguez, no Programa de Doctorado Interinstitucional em Educação, da Universidade Nacional Pedagógica de Bogotá. Em 2020, participei em Medelin, a convite de Raquel Pulgarin, como ponente da V Convención Nacional de Educación Geográfica.Relevancia social de la geografía escolar y la educación geográfica, coordenado pela Associação de Geógrafos da Colômbia.
Em Portugal, estabeleci intercâmbio com o professor Sérgio Claudino, da Universidade de Lisboa, que tem recebido orientandos meus para estágio de doutorado, sob sua supervisão. Por meio desse contato, foi possível estreitar relações com um grupo de professores portugueses, no qual destaco Luiz Mendes e Maria João, discutindo o currículo da Geografia Escolar na perspectiva da formação cidadã. Como resultado da referida parceria foi publicado na revista Apogeo de Portugal o artigo “A educação geográfica, cidade e cidadania” (SILVA e CAVALCANTI, 2008). Além dessas atividades, minha participação em uma pesquisa coordenada pela Espanha, em conjunto com Sérgio Claudino Nunes e Maria João, da Universidade de Lisboa, tem permitido aumentar os laços acadêmicos e de amizade. O contato com Portugal resultou ainda em convite, da Associação de Geógrafos de Portugal, para fazer conferência em evento internacional - VI Congresso Ibérico de Didática da Geografia. O evento ocorreu na cidade do Porto, em março de 2013, ocasião em que pude manter novos contatos com colegas de Portugal e Espanha. Após essa data, estabeleci novos contatos com o professor Sergio Claudino, em Lisboa e no Brasil, e sempre buscando trocar ideias e projetos, entre os quais destaco o Nós Propomos!, projeto coordenado por Sergio Claudino e que tem “replicas” em vários outros países e em vários estados do Brasil. Na UFG, há uma dessas “replicas”: Nós propomos Goiás!”, coordenada pela professora Karla Annyelly, articulando uma equipe, da qual faço parte, de professores de diferentes universidades, alunos da graduação, pós-graduação e professores da rede básica de ensino.
Além desse contato na Europa, também tenho estabelecido intercâmbio com colegas na Espanha: de Madrid, de Sevilha, de Valência e de Santiago de Compostela. Em Madrid, tive contato com Maria Jesus M. Gaite, que foi minha tutora de pós-doutorado, em 2005. Tive também a oportunidade de conhecer, nesse mesmo período, dois outros professores da Universidade Autonoma de Madrid, Clemente Herrero Fabregat e Alfonso García de la Vega, com os quais tenho articulado ao longo dos últimos anos várias atividades, resultando em participação em eventos, palestras, bancas julgadoras, publicações conjuntas e participação em cursos de pós-graduação na UFG e em Madri.
Em Sevilha, tenho uma parceria estreita com o professor Francisco F. García Perez (Paco), da Universidade de Sevilha, que se iniciou por ocasião do meu pós-doutorado, em razão de interesses comuns pelo ensino de Geografia e a participação de jovens estudantes nos destinos da cidade. Além de receber três pós-graduandos meus – Vanilton Camilo de Souza, Karla Anyelly de Oliveira e Daniel Valerius Malman - , em sua Universidade, fui convidada pelo professor Paco a participar com ele de um grupo de investigação, para realizar a pesquisa “Estratégias de formación del profesorado para educar en la participación ciudadana”, que foi aprovada em 2011, com financiamento pelo Ministério de Ciência e Innovación - Dirección General de Programas y transferências de conocimiento de España. Esse grupo foi composto por investigadores de Portugal, Itália, Espanha, Brasil e Chile e liderado por Francisco F. García Perez. Em razão dessa pesquisa, pude participar, juntamente com outros colegas brasileiros, de reuniões de trabalho em Sevilha, como a que ocorreu em março de 2012, por ocasião do XXIII Simposio Internacional de Didáctica de Las Ciencias Sociales. Em 2014, foi possível trazer o professor Francisco F. García Perez em um evento em Goiás, quando proferiu palestras. E, em 2017 o professor Paco voltou à UFG para participar da Banca de Doutorado de Daniel Vallerius, meu orientando.
Destaco ainda, na Espanha, os professores Carlos Macia, de Santiago de Compostela e Xosé Manoel Souto, de Valência, com os quais tenho mantido contatos periódicos para publicações conjuntas. Com todos esses professores mencionados sigo em contato regular, trocando materiais, informações, artigos, participando de bancas e outras atividades. Posso dizer que fazemos parte de uma rede, ainda que informal, de professores Ibero-americanos, com preocupações com a Didática da Geografia.
Também quero mencionar minha experiência de participar como professora colaboradora do Programa da Universidade Pedagógica de Moçambique - UP, em 2014. Essa parceria resultou de contatos feitos em razão da orientação de doutorado de Suzete Lourenço Buque, professora desta Universidade, no período de 2011 a 2013, com a professora Alice C. B. Freia. Nesse doutorado, estou como professora colaboradora desde 2013, o que resultou na minha participação como docente de uma disciplina para o Curso em setembro de 2014, e como co-orientadora, com a responsabilidade de receber alunos de doutorado desse curso no Brasil (com bolsa de Moçambique), em 2015. Em 2020, de forma remota, participei da banca examinadora do doutorado de Eusébio Máquina, na condição de co-orientadora.
Dentre as atividades de minha iniciativa, além dessas que já relatei quero finalizar distinguindo uma a mais, por entender que, por sua importância acadêmica e pessoal, não poderia deixar de mencioná-la. Trata-se da criação da Revista Signos Geográficos – Revista do NEPEG. Como coordenadora do Grupo NEPEG, em agosto de 2018, levei ao Fórum a proposta de criar uma revista acadêmica sob a responsabilidade do NEPEG. Aprovamos, em assembleia, a criação da Revista, e a partir daí iniciei as ações necessárias à efetivação desse projeto. Logo após, compus a equipe da Revista: eu, como editora chefe e Eliana Martha Morais, como editora assistente e outros colegas de outras instituições, de outros estados do Brasil e de outros países, como parte do Conselho Editorial e do Conselho Científico. Também conseguimos em pouco tempo a aprovação junto ao IESA e ao Programa de Pós-Graduação de Geografia da UFG para incluí-la no conjunto de revistas da Instituição. Após, também conseguimos rapidamente aprovação da UFG para incluí-la no conjunto de revistas do Portal de Revistas da UFG. Assim, com pouco mais de 2 anos de existência, a revista já tem dois números concluídos, na modalidade on-line e com fluxo contínuo, iniciando em 2021 seu terceiro número. Ainda que precocemente, considero que já se trata de uma revista de referência importante na área, fato que me enche de orgulho e de energia para continuar o trabalho em busca de aperfeiçoá-lo.
PARA TERMINAR DE CONTAR....
Quero terminar esse relato com umas breves palavras, entendendo que não estou relatando o fim de uma história, pois ainda quero continuá-la, realizando coisas, embora não saiba bem o que será. Atualmente, estou há uns anos com condições trabalhistas de me aposentar na UFG, mas reluto em efetivar essa condição. Não quero me aposentar ainda. Não que eu não tenha outras coisas a realizar, principalmente no âmbito pessoal. Os cuidados comigo mesmo, com minha mãe, com meu marido, com minha casa, com meus filhos e netos, além de outras atividades de viagem, de lazer, de reuniões com amigos, certamente me encheriam o tempo e me dariam muito prazer, mas penso que não seriam suficientes para mim. Ainda prefiro fazer tudo isso e continuar a ser a professora que sempre fui, por mais alguns anos, desde que a saúde permita, ministrando aulas, pesquisando, escrevendo, coordenando equipes. Sempre que possível, gostaria de fazer isso com mais tranquilidade, mais leveza, sem pressa, sem agonia, sem pressão. Não tenho planos claramente delineados para esse futuro próximo, vou deixando “a vida me levar”. Nesse momento, a preocupação com a pandemia nos deixou, a todos nós, com muitas propostas em suspenso, e enfrentando o que tinha inevitavelmente de ser feito do modo que era possível. Assim foi 2020, muitas atividades remotas, muitas lives, muitas reuniões para discutir o que fazer diante do quadro de crise que passamos. Assim, creio, será 2021. Ainda um ano muito tenso, na espera da vacina e da superação da pandemia, mas com muitas incertezas. Mesmo assim continuaremos nossas atividades. Eu pretendo continuar realizando o que a realidade demanda, conforme meu perfil pessoal e meus limites intelectuais e físicos. Nesse sentido, penso que seja importante reafirmar que não fui, e acho que nem serei, uma atuante de movimentos políticos e sociais, mas sempre defendi causas e pautei meu trabalho nessas causas, pela justiça, pela igualdade social, pela inclusão, pelos direitos humanos, pelos direitos dos povos minoritários quantitativamente, pelos pobres, pela mulher. Continuarei seguindo essas causas, com todas as dificuldades que sabemos que existem em nossa realidade brasileira e mesmo mundial, mas sem perder principalmente a esperança, de que algo posso fazer para superar dificuldades, para ajudar as pessoas a superá-las. Esperança em um mundo melhor, onde haja o predomínio de pessoas do bem, pessoas generosas, com empatia pelos outros, pessoas justas, pessoas humildes e amorosas. Esperança de que juntas essas pessoas consigam pensar e atuar em uma sociedade melhor, mais respeitosa, mais inclusiva, mais democrática e menos desigual, menos cruel, menos sectária. Esperança que às vezes se esvai, mas que sempre se renova...
Assim, termino esse relato com um poema de Mario Quintana, que fala justamente em esperança, porque a vida continua e nela a esperança renasce....sempre
"Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano
Vive uma louca chamada Esperança
E ela pensa que quando todas as sirenas
Todas as buzinas
Todos os reco-recos tocarem
Atira-se
E
— ó delicioso voo!
Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada,
Outra vez criança…
E em torno dela indagará o povo:
— Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes?
E ela lhes dirá
(É preciso dizer-lhes tudo de novo!)
Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam:
— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA…"
REFERÊNCIAS
BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Cidadania e democracia. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, n. 33, p. 5-16, 1994.
CARLOS, A.F.A. O direito à cidade e a construção da metageografia. Cidades: Revista Científica/Grupo de estudos urbanos, vol. 2, n. 4. Presidente Prudente, Grupo de Estudos Urbanos, 2005.
______________. O lugar no/do mundo. São Paulo: Hucitec, 1996.
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
FERNÁNDES, Olga María Moreno. Educación ambiental y educación para la ciudadanía desde una perspectiva planetária: estudio de experiencias educativas en andalucía. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Tesis Doctoral, 2013.
GAUTHIER, C. Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o saber docente. Ijuí: Unijuí, 1998.
HARVEY, D. Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1989.
LEFEVBRE, H. A produção do espaço. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins (do original: production de l’espace. 4ª ed. Paris: Éditions Anthropos, 2000). Primeira versão: início – fev. 2006
_____________. O direito à cidade. São Paulo: Morais, 1991.
NÓVOA, A. Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.
NÓVOA, A. Os professores e as histórias da sua vida. In.: NÓVOA, A. (org) Vida de professores. Porto: Editora Porto, 1995.
OLIVEIRA, M. P. Geografia, globalização e cidadania. Terra Livre, São Paulo, v. 1, n. 15, p. 155-164, 2000.
SACRISTÁN, J. G. Os professores como Planejadores. In: Sacistán, J G; GÓMEZ, P.A.I. Compreender e transformar o ensino. 4° ed. São Paulo: Artmed, 1998, p.127-293.
SACRISTÁN, J. G. Reformas educacionais: utopias, retórica e prática. In: SILVA, T.T; GENTILI, P. Escola S.A – quem ganha e quem perde no mercado educacional do neoliberalismo. Brasília: CNTE, 1996.
SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo. Razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996.
SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 7ªed, 2007.
SANTOS, Milton. As cidadanias mutiladas. In: LERNER, Júlio (Org.). O preconceito. São Paulo: Impressa oficial do Estado, 1996/1997. p. 133-144
SANTOS, Milton. Por uma geografia cidadã: por uma epistemologia da existência. Boletim Gaúcho de Geografia, Porto Alegre, n. 21, p. 7-14, agosto 1996.
SANTOS, Andrea Pereira; CHAVEIRO, Eguimar Felício. A constituição das identidades juvenis na metrópole contemporânea: A interface entre lugares e práticas socioespaciais. In: Os jovens e suas espacialidades. Orgs: CAVALCANTI, L. S; PAULA, F. M. A; PIRES, L. M. Goiânia: Editora Espaço Acadêmico, 2016. p. 71-92
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984.
VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
VYGOTSKY, L.S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
-
 INÁ ELIAS DE CASTRO
INÁ ELIAS DE CASTRO MEMÓRIAS DA MINHA CARREIRA ACADÊMICA
INTRODUÇÃO
Estas notas foram originalmente organizadas para o Memorial apresentado no meu concurso para Professor Titular na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ em 2011. Ao retomá-las fui fazendo as atualizações, embora o essencial da minha trajetória esteja contemplado no documento apresentado. Ao relê-lo me dou conta de uma longa carreira acadêmica que acompanhou boa parte da minha vida e que continua até o presente. É como se ao entrar na escola aos seis anos de idade jamais tivesse saído dela.
A carreira acadêmica pode ter percalços, desafios, mas nunca é monótona. Na minha geração o ápice era o concurso para Professor Titular, mas muitos não tiveram essa possibilidade. A falta de vagas, no caso das universidades federais, fez com que chegassem à aposentadoria antes. Independente da importância do título e do ritual acadêmico do concurso, esse é o momento de reflexão e revisão de toda uma vida. É essa revisão que compõe boa parte do que será aqui apresentado.
Aquela foi a ocasião de resgatar uma longa história, de mais de 40 anos de formação, de atividades de docência, de pesquisas, de orientação e formação de recursos humanos, de administração e de representação, além de momentos curtos, mas importantes, de atividades de gestão pública. Poder percorrer a memória desse tempo vivido, condensá-la, ampliá-la após dez anos da titulação e trazê-la a público é um privilégio.
Trata-se aqui de uma viagem em tempos e espaços. No meu tempo, no tempo do país e no tempo da geografia. Embora o tempo não seja linear e nem sempre o passado explique o presente, ao resgatar o passado e refletir sobre ele encontro as raízes (ou seriam razões?) das escolhas dos muitos presentes vividos nesta trajetória, especialmente o interesse pela geografia política e pela polêmica em torno das questões de uma geografia, hoje cada vez mais informada pela política, dimensão inescapável da vida em sociedade e do espaço que ela organiza.
As escolhas profissionais são escolhas de vida, nem sempre claras no momento em que são decididas, mas sempre influenciadas pelos lugares de vida, contextos familiares, social, cultural e político. Oriunda de uma família de migrantes, nordestino meu pai e portugueses meus avós maternos, nascida no subúrbio do Rio de Janeiro, na época a capital da República, meu horizonte do desejo, os limites de possibilidade de mobilidade social foram delineados neste ambiente. A condição de migrantes, e seus sonhos, e a opção dos meus pais pelo protestantismo definiram desde muito cedo a importância do esforço e da ética do trabalho para atingir metas mais elevadas. Para as meninas a profissão mais adequada era ser professora. Não era ainda muito importante no momento definir “de que”, mas de qualquer forma para que a meta fosse alcançada era preciso estudar e ir muito além da prática corrente das famílias da classe trabalhadora da época, que tiravam os filhos da escola logo que aprendessem a ler e a escrever.Era momento de arranjar um emprego e ajudar no orçamento doméstico ou quiçá um marido bom provedor. Meus pais eram sonhadores e perceberam que suas três filhas poderiam ir mais longe. Tínhamos acesso às redes do ensino público e de saúde com qualidade. Estes recursos institucionais do Estado brasileiro, disponível em partes muito restritas do território do país e para uma minoria deixava claro que morar na capital do país fazia diferença. E fez toda a diferença para mim e para minhas irmãs. Ratzel tinha razão quando elegeu a cidade capital como um tema necessário.
Ser professora era então um destino e a geografia estava latente e se manifestava esporadicamente no prazer de ouvir as histórias de meus avós e do meu pai sobre suas terras distantes e a saga das viagens. A curiosidade sobre estas terras e as condições impostas às pessoas obrigadas a abandoná-las apontavam para uma visão em que o social devia ser explicado. Paralelamente, o prazer em viajar revelava a curiosidade permanente sobre terras, pessoas e seu modo de vida, seus costumes, suas normas. Tudo isto foi potencializado desde o ensino secundário. Nunca entendi bem por que, mas minhas melhores notas eram sempre em geografia. Meus professores do segundo grau perceberam e sempre me estimulavam.
Houve, porém um fato que não deve ser esquecido nesta narrativa, embora eu não tenha ainda avaliado plenamente o seu grau de determinação. Minha irmã mais velha que eu (a do meio das três) e minha companheira de brincadeiras escolheu fazer geografia um ano antes, pelos mesmos motivos que eu. Fazer o vestibular para disciplina foi o caminho quase natural para mim. Estas foram as razões primárias e até ingênuas da escolha, mas o futuro mostrou que a decisão foi acertada.
Nas 4 partes que se seguem faço o relato da minha trajetória, demarcada pelo tempo e pelos espaços que de algum modo deram significado a cada uma. A vida acadêmica é sempre múltipla, nunca monótona e de ritmos variados. Cada compromisso com aulas, pesquisa, orientação, participação em eventos, redação de textos, administração, extensão, representação em colegiado implica tempos e movimentos exclusivos. Alguns mais acelerados outros menos. Mas, quaisquer que sejam estes ritmos, confesso que vivi cada um deles e que a carreira acadêmica é composta de ciclos nos quais o ofício de pensar, indagar e ensinar estimulam a imaginação e reforçam o compromisso ético com a sociedade, que afinal é quem nos suporta e anima e para quem nosso trabalho deve ser útil.
1. OS TEMPOS
Tempo de formação - a graduação e o golpe militar (1964-1967); (FNFi), trabalhos de campo, bolsista de IC do Centro de Pesquisas de Geografia do Brasil (CPGB); descoberta da pesquisa: a curiosidade e a dúvida como vocações.
A graduação e o golpe militar (1964-1967) - O vestibular para o curso de geografia da então Faculdade Nacional de Filosofia – FNFi da Universidade do Brasil foi um sucesso. Segundo lugar na média, mas primeiro na prova de geografia. Aos 18 anos eu fazia parte dos menos de 2% que no país tinham acesso ao ensino superior, mas desde o ano anterior, ainda secundarista, eu participava das ebulições da universidade acompanhando minha irmã e seus amigos do Diretório Acadêmico. Era o governo trabalhista do Presidente João Goulart e a luta para o aumento de vagas na universidade já havia começado, apesar da resistência dos professores mais conservadores que temiam a queda de qualidade com a “massificação” do ensino superior. As universidades públicas eram para os ricos. O ano de 1963 foi um marco no crescimento das vagas. Na geografia, a turma deste ano tinha cerca de 20 alunos, assim como a de 1964 que eu frequentei. Para alguns mestres isto tornaria a tarefa de ensinar muito mais difícil!
No início do meu primeiro ano letivo em março de 1964 o país passava por tensões políticas importantes e no então Estado da Guanabara (hoje município do Rio de Janeiro), governado pelo conservador Carlos Lacerda, a FNFi era o epicentro do movimento estudantil a favor do governo Goulart. Meu primeiro dia de aula no início de março foi inesquecível. Os estudantes bloqueavam a porta do prédio da Avenida Antônio Carlos, no centro da cidade, para impedir que o governador entrasse na universidade. Atraída pela geografia fiz minha estreia política: na força dos grupos sociais quando se organizam no espaço adequado. Era o espaço público ocupado e mobilizado para a ação, a praça contra o palácio, e uma semente que tem germinado desde então como questão para reflexão e pesquisa.
Mas a geografia me esperava dentro das salas da FNFi. Menos política do que na estreia, porém fornecendo instrumentos para perceber e interpretar a realidade. Muitos professores foram marcantes na minha formação de graduação: de geografia, Lysia Bernardes, Bertha Becker, Marina Sant’Anna, Manuel Maurício de história, Marina Vasconcelos de antropologia cultural, além outros que não cito por pura fraqueza de memória e não por falta de importância. Mas não posso deixar de fazer meu registro muito especial à professora Maria do Carmo Correa Galvão. Com ela aprendi coisas essenciais nos conteúdos oferecidos na sala de aula e nos muitos trabalhos de campo, alguns que chegaram a durar 30 dias. Ela mostrou o caminho da prática da pesquisa daquele tempo: a necessária relação entre a natureza e a sociedade, ou o que atualizaríamos hoje para os modos como cada sociedade doma sua natureza e organiza seu espaço; além da disciplina de ir a campo, de observar para discutir e analisar.
Viajamos com ela para o Centro-Oeste, para a Região Sul, para o interior de São Paulo e do Rio de Janeiro. Visitamos propriedades rurais, pequenas e grandes, e todos nós pegávamos o seu jeito de abordar os camponeses com um sorridente e sonoro “bom dia moço”. Visitamos indústrias como a Volkswagen no ABC paulista, a indústria de tecidos Renner em Porto Alegre, a porcelana Schmit e a malharia Hering em Blumenau, minas de carvão em Criciúma (até descemos numa, apesar da superstição dos mineiros quanto ao azar que a presença feminina traz), usinas de açúcar em Campos, a destilaria do Conhaque de Alcatrão de São João da Barra etc. Nesta última ganhamos pequenos frascos de amostras dos produtos: cachaça e conhaque. Como sempre voltávamos depois de o sol se pôr, extenuados na carroceria do caminhão que segundo ela era o único veículo que permitia uma ampla visão do terreno, neste dia enfrentamos um forte temporal. Temendo que nos gripássemos, pois chegamos gelados e encharcados aos nossos alojamentos, ela nos fez beber nossas amostrinhas que guardávamos para ocasião mais festiva. Nesta noite ela nos dispensou do relatório.
Como sua bolsista de Iniciação Científica do CNPq em 1966 e 1967 (à época chamada de Auxiliar de Pesquisa) tive a oportunidade de ir além e de participar em trabalhos de campo dos seus projetos de pesquisa, como o do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, que entre outras peripécias me levou ao CEASA paulista de madrugada para entrevistar os atacadistas, mas acima de tudo para observar e sentir aquele espaço e sua atmosfera impregnada de uma das dimensões da relação campo-cidade. Outro projeto foi o da geografia dos transportes do Brasil. Tive a tarefa de colher dados sobre os transportes rodoviários e ferroviários, seus fluxos, suas cargas. Eu ia às instituições indicadas por ela e voltava carregada de tabelas, mapas e muitas informações fornecidas por técnicos, funcionários e diretores. A obtenção de informações, onde elas estivessem deixou de ser mistério para mim e tem sido útil até hoje. Seja para minhas próprias pesquisas seja para orientar meus alunos. Não tenho dúvidas que “quem procura acha”, como dizia minha mãe antes da palmada, e que pesquisar é uma arte que se aprende na escola.
Enquanto isto, a praça se agitava. Eram tempos de mobilizações estudantis, cassações, censura à imprensa, delações e intrigas. O ambiente da FNFi era de efervescência, onde convivíamos com colegas da filosofia, da sociologia e de outras disciplinas engajados na resistência política à ditadura e perseguidos. Minha casa foi abrigo e ponto de passagem para muitos jovens colegas fugitivos. Meus pais não entendiam muito do que se tratava, mas eram solidários e nunca negaram o teto e uma mesa acolhedora.
Mas dentro dos muros da universidade a geografia como conhecimento passava ao largo da agitação política. Hoje acredito que mais pelas convicções de muitos de nossos mestres do que por uma deriva conservadora própria da natureza positivista do conhecimento produzido pela disciplina, como lhe foi atribuído alguns anos mais tarde. Afinal nossas leituras incluíam os mestres franceses como Pierre George, Bernard Kaiser, Yves Lacoste, Elisée Reclus, Max Sorre, Jean Lablache, Jean Brunhe, Richard Hartshorne além dos brasileiros Josué de Castro e Darcy Ribeiro. Passávamos por Ratzel e Lablache na inesgotável querela sobre o determinismo e o possibilismo, sobre o método regional ou sistemático, sobre a importância da observação e descrição rigorosas para a posterior interpretação e análise e sobre a pretensão da geografia em destacar-se como ciência de síntese, cuja melhor expressão no nosso aprendizado foi a professora Maria do Carmo. Posteriormente todos esses procedimentos seriam duramente criticados; era o tempo da pós-graduação, que vamos percorrer adiante. A história continua.
Mas este era também o tempo da geografia ativa, engajada no planejamento urbano, regional e nacional quando a geografia era chamada para diagnósticos e alguns geógrafos participavam diretamente da gestão pública, fato posteriormente criticado por Yves Lacoste como o papel de “conselheiro do príncipe” do profissional. Nossa professora Lysia Bernardes, que nos ministrava longas aulas sobre metodologia destacava esse papel, que ela mesma passou a exercer. A proximidade da nossa formação com o IBGE era grande. Tanto espacial, éramos vizinhos, como intelectual através das suas publicações, especialmente a Revista Brasileira de Geografia. O legado desta formação inclui a descoberta da pesquisa, a curiosidade e a dúvida sobre consensos absolutos como vocações.
A formação didática foi uma experiência do último ano do curso, em 1967, às vésperas dos sombrios anos de chumbo do governo Médici da ditadura militar, que se impuseram em 1968. Enfrentar os alunos inteligentes, irrequietos e politizados do CAp – Colégio de Aplicação da UFRJ era um novo desafio e uma nova aventura. Muitos ativistas políticos e representantes legislativos saíram daquelas turmas. Alguns colegas sucumbiram naquele turbilhão. Eu sobrevivi e, apesar do nervosismo dos iniciantes, fui capaz de enfrentar as questões daquelas pequenas feras que dentro daqueles muros podiam respirar liberdade, participação e democracia, mesmo se lá fora tudo isto desaparecia. Descobri que o prazer de dar aulas vinha do debate, do aprendizado que o ensino possibilita. Muitos anos mais tarde, no agradecimento aos meus alunos, lembrei a sabedoria dos franceses que tem um mesmo vocábulo para ensinar e aprender. Mas devo fazer justiça, minha sólida formação me salvou.
Tempo de trabalho - A dupla vocação – prazer de ensinar e de indagar, Ensino médio e superior nos anos de chumbo (1968-1974)
O último semestre do curso de graduação foi sombrio. A colação de grau no início de 1968 foi melancólica, não fizemos festa, seria um acinte aos colegas que se perderam pelo caminho. Era hora de trabalhar com diploma e deixar de ser explorada por colégios de segunda linha e cursinhos que afinal nos garantiam uma pequena renda adicional e nos permitiam praticar o ensino. Foi um tempo de aplicar o conhecimento acumulado na graduação e de continuar aprendendo com cursos rápidos sobre temas variados oferecidos por geógrafos do IBGE ou por outros professores de outras universidades.
Mas este tempo me permitiu consolidar minha dupla vocação: o prazer de ensinar e de indagar. Este último, porém, ficou relegado, ou limitado aos debates em aula. Na verdade, as chances de praticar a pesquisa do modo como fui treinada na universidade estavam fora de cogitação e mergulhei na experiência de ser professora do ensino médio por pelo menos quatro anos. De 1967, no último ano de graduação, como estagiária do ensino médio estadual até 1970 quando fui convidada a trabalhar na Universidade Gama Filho e tive meu primeiro contato com o ensino em curso superior. Mas a sombra da repressão espreitava nas salas de aula.
Dar aula de geografia para adolescentes foi uma experiência única e hoje percebo que o sucesso com meus estudantes vinha da intuição da geografia como uma experiência no mundo que nos cerca e como uma perspectiva que ajuda a perceber nosso lugar nele. Jovens são sensíveis e curiosos sobre o mundo que os cerca. O uso dos atlas escolares disponíveis, dos livros didáticos e do estímulo à imaginação sobre o distante e o diferente foram recursos inestimáveis.
Em 1970, as aulas na Universidade Gama Filho iniciaram minha incursão pelo ensino superior e a vontade crescente de fazer pós-graduação. Mas foi também o momento da minha experiência de trabalhar no ambiente opressivo de um regime de exceção, de me sentir vigiada em relação aos livros indicados e aos debates em sala de aula. Fui chamada a atenção muitas vezes: porque discutia com meus alunos a exploração do minério da Serra do Navio por empresas americanas, ou por indicar os livros de Yves Lacoste. Não cheguei a perder meus empregos, mas estive em risco algumas vezes. Como eu era uma professora bem avaliada pelos alunos, os pragmáticos Diretores das instituições privadas eram permissivos; nos colégios estaduais a tolerância era explícita e apenas falávamos mais baixo.
O exercício do magistério me fez ver logo que o professor é um eterno aprendiz. Mas eu já estava inoculada pelo veneno da pesquisa. Eu queria dar aulas, mas também indagar, abrir novas frentes no meu conhecimento e na minha formação. Nesse tempo eu já estava convencida da minha escolha profissional e da minha vontade de continuar na escola: para ensinar, para aprender e para ampliar minha visão de mundo e repassá-la aos meus estudantes. Sempre que as ofertas se apresentavam eu voltava aos “bancos” para fazer cursos de Aperfeiçoamento e Especialização de média duração que possibilitaram aprofundar temas estudados na graduação recentemente concluída. Entre estes destaco “As grandes regiões clímato-botânicas”, na AGB-RJ em 1968, ministrado pela professora Maria do Carmo Galvão e “Desenvolvimento regional”, no Instituto de Geociências da UFRJ, em 1969, com a professora Bertha Becker.
Ainda não era tempo de escrever, esta experiência veio mais tarde com a pós-graduação. Caminho natural para minhas ambições e compromissos profissionais.
Tempo de pós-graduação e de pesquisa; mestrado (1972-1975); A descoberta de novos espaços para o conhecimento geográfico; A geografia ativa: Consultoria e inserção na gestão pública (1977-1980); Professor Assistente da UFRJ - A experiência no IFCS; A descoberta de novos espaços para o conhecimento geográfico
Em 1972 teve início o Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ. Se não fui a primeira a me inscrever na primeira turma de mestrado, certamente estava entre os primeiros que buscaram o novo curso. Nestes tempos, a FNFi já não existia e a Universidade do Brasil tornou-se UFRJ. A geografia e o CPGB (Centro de Pesquisa de Geografia do Brasil) ocupavam temporariamente o prédio do Largo do São Francisco, antes ocupado pela Escola de Engenharia e hoje pelo IFCS (Instituto de Filosofia e Ciências Sociais), enquanto o prédio da Ilha do Fundão não ficava pronto. Lá fora a repressão apertava seus tenazes. Ainda era tempo de silêncio e medo.
A geografia também mudara. A revolução quantitativa estava em marcha. Nosso conhecimento de campo, de observação, de descrição e de análise já não servia para grande coisa. Precisávamos agora de um claro recorte conceitual capaz de nos conduzir com segurança a mensurar adequadamente os fenômenos a serem analisados. Nossos mestres eram outros: David Harvey do Explanation in Geography, Brian Berry e os métodos quantitativos e classificatórios, Petter Hagget e Richard Chorley com seu Models in Geography, Abler, Adams e Gould com seu inescapável Spatial organization: The geographer’s view of the world. A regionalização passou a ser uma questão de classificação de áreas e a região um recorte adequado para o fenômeno a ser analisado. Ou seja, nossos métodos também mudaram e as tentativas de resgatar o debate levantado por Harstchorne não foram suficientes para manter nossos vínculos com o passado. Tudo era muito atordoante, mas nem desconfiávamos do que ainda estava por vir...
A quantificação abriu novos campos, polêmicas e debates acalorados sobre o “novo” e o “velho” na disciplina. Alguns de nossos professores do curso de mestrado eram os mesmos da graduação e seus esforços para seguir a nova onda teórico-metodológica eram enormes. Tínhamos a matemática e a estatística como disciplinas obrigatórias, além da Teoria Geral de Sistemas. A informática dava seus passos e nós éramos levados a montar algoritmos e entender a linguagem binária daquelas máquinas sinistras, muito diferentes das amigáveis interfaces de hoje dos sistemas Windows ou da Apple.
Tudo era novo, novamente, e vivíamos uma fase de transição. O eixo de concentração do curso de mestrado era o desenvolvimento urbano-regional. A interdisciplinaridade com a economia espacial era evidente e devíamos percorrer a literatura sobre as teorias do desenvolvimento regional, a economia regional, disparidades espaciais do desenvolvimento e foram recuperados os modelos e padrões espaciais de Christaller e Lösch. Mas estávamos ainda longe do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky. Nossos mestres vinham de uma formação liberal com pinceladas de socialdemocracia de matriz keynesiana e era dentro deste campo que o debate se fazia e a questão era sobre as pré-condições e os percursos do processo. Lemos as teorias de W. W. Rostow (The stages of economic growth) sobre as etapas do desenvolvimento dos países e as condições para o “take off”. Também Gunnar Myrdal e seu livro sobre “Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas”, além do inescapável estudo de Friedman sobre os padrões espaciais do desenvolvimento, cujo modelo das relações centro periferia foi amplamente aplicado por nossos mestres, especialmente pela professora Bertha Becker. Na maioria dessas leituras o Estado era explícita ou implicitamente presente como um indutor do processo de desenvolvimento. A questão do planejamento era central e as políticas públicas para o desenvolvimento regional eram estudadas de várias maneiras. Estávamos no tempo da CEPAL na América Latina e Celso Furtado e SUDENE no Brasil e da versão do nacional desenvolvimentismo conduzido pelos governos militares.
Como os métodos quantitativos estavam na ordem do dia na geografia, novas exigências metodológicas estimulavam a busca de cursos, mesmo que rápidos, e palestras que complementassem a nova formação e ajudassem as atividades de pesquisas que se avizinhavam. Destaco a “Evolução recente da pesquisa histórica”, com o professor Frédéric Mauro, em 1972 e o de “Métodos quantitativos aplicados à regionalização”, com a professora Olga Buarque de Lima em 1974. Em ambos foram apresentados os métodos e as dificuldades enfrentadas naquele momento para a conceituação e quantificação nas ciências sociais.
Neste ambiente acadêmico aconteceram minhas primeiras incursões pela escrita de artigos científicos. No meu tempo de graduação, estudantes ficavam restritos a trabalhos das disciplinas e não eram estimulados a publicar seus textos ou apresentá-los em Congressos, como fazemos hoje com nossos bolsistas de IC. Mas o mestrado era uma etapa nova e, como hoje, éramos estimulados a publicar nossos textos bem avaliados nas disciplinas. Mas como eram tempos de transição, verifico quanto os textos sobre Madureira e Maricá, escritos com outros colegas refletem este momento. Fomos a campo, observamos, descrevemos, colhemos informações, analisamos, mas aplicamos o modelo de Christaller!
O primeiro projeto de pesquisa foi o desafio de conduzir uma investigação que, mesmo sob supervisão, colocava à prova minha capacidade escolher um tema, um problema e definir as etapas e os procedimentos necessários para alcançar um resultado que atendesse às exigências para o título de mestre. A dissertação, como não poderia deixar de ser, foi uma aplicação daquilo que nos foi oferecido como recurso para a pesquisa. O tema do desenvolvimento espacial em um país tão desigual como nosso me atraiu e a literatura sobre este processo trazia ao debate a questão sobre a diferença entre desenvolvimento e crescimento e sobre os mecanismos de ambos os processos. O computador permitiu fazer uma análise fatorial de todos os municípios brasileiros, a partir de variáveis previamente selecionadas, com dados obtidos no IBGE para identificar e analisar “Os desequilíbrios e os padrões espaciais do desenvolvimento brasileiro”, utilizando informações estatísticas e selecionar variáveis para todos os municípios brasileiros. O tema era também importante naquele momento e minha orientadora, a professora Lysia Bernardes, dispunha de bagagem prática sobre o assunto. A dissertação de mestrado teve boa repercussão, pois tratava da questão dos desequilíbrios espaciais, permanente questão do processo de desenvolvimento das nações periféricas.
O segundo projeto de pesquisa foi fruto dessa experiência e possibilitou expandir os resultados a partir do foco na construção de indicadores sociais, uma perspectiva que, naquele momento, vinha se impondo, especialmente no IBGE. Com base na metodologia utilizada na dissertação, novos dados foram incorporados e os resultados foram ampliados para construir os indicadores e definir uma tipologia e classificação dos níveis de desenvolvimento dos municípios para a Fundação MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização de Adultos) e outra para os municípios das Regiões Metropolitanas utilizada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS).
O primeiro foi publicado no formato brochura pela Fundação e distribuído por todos os municípios onde suas bases estavam organizadas, ou seja, praticamente todos. A demanda por este tipo de material para a análise era grande e a curiosidade sobre o universo dos municípios brasileiros no contexto de uma análise comparativa resultou em matéria que destacou a importância do trabalho no Jornal do Brasil, noticiário importante no período. Minha primeira experiência de divulgação do trabalho fora do ambiente acadêmico foi gratificante e me dei conta da importância de poder oferecer à sociedade informações que possam ser apropriadas e utilizadas.
Já estávamos no governo Ernesto Geisel e a preocupação com as grandes obras de infraestrutura para a modernização da economia. Era o governo autoritário dirigindo o Estado e tomando as rédeas da direção do processo. O planejamento estava na ordem do dia e a geografia dava sua contribuição através de levantamentos e análises do território, suas características e diferenças. Este era um conhecimento do qual nenhum Estado pode abrir mão, aliás, em nenhum tempo e lugar.
Entre 1977 e 1980 foi a oportunidade de trabalhos de consultoria e inserção na gestão pública, ou seja, a geografia ativa tão valorizada no momento. Este foi um tempo novas práticas e de algumas publicações que expressavam esta atividade no período. As portas abertas pelo mestrado favoreceram uma experiência bem diferente daquela da sala de aula, seja para ensinar seja para aprender. A competência do geógrafo era requisitada para produzir informações e análises direcionadas a ajudar a tomada de decisões. Tratava-se aqui de um outro formato de pesquisa, mas com aplicação do mesmo rigor do método de investigação e do conhecimento produzido, destinado, porém a um público para além dos muros da escola. A experiência foi um desafio que fui capaz de cumprir, embora tenha descoberto que os trabalhos sob encomenda me motivavam menos por que eu preferia a liberdade da pesquisa acadêmica. Este não se consolidou como um nicho adequado às minhas indagações, embora reconheça a importância do conhecimento geográfico para a sociedade e, certamente, para os seus governos.
Entre 1973 e 1987 tive a oportunidade de consultorias no Centro de Documentação da Fundação MOBRAL, do Ministério de Educação (1973-1975);
na Companhia Morrisson-Knudsen de Engenharia para a Proposta de Projeto Educacional para a área da Superintendência da Amazônia (SUDAM, 1975); no Grupo de Trabalho para o Plano de Localização das Unidades de Serviço do Instituto Nacional da Previdência Social, do Convênio IPEA/INPS, para o Diagnóstico das Áreas Metropolitanas para a Regionalização dos Serviços de Saúde; no Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, para a elaboração de estudos e documentos referentes às áreas Social e Institucional do Brasil (1978-1979); na Fundação Legião Brasileira de Assistência para a Coordenação do Projeto de Regionalização dos Municípios para Programas de Assistência Social (1978); na Fundação Legião Brasileira de Assistência para a Organização da informações sobre as atividades e a elaboração de um Sistema de Indicadores para Avaliação de Desempenho e para o Planejamento dos Programas Institucionais (1987).
Ainda nesse período (1976-1979) ocorreu minha rápida inserção na gestão pública. Fui a primeira geógrafa contratada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS e encarregada de definir qual seria a função deste especialista. Não lembro exatamente os termos da definição no estatuto daquele novo Ministério, mas sei que sua tarefa seria construir uma base de informações que pudessem ser úteis à tomada de decisões dos agentes públicos. Hoje percebo o quão pretensioso isso era, mas de qualquer forma era a importância do conhecimento geográfico como recurso para as políticas públicas. Inicialmente estive lotada na Secretaria de Assistência Social desse ministério e posteriormente na Secretaria de Articulação entre Estados e Municípios – SAREM do então Ministério do Planejamento. Neste período pude ter uma perspectiva do processo decisório e das políticas públicas em ação, ou da geografia ativa, como diriam os franceses.
Pude perceber a importância do conhecimento que o geógrafo é capaz de oferecer para instituições públicas e privadas e meu pouco talento executivo na burocracia estatal e o quanto meu interesse continuava sendo investigar e analisar a complexidade do território e do federalismo no país, apesar do centralismo federal das decisões. A negociação e a mediação com os níveis de gestão dos estados e municípios eram necessárias, por mais que o poder estivesse concentrado. Esta experiência foi reveladora dos meandros do poder na base institucional do Estado e tem sido útil para a reflexão e teorização, desde a tese de doutorado.
A possibilidade de participar da administração federal foi fruto de laços familiares. Meu companheiro, que havia sido meu professor no mestrado, era um competente quadro da direção do MOBRAL e me convenceu da importância de vivenciar o processo de definição e de aplicação de políticas públicas. Ante minhas hesitações em fazer parte de um sistema que eu criticava e rejeitava, ele chamou a atenção para a grande diferença entre Estado, governo e sociedade e a lição de que para que haja transformação é preciso conhecer os mecanismos de reprodução daquilo que se quer transformar. Lição que aprendi e que aprofundei no meu doutorado e que é sempre recuperada. A sociedade brasileira era maior que seus governos autoritários e sobreviveria a eles. E eu não podia esquecer o quanto havia sido beneficiada por políticas sociais como ensino público de qualidade, saúde, bolsas de estudo de iniciação científica e de mestrado. Ou seja, o Estado não devia ser ignorado, mas ajustado aos interesses e necessidade da sociedade. Aprendi mais tarde que o Estado pode ser coercitivo no limite da sua legitimidade, mas que os governos não tem esse direito. O Leviatã não deveria ser aniquilado, mas domado e colocado a serviço da sociedade. Este conhecimento prático tem me ajudado a não abandonar na geografia política a escala estatal, mas ao contrário, tentar compreendê-la cada vez mais, inclusive na sua dimensão territorial.
Mas, nesse período, não abandonei minhas atividades de magistério superior, que agora incluíam também a PUC Rio de Janeiro e a própria UFRJ onde ingressei em 1979 como Professor Assistente após um concurso. Como é comum acontecer, aos novatos são atribuídos os cursos menos atraentes e eu fui indicada para ministrar Geografia Humana e Econômica para o curso de Ciências Sociais e Geografia Regional para o curso de História, ambos no IFCS (Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ). Oferecer cursos nas ciências sociais era o terror dos professores de geografia. Novo desafio, agora de enfrentar os estudantes de sociologia intelectualmente libertários, politicamente ativos e mergulhados na atmosfera que anunciava o fim dos governos militares. Este contato direto com as perspectivas epistemológicas que delineavam a visão de mundo e da sociedade nas ciências sociais abriu novos horizontes e mais tarde ajudou na difícil escolha do curso de doutorado. Esta experiência favoreceu o diálogo com as ciências sociais, incorporando questões novas colocadas por eles e ao mesmo tempo lhes demonstrando como a incorporação da dimensão espacial complementava e enriquecia a análise sociológica. Estávamos no tempo do David Harvey de “Social justice and the city” e dos problemas colocados pela rápida expansão do espaço urbano no país. Os futuros sociólogos aprenderam que não era possível compreender a sociedade urbana sem compreender seu espaço.
Essa influência ajudou a configurar meu terceiro projeto de pesquisa e o balanço desse período no Largo do São Francisco foi bem positivo. Alguns alunos de história e de ciências sociais foram cursar geografia, porque descobriram que a disciplina era interessante tanto para o magistério como para pesquisa. Meu primeiro bolsista de Iniciação Científica era aluno de sociologia e morava na Vila Kennedy, conjunto habitacional na Zona Oeste do Rio de Janeiro, construído no processo de remoção de favelas durante o governo Carlos Lacerda, e acabou se engajando no meu primeiro projeto de pesquisa como professora Assistente do Departamento de Geografia: “Políticas públicas e estruturação interna urbana – um estudo de caso no Rio de Janeiro” entre 1980 e 1981. O tema estava na agenda de pesquisas das ciências sociais e na geografia urbana e era um excelente campo para a interdisciplinaridade. Duas monografias de graduação foram concluídas neste projeto.
Poucos anos depois, os achados desta pesquisa resultou no artigo “Conjunto habitacional: ampliando a controvérsia sobre a remoção de favelas”, tema que na época mobilizava corações e mentes em várias especialidades no país, e foi publicado na prestigiosa Dados - Revista de Ciências Sociais, em 1983. Este foi também apresentado no Congresso da UGI e publicado em inglês, no mesmo ano, como "Housing projects - elarging the controversy about squatter removes” na Revista Geográfica do Instituto Panamericano de Geografia e História. Alguns anos mais tarde, quando eu já estava no doutorado, fui convidada pela professora de Metodologia da Pesquisa no IFCS para um seminário com seus alunos sobre essa pesquisa. Ela revelou que há alguns semestres vinha adotando o artigo da Revista Dados como exemplo de metodologia correta na condução de uma investigação. Fiquei realmente muito feliz e me senti recompensada por contribuir para a interface da geografia com as ciências sociais e especialmente por deixar claro o quanto temos a oferecer. Agora, depois de tanto tempo, revendo meus consultos percebo como as relações do espaço com a política me instigaram desde sempre!
Mas deve ser registrada ainda a dissertação de mestrado de Jurandyr Carvalho Ferrari Leite, também aluno de ciências sociais que buscou mais tarde o PPGG e minha orientação para sua pesquisa: “Projeto geopolítico e terra indígena. Dimensões territoriais da política indigenista”, defendida em 1999. Esta foi mais uma aproximação de estudantes do IFCS que tiveram seus interesses despertados pela geografia.
Nos primeiros anos como professora assistente da UFRJ, reconheço que era grande o sofrimento dos meus alunos, da geografia ou das ciências sociais, com as novas leituras metodológicas que eu lhes impingia como resultado da conclusão do mestrado e dos novos ventos que começavam a soprar na geografia. Através das dúvidas que eles apresentavam eu tomava consciência da confusão mental que algumas vezes eu mesma vivia. A transição da formação da graduação para a pós-graduação foi dolorosa e nem um pouco linear, e ao final da dissertação de mestrado e de aplicação dos métodos quantitativos que eu tão ciosamente utilizara, a geografia crítica fez sua aparição em Fortaleza, em 1968. O David Harvey do Explanation in geogragraphy metamorfoseara-se no de Social Justice and the city. O Milton Santos do Manual de geografia urbana era o de Por uma nova geografia. Eram tempos duros para um geógrafo novato. Mas era também tempo de debates estimulantes, de muita polêmica e do confronto de ideias, fundamentais para os avanços do conhecimento e do enriquecimento da agenda da geografia.
Embora as questões das políticas públicas e seus impactos sobre o espaço urbano fossem um campo aberto e minha inserção nele já houvesse dado alguns frutos, o problema regional que emerge da escala nacional, como ponto de vista para a análise do processo de desenvolvimento e suas disparidades territoriais, continuava sendo para mim apaixonante. Confesso que, apesar da competência de importantes mentores intelectuais, entre eles o David Harvey do Explanation in geography, nunca fiquei muito convencida sobre o recorte regional como mera “classificação de área” ou como um recurso a ser aplicado para definir uma determinada área para uma ação específica e que só tem existência no curso desta ação. Afinal, meu pai era da Região Nordeste e esta não é uma noção trivial. Este debate estava longe de ser esgotado e percebi mais tarde que a região se tornou um fantasma que de vez em quando me assombrava. O doutorado me permitiu exorcizá-lo.
O tempo de doutorado (1982-1988) implicou uma difícil escolha. O país vivia a distensão e a redemocratização e na geografia era tempo de novos fundamentos teóricos e metodológicos. Na política vivíamos em tempos de uma “abertura lenta e gradual” para o encerramento do ciclo de governos militares. Ainda não era a democracia, mas respirávamos um pouco melhor. Na geografia, as novas reviravoltas teórico-metodológicas que eclodiram no 3° Encontro Nacional de Geógrafos, realizado em julho de 1978 em Fortaleza – CE, com o confronto entre a "geografia clássica" e "geografia crítica", se impunham com grande vigor. Críticas contundentes ao passado positivista da disciplina eram lançadas e, mais uma vez, o que havíamos aprendido antes deveria ser revisto. Tanto a formação da graduação, definida como descritiva e alienada, e a da pós-graduação como um aprofundamento desta visão, apenas reforçada por métodos estatísticos que mais obscureciam do que revelavam a realidade.
Era neste ambiente de polêmicas e efervescência intelectual que, já professora assistente e tendo oportunidade de continuar minhas pesquisas, impunha-se a realização do doutorado. As opções no Brasil eram muito limitadas e outros colegas do departamento estavam diante da mesma circunstância e as escolhas foram variadas: Inglaterra, França, Estados Unidos, Espanha, Portugal. Para mim havia a possibilidade de cursá-lo na França, Inglaterra ou em Portugal, mas problemas pessoais do momento me impediram de fazer a escolha de atravessar o Atlântico. Da mesma forma, não me via percorrendo a Via Dutra ou a ponte aérea Rio - São Paulo uma vez que ainda não havia curso de doutorado em geografia no Rio de Janeiro. Mas havia por aqui o IUPERJ – Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e centro de excelência na pós-graduação em Ciência Política e Sociologia, sugerido por uma colega do Departamento e que vinha ao encontro do meu interesse pela política e da minha familiaridade com os temas das ciências sociais. O doutorado em ciência política tornou-se uma
possibilidade concreta. Minhas indagações e dúvidas epistemológicas e a convivência com os alunos de ciências sociais, suas inquietações, discussões e polêmicas apontavam para o doutorado no IUPERJ. Cedo percebi que, mesmo de modo um tanto paradoxal, meu contato com a nova agenda e os novos debates da geografia, influenciados pelos princípios teórico-metodológicos do marxismo, estava longe de ser tranquilo ou trivial.
Fui selecionada para o curso de doutorado. A primeira geógrafa aceita com alguma desconfiança no ambiente exclusivo dos cientistas sociais. Meu orientador foi o professor Sérgio Abranches, jovem e competente e com grande interesse pelas políticas públicas e com grande sensibilidade para a geografia. Meu professor de teoria política clássica foi Wanderley Guilherme dos Santos, seguramente o cientista político mais brilhante e inovador do país; de história política do Brasil foi José Murilo de Carvalho, membro da Academia Brasileira de Letras, intelectual do ano e pesquisador irrequieto. Outros professores foram Olavo Brasil, Amaury de Souza, Elisa Reis, Eli Diniz, Renato Borghi, Carlos Hasenbalg, Cesar Guimarães, Simon Schwartzman. Para cada um deles a perspectiva teórica era fundamental e percorremos a literatura dos clássicos da filosofia política: “O príncipe” de Maquiavel, “O Leviatã” de Hobbes, “O segundo discurso sobre o governo” de Locke, “O contrato Social” de Rousseau, “Do Espírito das Leis” de Montesquieu, “O antigo regime” e “Da democracia na América” de Tocqueville, “Economia e sociedade” de Weber, o “Dezoito Brumário” de Marx, além de muitos outros como Gramsci, Lênin, Trotsky, Robert Michels, Gaetano Mosca, Norberto Bobbio etc. No final do curso fui apresentada por Elisa Reis aos textos de Michael Mann e o comentário de que finalmente ela entendera, com este autor, o porquê da minha insistência em incluir o território nas discussões da ciência política.
O mergulho nesse universo teórico conceitual plural e a experiência dos debates que ideias contraditórias suscitam foi um aprendizado duro no início, mas que acabei incorporando como modo de refletir e de enfrentar problemas novos. Além disso, para minha grande surpresa cada vez mais eu encontrava a geografia subsumida ou explícita nesses textos: a relação entre o controle do território e o poder era clara em Maquiavel e em Rousseau, o problema do determinismo da
natureza teve em Montesquieu legitimação teórica, a relação entre o território e suas disponibilidades de recursos como condição necessária para a democracia em Tocqueville. Essas eram algumas das fontes de nossos teóricos, mas eu não tinha, até então, uma visão clara.
O Estado como problema e a questão de “porque existe governo” são centrais na ciência política. Em ambos os casos o território encontra-se subsumido e a relação com a geografia é evidente. Foi nesse desdobramento possível que procurei definir o tema e a questão central da minha tese de doutorado. E aqui o fantasma da região se materializou na indagação sobre o papel da política no recorte regional. A interdisciplinaridade era clara e o tema atendia à exigência do curso de que a tese fosse de ciência política e a minha de não me afastar da geografia. Afinal este continuava sendo o meu ofício.
A tese de doutorado foi meu quarto projeto de pesquisa: a importância da Região Nordeste e de sua elite política no histórico suporte ao poder central, fosse ele democrático ou autoritário, ia pouco a pouco se delineando para mim como uma questão que merecia ser investigada. Fui estimulada pelo meu orientador a seguir em frente e elaborar este novo projeto, diferente do que havia apresentado para ingressar no doutorado, influenciado pelas minhas incursões nas questões das políticas públicas na cidade. Após ser impactada por todas as leituras do primeiro ano de curso, a questão da política habitacional e do espaço urbano no país, meu projeto original, pareceu menos instigador do que a inserção territorial das estratégias se sobrevivência da velha, mas sempre renovada, elite política nordestina.
O tema não foi bem aceito por alguns pares da geografia. Era tempo da crítica radical ao conceito de região, da negação da política e da crítica ao Estado como um instrumento dos interesses capitalistas. Afinal, o que tinha relevância para as lideranças intelectuais na disciplina eram a economia política e seus atores privilegiados, ou seja, aqueles no comando das grandes empresas capitalistas, e o desenvolvimento desigual e combinado. Política e região eram vistas como resquícios do passado positivista e conservador da disciplina e a perspectiva de estudar a elite regional remetia a algo pior, ao pensamento liberal, considerado por definição aquiescente com injustiças. Mas, felizmente, a minha tese era em ciência política, pouco afeita a reducionismos, e espaço intelectual de convivência e diálogo entre matrizes teóricas as mais variadas. Pude passar ao largo das críticas e desenvolver minha pesquisa que pôs à prova minha capacidade de investigar e meu aprendizado de campo que vinha da graduação. A dimensão quase religiosa da adesão a paradigmas que não comportam dissensos e polêmicas era para mim incômoda na geografia desde a década de 1980. Em se tratando de ciência percebi que meu ateísmo foi de grande ajuda.
Para minha tese a base conceitual utilizada foi a dos debates sobre a região, que eram bem mais frequentes na geografia, e sobre o regionalismo mais presentes na ciência política e na sociologia. Os temas do regionalismo e da identidade regional na nossa disciplina eram abordados em diferentes perspectivas conceituais. Na década de 1980 muita tinta se gastou nessas discussões e algumas polêmicas importantes opunham as correntes materialistas às outras abordagens, fossem humanistas, institucionalistas ou econômicas. No conjunto das ciências sociais e da geografia, a bibliografia disponível era considerável, especialmente na França e na Inglaterra, o que indicava a importância do tema e as muitas discordâncias em torno da melhor forma de abordá-lo. A inclusão da elite – política, econômica ou cultural – não era estranha, embora menos frequente.
Como o meu interesse era identificar o modus operandi da elite política regional, a operacionalização foi feita com recurso ao material empírico disponibilizado pelos discursos parlamentares das legislaturas de 1945 a 1987 na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. Outras fontes e informações foram utilizadas, mas a análise temática dos discursos selecionados através de amostra foram os mais importantes e mais originais no modo como foram tratados. A repercussão da tese foi imediata e seus resultados muito debatidos – a favor e contra – em mesas redondas e seminários, no Rio de Janeiro e outros estados, mas especialmente na Região Nordeste. A pesquisa revelou a importância dos espaços institucionais ocupados pela elite política regional na condução do processo de desenvolvimento e do ethos nele implicado. A questão Nordeste, tão discutida e imposta à nação como um destino manifesto às avessas pôde ter uma nova maneira de ser pensada.
Fui convidada para uma longa entrevista no Caderno Ideias do Jornal do Brasil, para debates na televisão, além de comentários em Editorial do JB. Ou seja, a tese ganhou a rua. A editora Bertrand Brasil ofereceu-se para publicar o livro. Mas eu já estava de malas prontas para o pós-doutorado e adiei a publicação para a volta. Em 1992, meu primeiro livro, “O mito da necessidade. Discurso e prática do regionalismo nordestino” foi lançado. Mais debates e polêmicas, mas principalmente a consolidação de um tema e de uma abordagem que continuaria a produzir resultados acadêmicos importantes, como artigos e teses de doutorado, ironicamente na própria Região Nordeste e também na vizinha Argentina, onde uma dissertação foi feita utilizando a mesma metodologia para abordar a Região do Chaco, com grandes analogias com o Nordeste brasileiro.
Não posso deixar de mencionar a frieza com que o livro foi recebido em boa parte da geografia brasileira. Afinal, ele tratava da ideia de região a partir do discurso identitário elaborado por atores políticos e recorria a uma literatura teórico conceitual que não era usual na geografia crítica então praticada e não usava o jargão do materialismo histórico, embora Gramsci tivesse sido muito utilizado. Era o momento de um radicalismo epistemológico estreito, sem lugar para debate, especialmente se conceitos como política, região e estado fossem abordados.
Na França, quase que simultaneamente, mas só vim conhecer mais tarde, Yves Lacoste coordenava uma enorme obra, em três volumes, chamada “Géopolitique des régions françaises”, publicada em 1988. As regiões eram analisadas como recortes territoriais que construíam sua identidade e se diferenciavam a partir da história de suas elites políticas, seus discursos, interesses, conflitos e acordos. Todo o processo que eu analisei para compreender a Região Nordeste brasileira estava lá, em várias regiões francesas, o que reforçava minha convicção de que vieses ideológicos não são capazes de mudar a realidade estudada. Melhor ficar longe deles. Lacoste optou pelo uso do termo geopolítica ao invés de geografia política, que era o que se tratava na realidade. Essa estratégia escapista e simplificadora de usar o rótulo da geopolítica por negar sua tradição como disciplina tem consequências nefastas até o presente. A geopolítica do título apontava que todo este processo de construção se fazia no confronto com outros espaços regionais e com o poder central, mas o uso da palavra foi certamente uma recusa de tributo à geografia política, que ele tanto criticava, e que era afinal o conteúdo da obra, o que não deixou de ser provocativo. Ou seja, por via da política eu sempre chegava à geografia.
Trinta anos depois, está sendo preparada uma reedição de O mito da necessidade por insistência de alguns colegas e ex-alunos. O ambiente intelectual hoje talvez esteja mais preparado para pensar a geografia em paralelo com os processos de formação da região e do regionalismo, com a política como negociação necessária frente aos conflitos de interesses, que não pode jamais ser reduzida ou substituída pela ideia de poder, e com centralidade territorial de mando e obediência do Estado, que permanece ainda como instituição inescapável da vida contemporânea.
2. OS ESPAÇOS
O pós-doutorado na França (1990-1991); espaço de novas descobertas, a democracia e a cidadania como experiências do cotidiano; a França e o CEAQ
Após o doutorado, o pós-doutorado foi o caminho natural para buscar uma interlocução no exterior. Neste ínterim, uma entrevista com o professor Michel Maffesoli, sociólogo da Universidade de Paris V - Rénée Descartes, Sorbonne, chamou minha atenção. O regionalismo era o tema analisado naquele momento. Consultei seus trabalhos e verifiquei como o “genius loci”, ou seja, a identidade da sociedade com o seu território era um objeto de investigação necessário. Eu continuava encontrando a geografia fora da geografia nacional. Apresentei meu projeto: Espaço regional e modernização tecnológica: limites e potencialidades do regionalismo, escrevi para ele, fui aceita para um estágio de pós-doutorado, obtive uma bolsa do CNPq e arrumei as malas para Paris.
No ano de 1990 e primeiro semestre de 1991, participei das atividades do CEAQ – Centre de Recherche sur l’Actuel et Le Quotidien, na Université Réné Descartes. Além de seguir os seminários sobre imaginário político do professor Maffesoli, pude participar de dois dias de debates em torno da obra do antropólogo Gilbert Durand. Foi a oportunidade de acompanhar também os debates na geografia, especialmente a obra de Jacques Lévi e de Yves Lacoste e a polêmica entre eles. Tive também acesso a uma coletânea organizada por Phillippe Boudon, arquiteto preocupado com o problema epistemólogico da escala na arquitetura e que muito me ajudou a colocar o problema da escala com um pouco mais de precisão. A geografia, decididamente não estava só. A discussão de Edgard Morin sobre o problema epistemológico da complexidade, além de abordar a questão da escala, por sua vez, chamou minha atenção num momento em que eu me perguntava até onde era possível ir à busca de fundamentos conceituais mais consistentes para minhas indagações sobre a região e o regionalismo. Desde o doutorado, a ideia de que não é possível encontrar para a investigação um fundamento teórico conceitual único, capaz de dar respostas satisfatórias para os muitos problemas que somos capazes de identificar no mundo real permanecia como convicção.
Ao final desse um ano e meio de leituras e de contatos com novas questões e novos temas, o que havia sido apenas intuído na minha pesquisa para a tese pôde emergir e ser aprofundado, ou seja, a questão do nexo entre o imaginário político e o território. E a Região Nordeste continuava sendo um interessante campo de estudo desse vínculo. Da mesma forma, o problema da região e seu recorte permitiu examinar com mais calma o problema da escala como medida adequada para observar o fenômeno, trabalhada por outros especialista tanto na França como nos Estados Unidos.
Os produtos concretos desse período foram um artigo sobre “O problema da escala”, publicado originalmente na coletânea Geografia Conceitos e Temas, em 17ª Edição, organizado em parceria com os professores Paulo Cesar da Costa Gomes e Roberto Lobato Correa. Este artigo foi solicitado para ser publicado em inglês e espanhol na Revista Quaderns D'arquitetura i Urbanisme, de Barcelona, em 2002 e na coletânea Cuaderno de geografía brasileña, organizado por Graciela Uribe Ortega, no México.
Além da escala, a questão do imaginário político, intuído na pesquisa para a tese de doutorado, foi também aprofundada e ampliada e as leituras do pós-doutorado conduziram ao novo projeto de pesquisa, ainda focado na Região Nordeste, mas agora tendo como questão central as diversas facetas do imaginário político nas suas relações com a natureza e a sociedade. O eixo continuava sendo o discurso, porém tratava-se agora da elite econômica vinculada à produção irrigada no semiárido. Novos produtos desta etapa da vida acadêmica: artigos e orientações vinculadas ao problema da relação do imaginário político e o território. Foi interessante verificar como o clima semiárido assumia uma dimensão completamente diferente para os empresários da fruticultura irrigada. Da tragédia anunciada pelos políticos porta vozes de um modelo social arcaico, para os modernos empresários a falta de chuva era um recurso potencial inestimável. Este debate encontra-se no artigo “Seca versus seca. Novos interesses, novos territórios, novos discursos no Nordeste”, publicado em outra coletânea “Brasil. Questões atuais da reorganização do território”, em 8ª Edição, organizada novamente com os colegas Paulo Cesar da Costa Gomes e Roberto Lobato Corrêa, também pela Bertrand Brasil, Rio de Janeiro. Ainda nesta linha foram publicados: “Natureza, imaginário e a reinvenção do Nordeste”, no livro “Paisagem, imaginário e espaço”, organizado por Zeny Rozendahl e Roberto Lobato Corrêa, editado pela EDUERJ em 2001; "Novos interesses, novos territórios e novas estratégias de desenvolvimento no Nordeste brasileiro.", no livro Desarollo local y regional en Iberoamérica, organizado por R. González, R. Caldas e J. M. Bisneto, em Santiago de Compostela em 1999; e também, “Imaginário político e território. Natureza, regionalismo e representação” no livro Explorações geográficas, organizado por mim, Paulo Cesar da Costa Gomes e Roberto Lobato Corrêa, publicado pela Bertrand Brasil em 1997, em 5ª edição.
Esta foi ainda uma temática profícua na atração de estudantes interessados em desenvolver dissertações de mestrado e teses de doutorado. Nesta última modalidade foram 6 teses orientadas, todas realizadas por professores de universidades de estados nordestinos: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco (2) e Bahia (2), que explicitarei adiante.
Refazendo esse percurso não posso deixar de comentar as críticas que recebi pela opção de escolher como objeto de investigação as elites política e econômica nordestinas, na tese de doutorado como em pesquisas posteriores. Compreendi imediatamente que o problema é que eu não fazia parte dos que aderiram sem muita reflexão à geografia crítica, que na época substituiu o determinismo da natureza pelo determinismo do modo de produção capitalista e a luta de classes inerente. Esta chave mágica que abria as portas a todos os problemas e tudo explicava. Neste ambiente acadêmico, falar em elite política e empresariado rural soava como heresia imperdoável no momento em que o importante era o oprimido, não o opressor. Para mim, no entanto, numa perspectiva de Celso Furtado e mesmo gramisciana, que acredito ainda não estava em voga na época, era necessário justamente compreender os mecanismos de reprodução das desigualdades profundas da Região e analisar o papel dos novos atores econômicos regionais que disputavam espaços com a velha elite. A confusão entre epistemologia e ideologia, que não era restrita à geografia, confundia a escolha do objeto de pesquisa como recurso para compreender a realidade com engajamento político, o que infelizmente empobreceu o debate na geografia com impactos importantes para sua vertente política. Esta foi substituída por uma pretensa geografia do poder, que até hoje não quer dizer muita coisa, mas apenas uma tautologia. Confundiu-se os conflitos produtivos que pertencem ao campo da economia com os conflitos distributivos que pertencem ao campo da política. A submissão da política à economia produziu muitos reducionismos e não favoreceu a compreensão da realidade que teima em não se enquadrar aos moldes de um modelo explicativo previamente estabelecidos. Felizmente hoje há críticas importantes a essa deriva da disciplina, que começa a se abrir para um pluralismo conceitual mais saudável, que tem reduzido a desconfiança sobre a geografia política.
Voltando ao estágio em Paris, este me ofereceu muito mais. Tendo saído do Brasil no confuso início do governo Collor, vivenciando o processo de inflação sem controle que dificultava avaliar os limites do orçamento doméstico, mergulhar num ambiente de estabilidade, de democracia e de cidadania como experiências do cotidiano, deixou marcas que não mais se apagaram. Minha sensibilidade para a política como viagem intelectual era cada vez mais reforçada como viagem existencial. A descoberta da alteridade, o compartilhamento da diversidade – étnica, religiosa, de nacionalidade – nos espaços e transportes públicos era um exercício cotidiano de se reconhecer como brasileira, para o bem e para o mal. A experiência de viver um tempo fora da “concha protetora” na expressão de Bachelard, no estrangeiro é um privilégio que o mundo acadêmico oferece e deveria ser aproveitado. Estimulei todos os meus alunos a buscarem doutorado, bolsa sanduíche ou pós-doutorado no exterior. Os que souberam aproveitar reconhecem a importância da experiência. Mas, que fique claro, não é fácil mergulhar em outra cultura, grandes esforços e alguns sacrifícios são exigidos, mas os ganhos são para toda a vida.
Morar na Paris do início da década de 1990, partilhar de um espaço institucional no qual a praça e o palácio se confrontam, mas acima de tudo interagem, se reforçam e se respeitam por que sabem, como disse uma vez Norberto Bobbio, que “o palácio sem a praça perde a legitimidade e a praça sem o palácio perde o rumo”. Meu desconforto com os tempos da ditadura e a experiência do respeito que as instituições públicas devem aos cidadãos eram fundamentos sobre os quais minhas opções de temas de pesquisas, mais amadurecidas a partir da tese de doutorado, acabaram progressivamente se encaminhando.
Este percurso possibilitou reforçar minha sensibilidade pela política e definir o nicho da geografia no qual me encontro e que hoje vai muito além da Região Nordeste como problema e do imaginário político como substrato das análises sobre o território. Minha perspectiva da geografia política está na interface dos fenômenos políticos, perfeitamente inseridos na sociedade, com o espaço que ela organiza. Utilizando aqui as palavras de John Agnew, minha preocupação é de como a geografia é hoje cada vez mais informada pela política e, na mesma linha, a perspectiva de Jacques Lévy para quem mais do que geografia política nos moldes clássicos é importante hoje fazer uma geografia do político. E nesta direção, a centralidade territorial do Estado como fundamento da autonomia do seu poder, como discute Michael Mann, define uma agenda de pesquisa inovadora, que incorpora as múltiplas escalas com as quais o campo da geografia deve lidar. A escala do Estado-Nação, duramente criticada na retomada da geografia política desde a década de 1970, adquire significado bem diferente quando considerada a partir das entranhas do estado, ou seja, das suas instituições e dos vínculos destas com a sociedade e seu território. Não há divórcio entre a formação da sociedade e aquela dos aparatos para o seu governo, que na modernidade assumiu o formato do Estado moderno, como um olhar mais apressado para algumas das polêmicas entre a sociologia e a ciência política pode fazer crer. Na realidade, Estado é um “locus” de poder, mas do poder político, e a tentativa de substituí-lo na agenda por uma geografia do poder é no mínimo ingênua.
Neste sentido, o Estado é retomado da agenda da geografia política clássica, porém, menos nos seus conteúdos formais ou na relação com outros Estados, tema central da geopolítica e das relações internacionais, mas como uma escala política consistente que define um território pleno de problemas, conflitos e contradições. A ordem espacial e social que resulta desta dinâmica oferece uma agenda temática estimulante e também provocativa que, ao aceitar a multidisciplinaridade, recorre a matrizes intelectuais que transcendem ao campo da geografia e se estendem ao domínio mais amplo das ciências sociais. Uma lição de Milton Santos, em sua curta passagem pelo nosso departamento, foi bem aprendida: as ciências crescem nas suas margens.
3. A CARREIRA ACADÊMICA
Inserção na graduação da UFRJ; Ensino e Pesquisa; A inserção na pós-graduação: Disciplinas - Projetos de pesquisa – Orientações; participação na vida universitária:
Administração acadêmica, Representação em colegiados, Atividades de Extensão
Concluído o doutorado e o estágio de pós-doutorado, a bagagem acadêmica se consolidava e o oferecimento de cursos uma oportunidade de levar aos alunos da graduação em geografia a renovação do debate na geografia e a dimensão política como ingrediente necessário. O retorno do pós-doutorado me “credenciou" para finalmente reivindicar uma disciplina no curso de geografia e passar para outro novato os cursos do IFCS.
A disciplina “Trabalho de Campo” foi a primeira, que acumulei durante algum tempo com as do IFCS, e ensejou pôr em prática, agora na posição de responsável, a experiência de conduzir os alunos pela aventura da investigação, da definição da questão adequada, da observação, do aprendizado de como obter informações relevantes, de selecionar e de abordar atores sociais apropriados. Algumas experiências foram importantes: O Estágio de Campo III requer uma permanência mais prolongada dos estudantes, o que favorece a escolha de destinos mais distantes. Por duas vezes fomos explorar no Norte de Minas Gerais, a área dos projetos de irrigação da CODEVASF. As possibilidades de articular as decisões de políticas públicas federais, os atores sociais dos sindicatos rurais, os empresários, as cooperativas, a tecnologia necessária, as burocracias das prefeituras e muitos outros aspectos daquele espaço constituíram um aprendizado prático inestimável.
Em outra oportunidade, no Estágio de Campo I, que requer saídas de um dia para estudar um aspecto específico, no caso, a relação entre o espaço urbano e a política habitacional selecionei uma visita à Zona Oeste do Rio de Janeiro, espaço ocupado por grandes conjuntos habitacionais construídos pelos institutos de previdência corporativos – IAPC, IAPI etc., conhecido como Moça Bonita, na década de 1950 e, mais especialmente, a Vila Kennedy, construída no início da década de 1960 e que já havia sido meu objeto de investigação há 20 anos. Esta experiência, diante da deterioração dos conjuntos habitacionais me levou a escrever um artigo publicado no Jornal do Brasil: “Moça Bonita e os limites da democracia”, em 2000. Porém, como a exposição na mídia sempre produz mais impacto, o aprofundamento da questão levantada por aquela experiência resultou em artigo sobre a paisagem urbana brasileira e o imaginário nela subentendida e publicada com o título “Paisagem e Turismo. O paradoxo das cidades brasileiras”, no livro Turismo e paisagem, organizado por Eduardo Yázigi, colega da USP.
As disciplinas teóricas favoreciam a consolidação do meu interesse pela dimensão política do espaço: A Geografia Política, a Geopolítica, os Tópicos Especiais em Geografia Política e, mais recentemente, a Geografia política das eleições no Brasil tem constituído momentos de selecionar leituras e orientar debates fortemente articulados ao meu campo de pesquisa.
A Geopolítica, que tive oportunidade de ministrar por curto período, é importante por resgatar a dimensão clássica da disciplina e o papel das estratégias de disputas entre os Estados nacionais. A escala privilegiada para sua análise é a global. Seu conteúdo é tema cada vez mais importante nos cursos de relações internacionais, revalorizados num mundo globalizado onde não apenas os Estados Maiores, mas também as empresas necessitam definir estratégias para uma competição ampliada. Por opção passei ao largo da “geopolítica crítica”, hoje sob intenso debate e crítica.
Tópicos Especiais em Geografia Política é uma disciplina eletiva que possui conteúdo variado, definido pelo professor responsável no período em que é oferecida. Nas oportunidades de oferecê-la, optei por discutir a territorialidade do Estado brasileiro através do levantamento e análise da distribuição regional da burocracia federal: tipos de órgãos, cargos, funcionários. Trabalhos foram realizados pelos alunos e alguns decidiram aprofundá-los e transformá-los em monografia.
Mais recentemente, foi criada a disciplina eletiva Geografia política das eleições no Brasil, que tem despertado grande interesse dos estudantes, tanto pelo tema sempre polêmico das eleições como pela possibilidade de fazer uma verdadeira geografia eleitoral, com mapeamentos e análises dos resultados. Este tem sido tema de monografias e já foi objeto de uma dissertação e de outra em andamento, além de uma tese de doutorado sobre a territorialidade da representação parlamentar.
A geografia política, finalmente, firmou-se como o centro em torno do qual tenho desenvolvido minhas reflexões, meus projetos de pesquisa, minhas orientações. No entanto, algumas dificuldades foram imediatamente percebidas no momento de definir um conteúdo atual e compreensível para os alunos do curso de graduação e para obter material de leitura adequado e em português. Alguns livros importantes e traduzidos foram em algum momento utilizados: Geografía política de André-Louis Sanguin (em espanhol), A geografia serve, antes de tudo, para fazer a guerra, de Yves Lacoste, Geografia e poder, de Paul Claval, Por uma geografia do poder de Claude Raffestin, Geopolítica e geografia política, de Wanderley Messias da Costa, além de outros livros importantes. No entanto, nenhuma dessas leituras esgotava aquilo que eu considerava de inovador na geografia política, ou seja, a recuperação do recorte nacional como um espaço político por excelência no qual instituições fazem a mediação com os interesses conflitantes da sociedade.
Esta direção pode ser encontrada especialmente em geógrafos franceses como Jacques Lévy e Michel Bussi ou de alguns anglo saxões como Graham Smith, John Agnew, Clive Barnet, Murray Law ou John O’Loughlin. Além desses, toda uma gama ampla e variada de artigos na revista Political Geography, acessível no Portal Capes, mas em inglês. Esses autores menos “clássicos” têm sido importantes por contribuir para uma nova agenda da geografia política que resgata alguns temas clássicos da disciplina, como a geografia eleitoral, criada por Siegfried, mas abandonada pela geografia e utilizada pela ciência política, ou mesmo as questões colocadas por Gottmann em seu The significance of territory, menos conhecido do que o La politique des États et leur géographie.
Como era difícil estabelecer uma grade de leitura satisfatória e ao alcance dos alunos para evitar o hábito de tirar xerox de capítulos ou páginas avulsas, fui progressivamente preparando um material didático que acabou resultando no livro Geografia e política. Territórios, escalas de ação e instituições, editado pela Bertrand Brasil em 2005 e hoje em 7ª edição. Este livro constitui o produto de uma etapa madura do meu desenvolvimento intelectual e profissional que me permitiu elaborar um quase manual para os estudantes e interessados na geografia política. Digo quase por que não se trata do conteúdo que seria necessário para abranger todos os temas da disciplina, mas que reflete a direção e as escolhas que tenho feito. Neste sentido, o livro tem atendido a uma agenda da geografia política que abrange problemas conceituais da disciplina, suas escalas mais significativas e questões sobre uma geografia política brasileira. Alguns temas como federalismo, geografia eleitoral, cidadania e democracia tem sido aprofundado em teses de mestrado e doutorado. Os dois últimos tem sido objeto de minhas inquietações mais recentes, que compartilho com os estudantes.
É importante uma rápida menção à implantação do Curso Noturno de Geografia, objeto de grande debate no departamento, em meados da década de 90. Fui defensora do curso desde o seu início e só lamento o isolamento desses alunos e as poucas oportunidades que o espaço do IGEO lhes oferecia naquele momento. Como eram ainda poucos cursos, o horário noturno não favorecia para que eles usufruíssem da efervescência e da diversidade próprias da experiência de um curso superior. O convívio com esses alunos, mais maduros e com um cotidiano muito mais duro do que aquele dos jovens do curso diurno mostra como o ensino é acima de tudo um compromisso social. Felizmente este ambiente de isolamento mudou. Há muito mais alunos e interação entre eles no período noturno.
A proximidade com os estudantes de graduação em geografia permitiu estimulá-los a refletir sobre a importância da política para o cotidiano de cada um, partindo da perspectiva teórica conceitual que existe uma autonomia do político que deve ser compreendida e tomada como suposto nas análises. Nesta perspectiva, o território é visto como uma arena onde conflitos e disputas de interesses afetam e são afetados pela ordem social. As muitas dimensões da política: histórica, econômica, urbana, rural etc. são exemplificadas com os conhecimentos que os estudantes trazem de outras disciplinas.
Como não podia deixar de ser, o percurso da geografia política vem desembocando na reflexão sobre os espaços políticos, ou seja, aqueles espaços mobilizados para a ação política, seja o das casas legislativas, aqueles dos conselhos de representação para decisão sobre políticas públicas, seja o das ruas invadidas por passeatas e manifestações. Este é um nicho que já rendeu teses e dissertações e tem se mostrado cada vez mais desafiador intelectualmente.
A inserção na pós-graduação se deu a partir de 1991, com a oportunidade de participar do Programa de Pós-Graduação em Geografia, o que representou a fase de amadurecimento profissional e intelectual na geografia. Esta foi a ocasião de definir conteúdos que dariam suporte às pesquisas dos mestrandos e doutorandos, mas também às minhas próprias indagações. Após o retorno da França e dando continuidade à minha bolsa do CNPq, desenvolvi no LAGET – Laboratório de Gestão Territorial entre 1992 e 1994 meu sexto projeto de pesquisa: Natureza e imaginário político-territorial. Antigo e moderno no semi-árido nordestino. A pesquisa realizada identificou a tensão entre os velhos atores políticos regionais e o seu discurso tradicional, alimentado pelos impactos da seca sobre a vulnerabilidade econômica e social do sertão, e o surgimento de novos atores, impulsionadores de novas atividades, sobre as quais um novo imaginário foi progressivamente sendo elaborado. Este processo de mudança possibilitou a inversão do determinismo climático tradicional, dando origem a outro tipo de discurso, elaborado por outro tipo de interesse com suporte justamente nas condições naturais, tradicionalmente vistas como desfavoráveis.
As indagações da pesquisa de doutorado tinham se aprofundado e meu objeto de atenção tornou-se a elite empresarial nordestina que se beneficiava com as condições do clima semiárido. Identificá-la, analisar seus discursos sobre as vantagens da pouca chuva e o grande potencial que o clima semiárido representava permitiu aprofundar aquilo que a tese do doutorado já havia demonstrado, ou seja, como a imagem regional é uma elaboração social, jamais espontânea e sempre eivada de interesses. Mas, paralelamente, constatar a atualidade da leitura de La Boétie sobre “O discurso da servidão voluntária”. Neste tema foi defendida em março de 1993 a primeira dissertação de mestrado orientada por mim: “O imaginário oligárquico do programa de irrigação no Nordeste”, de Rejane Cristina Araújo Rodrigues. O tema já dava seus frutos que cresceram e amadureceram ao longo desses anos. O projeto incluía ainda estudantes de graduação (4); de Mestrado acadêmico (3) e de Doutorado (1).
Além da pesquisa, o compromisso com as aulas e seminários estava também presente. Como tínhamos liberdade de criar nossas disciplinas de acordo com nossas linhas de pesquisa, propus discutir inicialmente Imaginário político e território e Região e Regionalismo, temas aos quais eu me dedicava. Posteriormente criei mais uma: Território e políticas públicas, adequada aos avanços de minhas questões. Além desse compromisso com as disciplinas do programa, somos chamados também a oferecer os Seminários de Doutorado, disciplina obrigatória a todos os alunos deste nível. O formato do seminário é interessante porque reúne os alunos de todas as áreas de concentração e deve, preferencialmente, estabelecer debates e discussões em torno de temas e questões metodológicos da geografia em particular ou da ciência em geral. Nos últimos anos tenho focado o debate na metodologia da ciência, no debate epistemológico sobre o conhecimento científico e nos formatos possíveis da pesquisa em diferentes áreas científicas. Procuro sempre convidar pesquisadores da geografia e de outras áreas tão diferentes como a física, a antropologia, a ciência política, a economia etc. para apresentar suas pesquisas e seus métodos de investigação. Os debates são acalorados e aprendemos sempre que fazer pesquisa científica não é simples nem fácil, mas que torna cativo todo aquele que nela se inicia.
Por isso mesmo, o resultado é sempre surpreendente e os alunos que algumas vezes ficam reticentes quando o programa de leituras e de debates lhes é apresentado, ao fim são devidamente conquistados pela possibilidade de discutir questões do mundo da ciência, aparentemente distante de suas preocupações mais imediatas de tese, mas que contribuem fortemente para o enriquecimento intelectual e ampliação da visão sobre a ciência. Eles reconhecem que suas teses serão mais bem fundamentadas conceitualmente.
O caminho natural das aulas, das pesquisas e das orientações foi consolidar a linha de pesquisa “Política e Território” com a criação em 1994 de um grupo de pesquisas, GEOPPOL – Grupo de Pesquisas sobre Política e Território, registrado no diretório dos grupos de pesquisas do CNPq. O Grupo é vinculado ao PPGG e reúne estudantes de Graduação, Pós-Graduação e Pós-Graduados em Geografia. O GEOPPOL tornou-se um espaço privilegiado de debates dos temas das pesquisas dos profissionais e estudantes, bem como de temas de interesse mais amplo da geografia política. É neste fórum de discussão que meus projetos de pesquisa têm se desenvolvido desde então, com a participação de bolsistas de Iniciação Científica, mestrandos e doutorandos.
Já com uma bagagem de seis projetos de pesquisas que resultaram em publicações e elaboração de monografias e na primeira dissertação de mestrado orientada, mudo a cronologia para adequá-la aos tempos mais maduros de coordenação do GEOPPOL. A seguir indico os projetos de pesquisa e a importância que tiveram na produção acadêmica e formação de recursos humanos.
1994 – 1996: Natureza e imaginário político. A fruticultura irrigada e o novo imaginário do sertão.
Neste projeto foram analisadas as mudanças no discurso político decorrentes do desenvolvimento da fruticultura irrigada no semi-árido nordestino. Esta atividade propiciou o surgimento de novos interesses, comandados pelos novos atores econômicos a ela vinculados. Pelas especificidades e exigências desta atividade, o discurso regional dela decorrente demonstrou ser um contraponto importante àquele tradicional, fortemente marcado pela miséria e pela seca. Novas ações têm sido projetadas como decorrência da expansão dessas novas atividades e de seus atores mais importantes.
Participaram do projeto: dois estudantes de Graduação, três de Mestrado e três de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES.
1998 – 1999: Geografia, gestão do território e desenvolvimento sustentável.
O projeto teve como objetivo consolidar uma linha interdisciplinar de pesquisas no âmbito do PPGG/UFRJ em colaboração com o Centre de Recherche et Documentation sur l'Amérique Latine - CREDAL da Universidade Paris III, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES, Comission de Cooperation France Brésil-COFECUB, e do CNPq.
Participaram do projeto: um estudante de Graduação, um de Mestrado e um de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES.
1998-2001: “Novo imaginário político territorial e os sistemas territoriais de produção no semi-árido brasileiro”.
Neste projeto a questão institucional já se insinuava com a incorporação dos sistemas territoriais de produção. Foram feitos levantamento e análise das atividades vinculadas à fruticultura irrigada no semi-árido nordestino, especialmente nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará que podem ser considerados sistemas territoriais de produção. O objetivo da pesquisa era identificar as mudanças que se colocaram em marcha nos territórios onde foram implantadas novas atividades produtivas nas últimas décadas, especialmente aquelas vinculadas à fruticultura. As mudanças mais importantes detectadas ocorreram nas relações de trabalho e na melhoria do nível de mobilização política da sociedade local, identificada pelo aumento de sindicatos e associações.Foram analisadas também as condições de suporte ou de resistência das estruturas institucionais das escalas estaduais.
Participaram do projeto: Dois estudantes de Graduação, três de Mestrado e quatro de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES.
2002 – 2004: “Municípios, instituições e território. Possibilidades e limites ao exercício da cidadania no país”.
Este projeto constituiu um avanço em relação às questões pesquisadas anteriormente. A questão institucional e o município como um espaço político-institucional por excelência no federalismo brasileiro se consolidaram. O objetivo da pesquisa foi analisar as densidades institucionais nos municípios para compreender o seu papel nos mecanismos de produção e reprodução dos espaços da desigualdade social, no processo de transformações do território e na ampliação da cidadania. Tomando como suposto que a escala local é fortemente afetada pela sua base infra-estrutural, propõe-se comparar e analisar os padrões de distribuição, no território brasileiro, dos indicadores de desenvolvimento humano e social e os recursos institucionais disponíveis para a democracia e o exercício da cidadania, a partir dos padrões de dispersão das estruturas municipais de gestão e suas correlações com indicadores econômicos e sociais.
Participaram do projeto: três estudantes de Graduação, um de Mestrado e quatro de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES e do Institut de Recherche Pour Le Developpement Des Pays Du Sud-IRD.
2004 – 2007: “Inovação institucional, cidadania e território no Brasil. O município como problema e a localização como mediação”.
A aproximação com as bases institucionais e territoriais da cidadania possibilitou amadurecer a relação entre a política e o território a partir das densidades institucionais necessárias ao seu exercício. Afinal a cidadania é direito, mas é no território que ele é exercido. Neste sentido o objetivo do projeto era de analisar o município como escala do fenômeno político institucional, o qual se materializa na gestão e organização do território, tratando o recorte municipal como objeto de análise na geografia política brasileira. Identificar o papel e os limites das densidades institucionais no processo de transformações do território e nos mecanismos de produção e de reprodução dos espaços da desigualdade social, que afetam as condições de acesso aos direitos sociais inscritos da cidadania. Tomando como suposto que a escala local é fortemente afetada pela sua base infra-estrutural, propõe-se comparar e analisar os padrões de localização, no território brasileiro, dos recursos institucionais disponíveis nos municípios, inserindo no espaço na discussão sobre a cidadania e a democracia no país.
Participaram do projeto: quatro estudantes de Graduação, dois de Mestrado, um de Mestrado profissionalizante e três de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES, Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro-FAPERJ e Ministério da Defesa.
2008-2010: “O espaço político local. Problemas e significados da sobre-representação política no município”.
Este é o tema com o qual venho trabalhando. A geografia do político se impôs e o sistema de representação política das democracias contemporâneas, que têm sido objeto de amplos debates nas ciências sociais, especialmente na ciência política, vem sendo cada vez mais objeto de atenção na geografia. Este debate tem se dado em torno das vantagens ou dos limites dos sistemas eleitorais adotados para transformar os votos dos eleitores dispersos nos territórios nacionais em representação no legislativo. No Brasil, os problemas atuais decorrentes do sistema eleitoral vigente têm colocado na pauta nacional a questão da possibilidade de implantação do voto distrital. A dimensão territorial do sistema de representação política é evidente e inexplicavelmente a geografia do país se coloca a parte nesse debate. O objeto da investigação é a representação política nos municípios brasileiros menos povoados, tendo em vista o significado dos seus impactos para a sociedade e o território locais. Este será tratado em dois níveis, um geral que se propõe aprofundar a perspectiva teórico-conceitual de uma problemática territorial da representação política, no sentido de ampliar o escopo da geografia política; e outro específico que possibilitará identificar padrões de distribuição do impacto da sobre-representação nos municípios menos povoados no território nacional. Duas questões gerais são aqui propostas. Uma, é até que ponto a natureza da organização do território nacional afeta os desequilíbrios identificados no sistema de representação política, tomando como caso o sistema proporcional adotado no Brasil. A outra, é sobre a relevância, ou não, das escalas políticas locais para pensar a representação e a democracia, a partir das consequências do modelo de representação proporcional adotado nos legislativos municipais brasileiros, tendo em vista o pacto federativo da Constituição de 1988. A fundamentação conceitual apóia-se no problema da dimensão territorial da representação política e na questão da escala e da configuração dos espaços políticos. Participaram do projeto: três estudantes de Graduação, dois de Mestrado, um de Mestrado profissionalizante e três de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES e Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro-FAPERJ.
As orientações constituem um capítulo à parte na vida acadêmica. Em cada projeto sumarizado, alunos de graduação e de pós-graduação constituem aquilo que poderíamos chamar de “as esperanças do futuro. Algumas se concretizam de modo mais completo, mas todas foram realizações daquilo que é parte do ofício de professor e pesquisador: a formação de recursos humanos.
As orientações de monografia são importantes porque qualificam os alunos para o exercício da profissão, mas também porque ensejam a continuidade na pós-graduação. Fazendo uma contabilidade rápida, verifico que das 15 monografias de graduação que orientei (o número é maior, mas me perdi nos levantamentos), sete continuaram no GEOPPOL e fizeram o mestrado e cinco ingressaram no doutorado dando continuidade ao seu engajamento nos temas de pesquisas do grupo. Destes, quatro hoje são professores em Instituições de prestígio, e já tem suas pesquisas e seus orientandos: destaco Rafael Winter Ribeiro, cuja tese “A invenção da diversidade: construção do Estado e diversificação territorial do Brasil (1889-1930)” aprofundou o problema da relação da natureza e do imaginário na construção de uma visão particular sobre o território. Rafael é hoje meu colega no Departamento de Geografia da UFRJ e Vice-Coordenador do GEOPPOL. Dou destaque aqui ao seu percurso, pois vem orientando monografias de graduação, está credenciado para participar do PPGG e já está orientando sua primeira dissertação de mestrado.
Rejane Rodrigues defendeu tese de doutorado sobre a logística do porto de Sepetiba, destacando os conflitos institucionais e políticos nas diferentes fases do projeto do porto. Hoje é professora do curso de Geografia e do Progama de Pós-Graduação da PUC-Rio. Fabiano Magdaleno fez uma tese de doutorado ousada, sobre a territorialidade da representação parlamentar no estado do Rio de Janeiro. Utilizou como material empírico um longo levantamento sobre o destino das emendas parlamentares. Um cientista político foi convidado para a banca de defesa da tese e declarou que após ler seu trabalho ficou convencido de que existe realmente uma “territorialidade da política”! Sua tese já está publicada e ele já tem sido solicitado por políticos para mapear seus votos e suas emendas. Hoje é professor no CEFET-Rio. A mais jovem, Juliana Nunes Rodrigues, cuja tese de doutorado em Lyon co-orientei, ganhou uma bolsa PDJ/CNPQ (Pós-Doutorado Júnior) para atuar sob minha supervisão no GEOPPOL. Estes jovens doutores, que acompanhei desde o curso de graduação e no mestrado, hoje são profissionais competentes e reconhecidos, cada um delimitando seu próprio nicho de atuação.
Destaco também o hoje professor da Universidade Federal Fluminense, Nelson Nóbrega Fernandes, que não orientei durante a graduação, mas que orientei no mestrado, com a dissertação “O rapto ideológico do conceito de subúrbio carioca”, em 1996, e no doutorado com “Festa, cultura popular e identidade nacional. As Escolas de Samba no Rio de Janeiro (1928-1949). Nos dois trabalhos, as possibilidades de explorar a política como questão, seja na construção de uma identidade perversa no espaço urbano seja no reforço da identidade nacional a partir de uma manifestação popular
Dos sete que continuaram o mestrado, mas não ingressaram no doutorado, destaco dois: Fabio Neves que é professor Assistente na Universidade Estadual do Paraná e faz o doutorado em Curitiba. Nossos vínculos continuam fortes e de vez em quando sou solicitada para discutir um tema ou tirar uma dúvida. Fico feliz em vê-lo amadurecer intelectualmente e profissionalmente. O outro é Danilo Fiani, que fez uma brilhante dissertação de mestrado sobre a territorialidade da IURD (Igreja Universal do Reino de Deus) a partir do mapeamento dos votos dos políticos vinculados a ela no município do Rio de Janeiro. Seu projeto de continuar e ingressar no doutorado foi adiado após sua aprovação em concurso nacional para fazer parte do quadros da ANAC – Agência de Aviação Civil como geógrafo. Ele foi o primeiro colocado e contratado imediatamente. Tem um excelente plano de carreira, mas pensa em voltar para o doutorado. Destaco ainda Savio Raeder Oselieri, que após a monografia fez o mestrado na UFF, mas voltou para o doutorado e paralelamente foi também aprovado em concurso nacional para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Está em Brasilia, mas continua trabalhando a sua tese.
Destaco também experiência de orientar a dissertação do estudante angolano Mario Caita Bastos sobre “As escalas institucionais e as bases étnicas na organização do poder e do território de Angola”. Esta foi uma aventura bem particular. Ainda nas orientações de mestrado, Maria Lucia Vilarinhos estudou a relação dos projetos da Universidade do Brasil com os debates e dilemas para a definição do seu local de implantação. A escolha da Ilha do Fundão para a localização do campus trouxe várias conseqüências, entre elas um território que mais separa do que integra a vida acadêmica. Retomando esta linha, porém com perspectiva bem diferente, o mestrando americano Brian Ackerman pesquisa os espaços de integração no campus para o fortalecimento da comunidade cívica para a cidadania, na linha de Robert Putnam, comparando com o campus da Universidade Estadual da Flórida. Outro mestrando, Vinicius Juwer, terminou sua monografia de graduação sobre a territorialidade das milícias e atualmente reforça a linha da Geografia eleitoral, já explorada no GEOPPOL por Danilo Fiani, através da ampliação de seu tema de investigação.
Devo acrescentar meus orientandos de doutorado que são professores de universidades federais ou estaduais em estados da Região Nordeste e que vieram ao Rio de Janeiro, com bolsas da CAPES ou do CNPq, motivados pelos temas que eram discutidos no GEOPPOL. Estes profissionais foram impactados pela temática do imaginário nordestino apresentado em minha tese de doutorado e puderam ampliar para seus espaços e questões de interesse aquilo que tinha sido iniciado com a minha pesquisa. O primeiro deles foi José Lacerda Alves Felipe, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cuja tese foi “Memória e imaginário político na (re)invenção do lugar. Os Rosado e o país de Mossoró”, defendida em 2000. Esta tese tem lugar especial, por minha primeira orientação de doutorado e por discutir o imaginário político em um caso tão singular como o da família Rosado Maia, até hoje dominante no cenário político do oeste do Rio Grande do Norte.
Em seguida, em 2003, outros defenderam teses: a professora Vera Lúcia Mayrink de Oliveira Mello, professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco, sensibilizada com a questão do imaginário, aplicou-o na tese “A paisagem do rio Capibaribe: um recorte de significados e representações”. O professor da Universidade Federal da Paraíba, Campus de Cajazeiras, Josias de Castro Galvão pesquisou “Água, a redenção para o Nordeste: discursos das elites políticas cearense e paraibana sobre obras hídricas redentoras e as práticas voltadas ao setor hídrico” o imaginário sobre a água como a redenção da Região foi aprofundado nessa tese. Da Bahia vieram dois professores da Universidade Estadual: Antonio Angelo Martins da Fonseca, do Campus de Feira de Santana, que estudou a “Descentralização e estratégias institucionais dos municípios para a capacitação de recursos: um estudo comparativo entre Feira de Santana, Ilhéus e Vitória da Conquista - BA (1997-2003)”. A vertente institucional e a questão do município como um território político-institucional se evidenciava e o território baiano mostrou-se um excelente campo de indagações e de estudos.
Do Campus de Vitória da Conquista veio Renato Leone Miranda interessado em investigar e compreender as “Políticas públicas e a territoriralização do desenvolvimento turístico da Bahia: o caso da Chapada Diamantina”. Munido de excelente bagagem intelectual e de longa experiência sobre os conflitos e interesses na ocupação turística da Chapada Diamantina, a tese tem sido uma referência sobre as políticas públicas na área do turismo em Parques Nacionais.
Em 2004, foi a vez de Caio Amorim Maciel focar, assim como Vera Mairink já havia feito, o tema do imaginário na perspectiva da geografia cultural. Sua tese “Metonímias Geográficas: imaginação e retórica da paisagem no semi-árido pernambucano” incorporou toda uma vertente teórica da geografia cultural e o problema das representações. Seu trabalho é também uma referência necessária ao tema.
No Rio de Janeiro duas orientações de doutorado foram importantes, não apenas pela qualidade dos trabalhos realizados, mas também pelos vínculos institucionais que elas ensejaram para o GEOPPOL. Trata-se de Monica O’Neill, geógrafa do IBGE que desenvolveu um conjunto sofisticado de indicadores para elaborar a tese inovadora na geografia brasileira sobre as densidades institucionais no território nordestino e de Linovaldo Miranda Lemos sobre “O papel das políticas públicas na formação de capital social em municípios novos ricos fluminenses”em 2008.
Como acredito que o contato com outras realidades é fundamental na formação da imaginação acadêmica, estimulo todos os meus estudantes a complementar sua formação no exterior. Nem sempre tenho sucesso pois a aventura de sair do país requer superar dificuldades que nem todos tem possibilidade. Mas tive sucesso com cinco:
Para a Espanha foram Antonio Angelo M. Fonseca, no Instituto de Xeografia de Santiago de Compostela e Nelson N. Fernandes, em Barcelona; para a França, na Universidade de Pau, foram Caio Amorim Maciel e Rafael Winter Ribeiro. Os quatro foram beneficiados com bolsas sanduíche da CAPES. Juliana Nunes Rodrigues recebeu bolsa para a realização de doutorado pleno na Universidade de Lyon. Concluiu sua tese em quatro anos e teve menção “Très honorable avec félicitations du jury à l’unamité”, o que é cada vez mais raro nas universidades francesas, especialmente para alunos estrangeiros.
Sendo levada pelas memórias dessas orientações verifico como cada estudante traz, com suas dúvidas, medos e inquietações, uma perspectiva, ou abordagem, ou dimensão nova para o eixo central da relação entre a política e o território. Usando a bacia semântica de Gilbert Durand como metáfora, o rio da geografia política vai ficando cada vez mais caudaloso com estes novos afluentes representados pelos livros, artigos e orientações que eles vêm produzindo. Mesmo se reconheço que contribui para a formação de cada um, tenho muito a agradecer a meus estudantes. Mas não posso deixar de assinalar que eles representam uma “descendência” intelectual, que tem fincado as bases para uma nova abordagem da geografia política brasileira em que o território nacional tem sido uma escala necessária e a comparação um recurso metodológico importante.
Na administração acadêmica participei, no período de 1986-1987 da direção do Instituto de Geociências como Diretora Adjunta de Pós-Graduação e Pesquisa do CCMN/UFRJ quando tive oportunidade de conhecer os meandros da gestão acadêmica. Entre outras atribuições, cabia ao Diretor Adjunto facilitar os meios para que os programas de pós-graduação pudessem cumprir seus objetivos de formação de recursos humanos. Como prerrogativa do cargo eu tinha assento na Congregação do IGEO e no Conselho do CCMN, o que me dava oportunidade de identificar dificuldades dos programas e ajudar a saná-las, mas também, no Conselho do CCMN ser a voz da “minoria” uma vez que numa composição de representantes dos Institutos de Física, de Química e de Matemática, o Instituto de Geociências quase sempre saia perdendo. Os debates e defesa de interesses de cada um desses institutos permitiram uma visão mais ampla dos limites, inclusive financeiros e materiais da instituição. Percebi que argumentar é uma arte e que na democracia os “mais fracos” podem ter voz e até ganhar adesões importantes para decisões favoráveis.
Esta foi também uma ocasião importante para reformular o Anuário do Instituto de Geociências, iniciado no início dos anos 1980, do qual me tornei pela primeira vez Editora em 1986. Voltei a assumir esta tarefa em 1992-1995. Este foi um periódico necessário, tanto para divulgação dos trabalhos dos pesquisadores do IGEO e fora dele, mas também um recurso que durante o tempo de sua existência permitiu à Biblioteca Central do CCMN manter a atualização do acervo dos numerosos periódicos nacionais e internacionais que ela disponibilizava. Durante os anos 80 e 90 este era o acervo mais completo e variado de revistas acadêmicas de geografia de alto nível.
De agosto de 1992 a dezembro de 1994 fui Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGG. Este foi um momento crucial para implementar o programa de Doutorado que havia sido implantado na gestão anterior. Foi tempo de definir regras de ingresso, de exames de qualificação, disciplinas e de distribuição de bolsas neste tempo ainda muito escassas.
Tive outras oportunidades de participar de colegiados da UFRJ. Fui eleita Representante dos Professores Adjuntos no Conselho do IGEO para o período 1989-1992, e em 1992 fui eleita representante dos professores adjuntos do IGEO para participar no Conselho do CCMN. Em agosto 2004 fui eleita para um mandato de três anos (até julho de 2007) como representante dos professores adjuntos do CCMN – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza no CEPEG – Conselho de Ensino e Pesquisa em Pós-Graduação, órgão de deliberação da Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Esta foi uma oportunidade ímpar de ter uma visão de conjunto da UFRJ, seus centros, departamentos, seus conflitos, as disputas de interesses entre as diversas áreas do conhecimento e seus lugares institucionais. O sistema de definição da pauta, debates, encaminhamentos e votações foi um aprendizado prático de como a democracia representativa funciona. Tensões, alianças e votos. Aos perdedores cabe aceitar e continuar debatendo sobre outros temas. Cansativo, mas fascinante.
Nos biênios 2007/2008 e 2009/2010 fui Membro da Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação em Geografia, convidada pelo Coordenador do Programa. A participação nesta comissão é a contribuição do meu tempo às questões da gestão do Programa de Pós-Graduação. A experiência acumulada tem me permitido contribuir, sempre que possível com as tarefas mais prementes que cabem ao colegiado do PPGG. No triênio 2009, 2010 e 2011 fui indicada para participar como representante da área do Turismo no Comitê de Assessoramento das Ciências Sociais – CA / SA do CNPq. Esta tem sido uma oportunidade ímpar de desenvolver uma ampla visão da área no país, bem como participar das discussões com todo o Comitê de Assessoramento, inclusive de prestar colaboração, sempre que solicitada, à área de Geografia Humana.
As atividades de extensão, devo confessar, tem sido menos prioritárias nas minhas atividades acadêmicas. Na realidade, esta não tem sido uma tradição do nosso departamento, embora este quadro venha mudando progressivamente. Em 2006 participei da atividade “A Escola vai a Universidade”, organizada pela professora Maria do Socorro Diniz com o objetivo de aproximar os professores de geografia do ensino médio com os debates e temas discutidos pelos professores pesquisadores do nosso departamento. Este foi um dia de trabalho para o GEOPPOL, parte da manhã e da tarde, quando as pesquisas em andamento e algumas já concluídas foram apresentadas e debatidas com os numerosos professores que procuraram a atividade. Foi um momento importante de treinamento para os professores e consciência, para nós, do quanto temos a oferecer. Outra atividade em que participei foi oferecida na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste caso foi um Curso de Especialização em Gestão de Políticas Públicas, aberto à comunidade, em Julho de 2006. De março a junho de 2008, ainda no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, participei no curso de Relações Internacionais. Na UNIOESTE – Universidade Estadual do Paraná, Marechal Cândido Rondon, em 17/06/2008, fui convidada a prestar assessoria técnico-científica para a implantação futura do programa de pós-graduação, cuja linha de concentração seria no âmbito da geografia política. Em 07/07/2008 tive oportunidade de debater questões relativas aos acordos e convênios internacionais com os pares da Cátedra Charles Morazé, na Universidade de Brasília.
Além da UFRJ inserção nacional e internacional: Projetos – Cursos – Eventos. A inserção internacional iniciou-se com meu estágio pós-doutoral na França. Nesta oportunidade, além das atividades do CEAQ, já abordadas, entre dezembro de 1990 e fevereiro de 1991 pude me aproximar do Centre de Recherche sur le Brésil Contemporain na École de Hautes Études em Sciences Sociales – EHESS, Paris, dirigido pelo Professor Ignacy Sachs. Ainda na EHESS, tive oportunidade de participar das atividades do grupo do sociólogo Jean Prevot.
Esta inserção tem tido continuidade seja na condição de pesquisadora em convênios de cooperação internacional, como naqueles financiados pela CAPES, seja em estágios obtidos em outras instituições. Em todos os casos a inserção tem aberto canais de diálogo e cooperação que passam a constituir espaços para a indicação e aceitação de doutorandos em estágio de Bolsa Sanduíche. Entre 1999-1992, participei do acordo CAPES – MINCyT com Elza Laurelli na Argentina, através do LAGET (Laboratório de Gestão Territorial). Em maio e junho de 1994 obtive uma bolsa do Programme Bourse de Recherche Brésil, oferecida pelo governo do Canadá, após ter meu projeto sobre “O discurso regionalista do Québec” indicado em primeiro lugar numa seleção nacional. As atividades incluíam levantamentos e contatos com pesquisadores em Otawa, Montreal e Québec.
Entre 1996 e 1997 tive oportunidade de participar do acordo CAPES-COFECUB, com o Institut de Hautes Études de L’Amérique Latine – IHEAL, com Martine Droulers, na França. Em 1998 obtive bolsa da CAPES para um projeto de um semestre de estudos e participação nos seminários e atividades do IEHAL – CREDAL em Paris, em cooperação com Martine Droulers.
Em resposta a um edital do IRD – Institut de Recherche pour Le Développement, apresentei um projeto que foi selecionado para dois semestres de atividades de pesquisa, em 2001 e 2002. O trabalho foi desenvolvido na École Normale Superieure do Boulevard Jourdan, em parceria com Philippe Vaniez e Hervé Thérry.
Entre 2005 e 2007, também no quadro do acordo CAPES-COFECUB, mas desta vez com o Laboratório SET – Société, Environement et Territoire, na Université de Pau, França, coordenado por Vincent Berdoulay, tive participação nas atividades de pesquisa e nos seminários organizados com os alunos de pós-graduação e com pesquisadores.
Todas estas ocasiões representaram oportunidades de dar a conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido no GEOPPOL, bem como debater e avançar questões novas e, principalmente, buscar visibilidade através de publicações conjuntas. Neste sentido, a aproximação com Philippe Vaniez e com Vincent Berdoulay foram particularmente fecundas, seja pela possibilidade de um retorno à quantificação, no caso do primeiro, como a de trabalhar o tema espaço público na perspectiva da política institucional e suas regras e constrangimentos.
Devo destacar o curso oferecido em setembro de 1977 na Maestria em Politicas Ambientales e territoriales da Universidade de Buenos Aires, Argentina, como professora convidada, quando foi ministrada a disciplina “Política e território. Discussão sobre as bases regionais da ação estatal”, com créditos para o dilpoma de mestrado na instituição.
Cada uma dessas ocasiões, além das atividades específicas a elas vinculadas, propiciou publicações conjuntas ou individuais, participação, em colóquios, simpósios e seminários internacionais, assim como em bancas de defesa de teses de doutorado, todas sempre bem vindas na construção da carreira acadêmica.
INSERÇÃO NACIONAL, EVENTOS
No Brasil, a demanda para oferecer cursos em diferentes programas de pós-graduação se somaram aos muitos convites para palestras, conferências, participação em mesas redondas, oportunidades de debates e apresentação dos resultados das pesquisas.
Devo destacar alguns desses cursos: em 1994 para o curso de Pós-Graduação, Especialização na Universidade do Ceará; em duas ocasiões, 1997 e 1998, para o curso de Especialização em Geografia da Universidade Estadual de Feira de Santana; em 1999 para o curso de mestrado do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília. Foram oferecidos também cursos nos programas de pós-graduação de da Universidade Federal de Sergipe, da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal de Santa Catarina.
Em Brasilia, como professora visitante no primeiro semestre de 2005, tive oportunidade de desenvolver o projeto “Território e cidadania nos municípios da Região do Entorno do Distrito Federal” em conjunto com a professora Marília Peluso, nos termos do acordo GEOPPOL/LATER– Laboratório de Análise Territorial do Programa de Pós-Graduação em Geografia.
Mas, voltando um pouco no tempo, devo acrescentar que desde a divulgação de minha tese de doutorado a repercussão, especialmente nos estados da Região Nordeste, propiciou uma série de convites para palestras e debates, na maioria das vezes bastante acalorados sobre o meu trabalho. Destaco o convite da Secretaria de Cultura do Ceará, no projeto “Conversa Afiada” para debater e fazer o lançamento do livro “O mito da necessidade” que havia sido editado no final de 1992.
A partir dessa visibilidade, as possibilidades de divulgar meus trabalhos tem sido freqüentes. É claro que se “o mito” foi um marco importante na minha carreira acadêmica e ainda dá frutos – afinal, é lento o processo de mudança do imaginário político, inclusive para boa parte da elite nordestina -, o tempo tem demonstrado que novas questões se impuseram e precisam ser investigadas.
Ambas as inserções se consolidaram com as publicações de livros individuais e coletâneas, artigos em anais e periódicos no Brasil, bem como artigos em coletâneas, em periódicos e em anais no exterior.
A participação em eventos encontra-se entrelaçada em todas estas oportunidades. Estes são espaços privilegiados de exposição de ideias, críticas e de debates, mas constituem também uma amostra do impacto intelectual das ideias na medida em que somos convidados para conferências e palestras.
Devo destacar os debates acalorados em muitas oportunidades quando da exposição de trabalhos cuja referência de fundo era o problema do Estado, da cidadania ou da democracia. Quanto mais esta vertente recebia crítica de alguns dos meus pares, mais eu me convencia da importância de aprofundá-las.
Nas participações em eventos no exterior era interessante perceber a curiosidade e o desconhecimento sobre o Brasil. O mapeamento sobre a desigualdade na distribuição dos recursos institucionais da cidadania, assim como a questão da especificidade do federalismo brasileiro e do seu sistema político eram objeto de debate e de perspectivas comparativas. Mas a oportunidade de ouvir a exposição de colegas de outros países ampliava minha visão dos novos eixos da pesquisa na geografia e a sensação confortável de que eu não estava só.
Não recupero aqui a lista de eventos de que participei por demasiado longa. Todos, grandes ou pequenos, próximos ou distantes, organizados por alunos ou por professores, no meio acadêmico ou fora dele são importantes por reunir idéias diferentes que se completam ou se enfrentam. Por isso mesmo reafirmo minha convicção de que essas são atividades necessárias à vida acadêmica, são espaços de visibilidade, de críticas, de debates; enfim, do duro escrutínio a que devem ser submetidos todos os trabalhos de pesquisa.
4. PRODUÇÃO ACADÊMICA
A procura de uma geografia política mais criativa
Esta é a parte das memórias de revisão da minha obra e que pretendo seja também conclusiva. Ao fazer este longo percurso reflito sobre os rumos, os meandros, as influências e os desafios dos meus escritos. Como talvez seja a única geógrafa brasileira com doutorado em ciência política, adquiri alguns vícios, especialmente aquele de olhar a ordem espacial, que afinal nos interessa, pelo viés do conflito de interesses que não se esgota no conflito produtivo, mas pelo viés do conflito distributivo que se encontra no campo da política, o que me levou a incorporar a política como tema para ampliar a agenda da geografia política.
Mas não poderia percorrer esta linha do tempo temático sem destacar o trabalho coletivo com meus colegas Paulo Gomes e Roberto Lobato. A discussão dos temas e a escolha dos autores refletiram aquilo que considerávamos propostas avançadas para a agenda da geografia em cada momento. As re-edições dos livros: Conceitos e temas, Questões atuais da reorganização do território e Explorações geográficas sugerem que tínhamos razão. Continuando esta aventura, encontra-se no prelo da editora Bertrand Brasil mais uma obra coletiva: Olhares geográficos. Modos ver e viver o espaço, cujo eixo são as muitas possibilidades conceituais e empíricas de recortar e analisar o nosso objeto. Minha contribuição individual expressa o interesse e resultado do trabalho em cada momento. Na primeira coletânea, o artigo sobre “O problema da escala”, ao que parece veio em boa hora, pois alem de traduzido para o francês e o espanhol tornou-se uma referência no debate sobre a questão na geografia brasileira. Na segunda, “Questões atuais...” foi a oportunidade de sistematizar a pesquisa sobre a fruticultura irrigada no Sertão nordestino e as implicações desta atividade na formação de uma nova elite agrária e um discurso diferente sobre a região estabelecendo os fundamentos de novas imagens da natureza semi-árida. Na terceira, “Explorações...” minha contribuição possibilitou discutir os fundamentos conceituais do problema do imaginário, estabelecer as relações possíveis com a natureza e aplicá-lo como modelo para análise dos regionalismos e das representações no país. Na última, o compromisso dos textos é mais conceitual. Minha contribuição contempla a política sob o ponto de vista do papel normativo dos conflitos de interesses e aquele dos arranjos e estratégias espaciais do fato político subjacentes à noção de espaço político. Nesta perspectiva, o texto é significativo das possibilidades do olhar geográfico para a espacialidade da política, quase sempre ignorada pelos politólogos. Há ainda neste trabalho um diálogo implícito com a noção de espaço público e a tentativa de distinguir os espaços políticos pela tensão fundadora entre força e poder, característica do instituído, que se expressa em diferentes escalas e que estabelece a métrica e a substância desses espaços.
“O mito da necessidade...” já foi abordado antes, mas o recupero aqui apenas como referência das etapas do percurso. Seu tema continua atual e objeto de debate entre aqueles que se debruçam sobre o papel nada inocente de uma elite política regional. O outro livro individual, “Geografia e Política...” também abordado antes, encontra-se em segunda edição e tem cumprido seu papel como suporte para a disciplina geografia política, mas tem ido além e tem servido de consulta para pesquisas e para pós-graduação. Ambos os resultados indicam as lacunas e demandas para uma geografia política brasileira que deve, cada vez mais, demonstrar a inescapável espacialidade da política.
Retomando o percurso temporal, volto ao universo acadêmico geográfico da dissertação de mestrado que definiu uma tendência de olhar o território e suas diferenças a partir de suas unidades políticas menores que são os municípios, porém muito mais como unidades estatísticas do que como espaços significativos politicamente. Eram tempos de gestão centralizada e o município um espaço para a aplicação de políticas, como aqueles que foram identificados no âmbito da minha experiência no Ministério da Previdência e Assistência Social.
Mas os artigos: “Classificação dos municípios das Regiões Metropolitanas segundo níveis de urbanização”, publicado na Revista Brasileira de Geografia em 1978, assim como o “Conjunto habitacional: ampliando a controvérsia sobre a remoção de favelas”, publicado na Revista Dados em 1983 e no mesmo ano em inglês na Revista Geográfica do IPGH marcam uma transição para as questões muito fortes na agenda da geografia urbana brasileira da época, da qual muitos de nós fomos de certo modo signatários.
O curso de doutorado me fez abandonar esta última e abriu novas vertentes e novos horizontes com a incorporação de temas da ciência política, de vieses mais teóricos como: “A dinâmica social e os partidos políticos” e "Conflitos coletivos e acomodação democrática” publicado em Debates Sociais em 1984 e 1986 respectivamente, assim como o artigo “O Estado no pensamento liberal clássico. Uma contribuição ao debate político na Geografia” publicado no Anuário do Instituto de Geociências/UFRJ em 1983. Estes eram produtos fortemente influenciados pelas leituras teóricas do doutorado e significativos do esforço de aplicá-las à geografia.
Mas como esta nunca deixou de ser o meu ofício, novas leituras tanto teóricas como aplicadas eram imediatamente remetidas às questões espaciais. A escolha do projeto de tese e seu encaminhamento abriu o campo de discussões sobre o regionalismo, que permitiu resgatar o problema da região, o imaginário político e o problema da escala como a medida adequada do fenômeno que se quer analisar. A tese gerou subprodutos que destaco aqui: “Política e território. Evidências da prática regionalista no Brasil” publicada em Dados em 1989 e também “Imaginário político e realidade econômica. O marketing da seca nordestina” publicado em Nova Economia (UFMG) em 1991.
Porém, a questão do imaginário regional despertou novas indagações e novas pesquisas, especialmente sobre os novos atores políticos na região que disputam espaços de poder com os atores tradicionais. O campo da irrigação mostrou-se fértil para a construção outro discurso no qual as potencialidades da Região são centrais. Esta nova pesquisa resultou novos escritos: “Escalas e redes de interesses no semi-árido nordestino: velhos e novos discursos, velhos e novos territórios” publicado no Anuário do Instituto de Geociências/UFRJ em 1994.
A relação entre o território brasileiro e as representações sobre ele constituem fonte inesgotável de estudos e debates. Neste sentido fui convidada a expandir a discussão do imaginário regional para o problema mais amplo de construção da nacionalidade e o substrato da natureza implicado neste processo. Esta solicitação resultou no artigo “Resposta à maldição. Brasil tropical e viável”, que compõe a Enciclopédia da brasilidade, de 2005. Esta perspectiva permitiu ainda resgatar a riqueza da obra de Jean Gottmann no texto “Identidade versus globalização: a dialética dos conceitos de iconografia e circulação de Jean Gottmann”, Fortaleza, 2005.
Nestes debates, o problema da região e do federalismo foram incorporados à agenda com: “Região - lugar político e da política. Representação e território no Brasil”, Cadernos Laget, 1995 e “Solidariedade territorial e representação. Novas questões para o pacto federativo nacional”, Território, 1996. E continuaram nela por mais algum tempo com “A região como problema para Milton Santos”, Barcelona, 2002 e “Regionalismo hoje. Do que se trata no Nordeste” em 2006
Mas percebo também que o problema político e de suas instituições já se insinuava fortemente como eixo importante de investigação, na linha dos institucionalistas e na vertente das densidades institucionais de Ash Amin e Nigel Thrift. Nesta perspectiva foram publicados “Territorialidade das instituições participativas no Brasil. A localização como razão da diferença”, em 2004 e “Territorialidade e institucionalidade das desigualdades sociais no Brasil. Potenciais de ruptura e de conservação da escala local” em 2005.
O problema das instituições e sua distribuição no território apontou para a questão da cidadania, que mais que conceito abstrato é uma prática cotidiana que se dá nos espaços de circulação e de convivência. Este eixo conduziu às pesquisas e aos trabalhos: “Instituições e cidadania no território nordestino”, MERCATOR, 2003; “Instituições e territórios. Possibilidades e limites ao exercício da cidadania”, 1999; “Desigualdades regionais, cidadania e representação proporcional no Brasil”, 1997. Também “Instituições e território no Brasil. Algumas possíveis razões das diferenças”, Rio Claro, SP, 2004.
Esta vertente foi publicada também na França: “Territorialité des ressources
instituionnelles au Brésil. Communes, mobilization et participation“, Paris, 2003 ; “Des dimensions teritoriales et institutionnelles des inegalités sociales au Brésil. Potenciels de rupture et de conservation de l'échelle politique locale“ publicado na coletânea : Territoires en action et dans l'action, Rennes, 2007 e “Resources institutionnelles, territoire et gestion municipale au Brésil“, 2003, Paris.
A questão das instituições e da cidadania, longe de se esgotar em sua vertente geográfica, aponta para o problema da democracia que representa o que poderíamos chamar de “l’air du temps” atual. Esta é uma perspectiva que tem se incorporado à agenda geográfica e tem estimulado pesquisadores franceses, bem como anglo-saxões já referenciados em outra parte destas memórias. A geografia política se enriquece, suas múltiplas escalas e o recurso necessário ao método comparativo encontram terreno fértil na temática. Algumas reflexões já foram publicadas: “Morar e votar. A razão da moradia e a produção do espaço político na cidade”, 2005, Fortaleza; “Isonomie et diversité. Le dileme des législatives municipales au Brésil“, 2008, Reims, também “Décentralisation, démocratie et répresentation législative locale au Brésil ", 2007, Rouen. Ainda, "O problema da sobre-representação no legislativo municipal brasileiro", 2007, Bogotá; “O espaço político local como condição de construção (mas também de negação) da democracia”, 2006 e “Do espaço político ao capital social. O problema da sobre-representação legislativa nos municípios pequenos”, 2008.
Mas o problema do regionalismo, que aparentemente havia ficado para trás, foi resgatado no I Simpósio Nacional de Geografia Regional, promovido por jovens colegas da UNIFESSPA em 2019, ocorrido em Xinguara no Pará. Foi uma grata surpresa ver o interesse pelo tema e, mesmo tendo resistido no início, retomei e atualizei minhas discussões. Confesso que acabei gostando da tarefa e me dei conta do quanto a realidade é mais resiliente do que nossa interesse em compreendê-la. No segundo SINGER em 2020, virtual, apresentei a versão aprofundada e ampliada das questões contemporâneas do regionalismo. Fiquei orgulhosa, feliz e muito agradecida por ter sido a geógrafa homenageada do evento. Pena que com as restrições da implacável pandemia do COVID 19 não pude estar novamente com meus jovens colegas na icônica região amazônica e poder abraçá-los pessoalmente.
As reflexões sobre a democracia como questão para a geografia têm possibilitado também a aproximação com as questões em torno do espaço público, objeto de atenção de outros colegas, Paulo Cesar da Costa Gomes e Vincent Berdoulay, com quem tenho tido oportunidade de debates sempre enriquecedores. Tenho considerado que o aprofundamento teórico se impõe e o problema da passagem do espaço público para o espaço político emerge como fundamento da realidade e da visibilidade da democracia, que por sua vez demarca a dimensão política da ação no espaço, que tende a ser minimizada na geografia cultural. No trabalho “Espaces publics: entre publicité et politique”, 2004, este ponto de vista começou a ser intuído. Também o texto “Imagens públicas da desordem no Rio de Janeiro: uma nova ordem ou o "ridículo de Pascal"?”, de 2008 o problema do político no espaço urbano é argumentado.
Questões de ordem teórica e empírica se entrelaçam nesta jornada. O problema do Estado, negado pela prisão conceitual adotada na disciplina, tem sido objeto de teorização e reflexão útil para a geografia e foi esboçado no texto publicado por ocasião do Encontro da ANPEGE de 2009: “O território e o poder autônomo do Estado. Uma discussão a partir da teoria de Michael Mann”. Este é um debate aberto com outras vertentes da geografia política que consideram esta escala sem significado para o mundo atual e privilegiam as escalas locais e globais.
Outros trabalhos foram publicados em temáticas que tangenciam meu centro de preocupação como o artigo “Turismo e ética” que me foi solicitado para o Segundo Encontro sobre o turismo na Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. Tentei recusar argumentando que o turismo não era o meu tema de eleição e havia o risco de cair em banalidades. Mas a professora Luzia Neide foi enfática sobre a necessidade de discutir a ética no turismo, pois esta era uma linha em construção e a minha contribuição seria importante. Mergulhei na filosofia e, afinal, gostei de escrever o artigo. Tenho tido informações de que ele tem sido leitura frequente entre os estudantes do turismo na geografia. Também a relação da paisagem com o turismo que faz parte da coletânea organizada pelo professor Eduardo Yázigi da USP teve estória semelhante. Tendo lido meu artigo no Jornal do Brasil sobre a deterioração dos conjuntos habitacionais no Rio de Janeiro foi sugerido que eu o ampliasse para compor a coletânea que ele estava organizando sobre “Turismo e paisagem”. Aqui o mergulho no tema da paisagem foi mais fácil e me deparei com o paradoxo brasileiro: um imaginário que valoriza a natureza como paisagem, importante para o marketing turístico, e ao mesmo tempo permite a deterioração da paisagem urbana. Para não ser completamente injusta admito que haja exceções, mas nossas cidades ganhariam facilmente concursos de feiura. Recentemente, em projeto conjunto com meu ex-aluno e hoje parceiro na coordenação do GEOPPOL Rafael Winter, o tema da dimensão política da paisagem vem sendo trabalhado. Nesta vertente, pesquisamos como as políticas públicas são capazes de produzir paisagens políticas características e o que estas nos dizem. Ou seja, como a geografia pode “ler” estas paisagens.
O entrelaçamento da mobilização nos espaços públicos transformando-os em espaços políticos abertos, efêmeros, mas de claras consequências sobre decisões tomadas por gestores ou legisladores tem sido objeto de pesquisas em teses do GEOPPOL. Há enormes possibilidades para a geografia de analisar as grandes mobilizações que têm ocorrido no país e no mundo, interrompidas momentaneamente nesses tempos de pandemia, mas certamente serão retomadas. O modo como os espaços públicos são mobilizados para a política, a paisagem política que emerge destes movimentos e as consequências concretas para o espaço e para a sociedade traz um caudal de indagações que não devem ser ignorados pela geografia política. Teses já foram defendidas, artigos e coletâneas publicadas. Deixo de nomeá-los para não alongar ainda mais este relato, que já está além do razoável.
Todo este caudal da minha “bacia temática” tem sido fortemente influenciado pelos debates e polêmicas na geografia e fora dela. Percebo o quanto me coloquei à margem dos paradigmas unívocos dominantes na disciplina, nas últimas décadas, o que me permitiu liberdade para maiores voos teóricos, conceituais e metodológicos para a compreensão da realidade, que afinal é o que interessa. Este percurso vem me conduzindo para o desafio de pensar conceitualmente os espaços da democracia e uma geografia da democracia capaz de recuperar a tradição tanto de filósofos como de historiadores e de geógrafos. Textos, teses e coletâneas já foram publicados sobre as possibilidades de a geografia abordar a democracia numa perspectiva do espaço geográfico.
Desde 2016, após minha aposentadoria e minhas atividades no quadro de Professor Voluntário do Departamento de Geografia e do Programa de Pós Graduação tenho continuado a exercer minha liberdade de pensar, um privilégio que a vida acadêmica nos concede num ambiente democrático. Que fique bem claro, uma vez que há entre alunos e até mesmo colegas, pretensamente progressistas que negam que tenhamos uma. Democracias pode ser imperfeitas e é preciso estar sempre atento para melhorá-las, mas é preciso estar atento também para os arautos de uma democracia perfeita, popular, direta nos termos rousseaunianos, ou daqueles mais modernos que propõe democratizar a democracia como ideia da única possibilidade de justiça social e espacial. A essência filosófica dessas vertentes, quando teve possibilidade de ser aplicada conduziu as sociedades à trágicos autoritarismos. Aqui fica lição de Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância e manter-se livre é uma tarefa permanente.
Ainda nesse período, criamos no GEOPPOL o blog Observatório de Geografia Política (www.observatoriodegeografiapolitica.com), um espaço na web onde os membros do grupo são instados a escrever textos curtos, em linguagem acessível a um público maior do que aqueles que temos na academia. A ideia é analisar e debater temas contemporâneos a partir do olhar de cada um e dos recursos analíticos que suas pesquisas ajudam a produzir. É um espaço aberto à criatividade dos pesquisadores e estudantes, que já publicaram ótimos textos sobre os temas mais variados. E como a realidade é inesgotável na criação de fatos e eventos a única limitação tem sido ainda a falta de hábito dos nossos estudantes e colegas de se deixarem levar.
Finalizando estas anotações, da mesma forma que na minha temática de doutorado exorcizei o fantasma da região que rondava a geografia, com a democracia como questão geográfica espero poder exorcizar o fantasma dos autoritarismos que rondaram minha trajetória, desde aquele que caçou bons anos da minha cidadania na juventude, intimidando e limitando minhas opções de leituras e escolhas de debates, até aquele da imposição na geografia de uma vertente conceitual unívoca que rondou minha trajetória profissional. Da mesma forma que a região continua um objeto de investigação interessante, também a democracia e a ordem institucional que ela instaura e os espaços que ela mobiliza na sociedade brasileira, que por tantos anos foi capaz de viver sem ela é uma dívida para com as novas gerações.
Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2021
-
 HELENA COPETTI CALLAI
HELENA COPETTI CALLAI HELENA COPETTI CALLAI
Nasci em Ijuí- RS em 13 de agosto de 1947, numa família de descendentes de imigrantes italianos, tanto de parte de pai como de mãe. A família do pai Antonio Cirilo Copetti tem origem na Itália, de Gemona del Friuli (província de Udine) e de Castello di Godego (Treviso). E, no Brasil e instalaram no Rio Grande do Sul no Núcleo Norte, hoje Ivorá, que pertencia à denominada 4ª Colonia- Silveira Martins. A família da mãe Nahyr Strapazon são originários de Arsié, uma pequena comuna da Província de Belluno e no Brasil se instalaram inicialmente no Rio Grande do Sul em Caxias do Sul, na 4ª Légua. Essas questões são interessantes na minha história familiar, pois foi sempre tema recorrente nas nossas conversas.
E são importantes de registro, pois indicam a organização e produção do espaço no Rio Grande do Sul, que ocupado pelos imigrantes demarcam características que até hoje são significativas para entender a sociedade gaúcha. E neste contexto as nossas histórias. As terras antes ocupadas por nativos, caboclos, indígenas ao acolherem os imigrantes passam a ideia, que persiste, de que somos todos, um povo de descendentes de europeus, o quem tem sido marcante nos aspectos culturais, econômicos e sociais. A área que acolhe esses imigrantes denominados de Colônias Velhas se caracterizava pela pequena propriedade agrícola, que logo esgota as possibilidades de subsistência familiar e passa a ocorrer à migração que vai ocupar outras áreas, num movimento que Jean Roche em seus estudos e obras publicadas, denomina de enxamagem.
É neste processo que se cria aquele que foi o município de Ijuí, constituindo-se inicialmente como um projeto de Colonização Oficial, que por iniciativa do Governo Provincial (1980) instala as famílias em terras públicas divididas em lotes rurais. São as “Colônias Novas”, que acolhem os descendentes dos primeiros imigrantes que chegaram ao RS, bem como outros que diretamente da Europa a este lugar se dirigiam.
É interessante destacar este contexto, até porque este tema é conteúdo da Geografia, e mostra as origens das nossas histórias. Somos, cada um de nós, marcados pelos espaços e tempos de nossas histórias familiares.
A colonização de Ijuí foi diferenciada em relação a outras que aconteciam no mesmo período, seja pela sua estrutura espacial, seja por acolher imigrantes de natureza multiétnica: italianos, alemães, poloneses, suecos, austríacos, espanhóis, russos, que se somaram aos antigos moradores: posseiros, lusos brasileiros, ex-escravos, os caboclos. A Colônia de Ijuí foi organizada em lotes rurais simétricos com 250 metros de frente por mil (1.000) metros de fundo, organizadas em “Linhas” num perfeito traçado ortogonal. De forma assemelhada o Núcleo Urbano é organizado em quadriculas de 100x100 metros divididas em lotes urbanos. A perspectiva do planejamento de viés positivista, tão presente no ideário político que animava o Regime Republicano nascente, manifestava a crença otimista, e diríamos hoje discutível e talvez equivocada, de que a natureza poderia ser submetida à racionalidade logica de um projeto autônomo em relação a ela.
Ocupada pelos que imigrantes estrangeiros e pelos que migravam internamente no Brasil- das Colônias velhas para as Colônias novas, essa política de ocupação do espaço logo se esgota e nova re- imigração movimenta também os ijuienses de segunda geração que partem em busca de novas terras no extremo oeste catarinense e sudoeste do Paraná nas décadas de 1940 e 1950. Mais tarde o êxodo rural se intensifica por força dos processos de modernização agrícola, partem em direção as cidades e parte em direção ao Centro- oeste e mesmo Amazônia.
Essas características demarcam as famílias que tem as singularidades das suas histórias, mas demarca também aquilo que estudamos na Geografia, que é a ocupação e organização do espaço que em suas trajetórias além de ser o lugar ocupado, produz os sentimentos de identidade e pertencimento e dá origem a novas formas de organização social, cultural e econômica.
Neste contexto de migração das Colônias Velhas para as Colônias Novas se constitui também a nossa família – Strapazon/Copetti. Somos em 4 irmãs todas formadas no curso de magistério (curso normal) que formava professores para o que atualmente se denomina de Anos Iniciais. Essa foi a orientação, a regra estabelecida na família, pois a minha mãe dizia que nós teríamos que ter uma profissão, para ter independência e formação intelectual para ter o controle das nossas vidas. Neste sentido o curso para ser professora era o ideal. E, nós, após ter essa formação e habilitação nos orientamos ao que fazer de nossa formação e vida profissional, mas antes todas fomos por algum tempo professoras do primário e cada uma continuou seus estudos na universidade a partir de seus interesses. Essa é uma das marcas da nossa mãe que era desde a década de 1950 funcionária pública federal, tendo, portanto sua profissão e identidade não apenas como mulher e esposa, embora as condições econômicas daquele tempo exigiam dela ser também a dona da casa com todas as suas implicações. Eu, a mais velha das 4, professora na universidade, a segunda (Lucia) professora da Educação básica, a terceira (Carmen) médica e a quarta (Elisabeth) jornalista. Como se pode imaginar aquilo que nossa mãe queria de início foi reforçado pelas nossas singularidades e para isso os investimentos intelectuais tiveram que ser reafirmados exatamente pelos interesses de cada uma. Afinal um curso de magistério, não era exatamente o que podia preparar com condições de competir num vestibular concorrido para realizar um curso numa universidade pública.
Acredito que aquilo que nossa mãe queria era exatamente que cada uma de nós pudesse ser independente, ser sujeito de sua própria vida. E nós todas conseguimos atender essa intenção e até o fim de sua vida ela dizia que as filhas a enchiam de orgulho, pois eram profissionais e pessoas importantes!
O mundo político e cultural estava presente na minha casa desde pequena. Meu pai que estudou apenas no primeiro ano do curso primário aprendeu a ler e soube aproveitar este aprendizado, pois estava sempre lendo livros, jornais, revistas, tudo que aparecia ele lia. Não me esqueço das tantas vezes que nos perguntaram se ele era professor. Mas ele foi sempre um trabalhador braçal, e por muito tempo motorista profissional até se aposentar. Aliás, com a aposentadoria, em um tempo que lhe permitiu viver muitos anos como tal, as leituras foram cada vez mais intensas, e discutia com outros, com os genros e filhas e com nossos amigos pois conhecedor de muitos temas tinha conteúdo para argumentar.
A nossa vida foi mais presente e ligada na família de minha mãe, morando praticamente todos juntos nas terras que meu avô e bisavó possuíam como colonos imigrantes, desde que aqui chegaram. Neste contexto a minha avó materna ao mesmo tempo em que tirava leite das vacas, vendia o leite e cuidava das lides dessas atividades era também leitora assídua e conhecia francês, além do italiano que sempre falou - o dialeto “TALIAN”. Com ela e com os outros avós começamos a aprender o italiano. Mas é importante saber que este italiano tinha suas particularidades que, aliás, merece ser referido, pois que é o falar típico de descendentes de italianos que, especialmente no sul do Brasil, é considerado uma variante brasileira do dialeto vêneto. Os imigrantes originários da Itália nas primeiras décadas comunicavam-se em seus próprios dialetos regionais o que por certo representava uma dificuldade. Em razão dos imigrantes vênetos serem a maioria foi seu dialeto que acabou por preponderar, incorporando termos dos outros dialetos e mesmo da língua portuguesa. O Talian diferencia-se da língua italiana e mesmo do dialeto vêneto italiano por ter se desenvolvido em outro contexto cultural. No ano de 2014 o Talian foi reconhecido IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como Referência Cultural Brasileira.
Voltando a minha avó materna- a Carmelina, outra marca que nos deixa realmente marcadas é a sua vida muito ligada á política e lembro que quando o Getúlio Vargas se matou ela (e eu bem pequena junto) chorávamos pela perda, juntamente com os vizinhos. Ela era assídua ouvinte da “Voz da Legalidade” e do Brizola em seus muitos discursos e depoimentos na Rádio Farroupilha de Porto Alegre e comentava com nós os assuntos.
Minha mãe teve apenas um irmão que foi vereador por várias legislaturas e prefeito da cidade. E nas campanhas políticas lembro-me de nós pequenas junto com ele e seus parceiros do partido distribuindo os “santinhos”. Afinal, a família da minha mãe teve sempre atuação política intensa, o que nos marcou, como é de imaginar.
Neste contexto lembro-me de dois fatos referentes a minha escolarização que foram marcantes, e que podem até ter sido fantasiados nos seus detalhes pela criança que eu era, mas que aconteceram realmente. Um deles foi no Primário quando no Grupo Escolar, como da direção do Grêmio estudantil, eu era algo como repensável pela biblioteca, ou pelos livros que a escola tinha para nossas leituras, e que alguém da direção da escola me chamou para avisar que os livros de Monteiro Lobato precisavam ser todos retirados do acesso para leitura. Eles eram perigosos e não podiam ser lidos pelas crianças. Isso resultou em mim, e talvez em vários colegas a curiosidade e a busca de ler assim mesmo sendo proibidos. Mais tarde fui entender os motivos da retirada dos livros, mas não sei por ordem de quem ou com que justificativas eram dadas. Talvez a nós crianças alunas do primário era apenas a ordem, não sei se em algum lugar isso era discutido.
O outro fato era referente a onde estudar no ginásio, pois no Grupo Escolar terminava na 5ª série e era preciso fazer a admissão para o ginásio e depois para o secundário. Mesmo com condições familiares econômicas difíceis de pagar mensalidade fomos cada uma a seu tempo estudar no Colégio das Irmãs. Lembro que um amigo da família que era deputado federal em Brasília conversava com nossos pais dizendo da importância de estudar em uma escola confessional para uma boa formação, pois as escolas públicas não eram confiáveis e adequadas. Quer dizer eram perigosas e incentivavam o comunismo. Claro que em uma família católica, descendentes de italianos e com muitos religiosos primos e tios da minha mãe e do meu pai a opção era estudar num colégio católico.
Mas a atuação política estudantil sempre marcou os meus caminhos de estudante seja na parte que hoje é o Ensino Fundamental e Médio, seja na universidade, sendo integrante da direção do Grêmio Estudantil e do Centro Acadêmico. Esta fase, alias foi na ditadura e o medo pode ter sido um dos componentes para desenvolver a crítica e a busca do conhecimento para argumentação.
Casada com um professor (de História) eu e Jaeme temos 3 filhos, a Andréia, o Tomás, o Sérgio, todos morando longe. Os três estudaram e fizeram seus mestrados e doutorados nas respetivas áreas. Cada um com sua profissão em determinados momentos também atuaram e/ou atuam como professores. É de fato uma marca familiar o ser professor. Dizem eles que a marca de estudar e ter muito material para leitura em casa os envolvia de modo significativo e criou neles o interesse pela educação pela cultura, pela política, pelas artes, pela literatura e pela música. Temos também 4 netas - Isabela, Valentina, Alicia, Olivia. Dos filhos: Andréia (casada com Luiz Fernando) é psicóloga e mora em Chapecó SC, Tomás (casado com Vanessa) é engenheiro eletricista trabalha na Petrobras em Macaé, Sérgio (casado com Bruna) é engenheiro civil e mora atualmente na Itália.
A minha vida foi sempre em Ijuí, uma cidade do Rio Grande do Sul, que está próxima da fronteira com Argentina, o que mostrava a mim desde pequena essa relação de fronteira que no caso era caracterizada muito pela realização de contrabando (pneus, combustível, farinha, óleo comestível e vários outros produtos de alimentação e de limpeza). Eram muitas as histórias.
Num tempo moramos em Augusto Pestana, onde minha mãe foi ser a agente dos Correios e Telégrafos, uma cidade menor ainda que era parte da antiga colônia de Ijuí. Essa antiga colônia que após processos emancipatórios constitui hoje, além destes (Ijuí e Augusto Pestana) os municípios de Ajuricaba, Bozano e Coronel Barros. Minha infância e juventude assim como a escolaridade foi toda realizada em Ijuí no Grupo Escolar do Bairro Osvaldo Aranha (escola pública estadual) e no Colégio das Irmãs- Sagrado Coração de Jesus (escola particular confessional). Frequentava a Igreja Católica de São Geraldo, onde participava dos grupos de crianças e de jovens.
O curso superior foi realizado em Ijuí, antiga Faculdade de Filosofia Ciências e Letras criada pelos frades capuchinos que tinham aqui um seminário de formação para os freis/futuros padres da respectiva ordem religiosa. Além dos cursos de Filosofia e Pedagogia foram criados posteriormente os cursos de Licenciatura Curta em Estudos Sociais, em Ciências, em Letras e os cursos de tecnólogos. Fiz o Curso de Estudos Sociais e posteriormente acompanhando meu marido que fazia um curso de especialização no Rio de Janeiro fiz disciplinas de Geografia na PUC-RJ, para posteriormente fazer Licenciatura Plena em Geografia aqui mesmo. Toda minha juventude é vivida então aqui, no interior do RS, e o que considero importante foi de estudar numa instituição de ensino superior que não se dobrou as regras impostas pela ditadura e inclusive acolheu professores de vários lugares do Brasil e da América Latina. Essas características demarcam a minha vivência e sua espacialidade não em seu espaço absoluto apenas, mas na perspectiva do espaço relativo e relacional, seja pelo convívio com pessoas diferentes, sejam pelas condições políticas que nos motivavam a pensar e agir de modo crítico. Tanto na família como na educação superior.
Após ter feito o curso de Estudos Sociais, a licenciatura e o bacharelado em Geografia foram o caminho mais curto para efetivação da minha carreira na universidade como docente e pesquisadora. A geografia aqui estudada e ensinada inclusive na escola básica tem características que saem da estrita especialidade e se conecta com um contexto das Ciências Sociais, de modo especial sempre trabalhando a história e a geografia interligadas. A geografia era marcada pelas suas singularidades, mas sempre se buscava as explicações para as questões estudadas num contexto mais amplo que envolve a sociedade, a política, a cultura. Além das outras áreas - História, Sociologia, Antropologia, Filosofia o olhar para pesquisa e para a extensão se apresentavam como determinantes na formação do geógrafo e do professor de geografia. E a vida no Departamento de Ciências Sociais, com colegas de formação diversificada estimulava as discussões para além da geografia, colocando as questões sempre num patamar de interdisciplinaridade.
A partir de minha inserção na universidade como professora se pôs como necessário a realização do mestrado e, posteriormente a formação com doutorado e pós-doc, todos fora de Ijuí. No mestrado fiz seleção em Rio Claro e na USP ambos em São Paulo, e tendo aprovação nas duas instituições a escolha pela USP se objetivou pelo fato de ser um curso mais consolidado, pois eu era bolsista de um programa de capacitação chamado PICD/CAPES - Programa Institucional de Capacitação de Docentes para melhoria da qualificação do corpo docente das instituições de ensino superior.
No mestrado estudei questões de formação da Região Noroeste do Estado do RS, que foi o tema objeto da dissertação. Retornando ao trabalho na universidade passei e me questionar se o mais importante não seria estudar e pesquisar acerca do ensino da geografia. Marca essa definição e escolha o fato de eu trabalhar num curso que além de ser presencial tinha também o chamado curso de férias onde a Universidade receba professores que estavam em exercício na escola, vindos de grande parte do RS, e de outros estados. Eram professores pertencentes às famílias que migraram para as áreas de fronteira agrícola, com o excedente populacional das Colônias Novas que estavam saturadas, e que retornam para a região onde estão seus familiares para realizar seus estudos nos períodos das férias.
Ingressei no ensino superior na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí no curso de Estudos Sociais, tendo como referência os professores de Geografia Humana, no que eles diziam quando davam aulas, no que a gente lia nos textos específicos e que era o que me interessava. Então a minha escolha foi essa. Na formação superior a gente tinha um ano letivo inteiro com disciplinas de formação geral: Filosofia, Sociologia, História da Educação, Estatística e uma disciplina chamada EPB - Estudo de Problemas Brasileiros, que no contexto daquele momento era obrigatória mas que teve uma marca singular na FAFI, se dedicando a discutir os problemas brasileiros na perspectiva política. Depois deste ano introdutório se entrava, para a formação específica, que na época eram quase todas de licenciatura curta.
Já trabalhando na FAFI/Fidene, precisava fazer a licenciatura plena para ser professora e nesse processo foram algumas andanças. Por motivos familiares fomos ao Rio de Janeiro e enquanto Jaeme realizava um curso de especialização, eu fiz disciplinas na PUC/RJ onde tive professores que até hoje me lembro, por serem marcantes nos meus entendimentos de geografia. Um deles trabalhava no IBGE e acabei indo fazer um estágio lá. No IBGE eu conheço o professor Nilo Bernardes, que tinha realizado pesquisas e estudos sobre o Rio Grande do Sul. E assim, aprendi a fazer mapa, a fazer pesquisa, a conviver com professores de alto nível, inclusive estrangeiros que ligados à universidade e ao IBGE tinham a pesquisa como procedimento essencial e continuado. Fiz um ano de estudo e de trabalho dentro do IBGE (estágio não remunerado). A partir dessa inserção passei a receber muito material de Geografia e também fiz um curso de formação acadêmica para professor de Geografia no IBGE, com trabalhos de campo e pesquisas.
Retorno a Ijuí e faço o curso de Geografia com os olhos voltados para retornar a algum lugar fora de Ijuí, a fim de fazer o mestrado. O meu curso é de licenciatura e bacharelado, mas eu nunca quis trabalhar como geógrafa, porém sempre me desafiei na pesquisa, em ver como aliar o conhecimento dos livros com o conhecimento da vida prática. E, como fazer com que os alunos nos cursos de formação docente e os da escola básica possam sistematizar os aprendizados dos currículos escolares analisando o seu viver e buscando compreender a sociedade da qual fazemos parte. E, por isso mesmo, como a relação natureza – sociedade acontece de modo a criar possibilidades e dificuldades para a nossa vida, e compreendendo que o tipo de relação entre os homens demarca a relação destes com a natureza, por vezes nos esquecendo de que a humanidade também é (parte da) natureza.
Com estes olhares parto para o mestrado onde tive a parceria de uma colega professa da Fidene e amiga até hoje, a Dirce Suertegaray que fazia o mestrado em Geografia Física e eu em Geografia Humana na USP - SP. Voltamos para Ijuí cada uma com sua especialidade para dar continuidade ao trabalho no Curso de Geografia, sempre no contexto do Departamento de Ciências Sociais. Mesmo ela se transferindo para outra cidade atuando em universidades públicas fora de Ijuí mantivemos e até hoje temos uma relação de amizade e de parcerias acadêmicas.
No tempo da formação em pós-graduação, é muito forte a lembrança do professor Milton Santos que voltava para o Brasil depois de exilado, pois era ele um autor que a gente podia ler na época só comprando seus livros na Argentina. Após seu retorno ao Brasil, à primeira palestra que ele fez na USP, no departamento de Geografia, ele se emocionou, chorou, e aquilo foi marcante para nós que assistimos, principalmente porque líamos seus livros em espanhol, pois suas publicações estavam em francês, inglês e em espanhol. A outra coisa marcante é que nessa época saiu a publicação do Yves Lacoste, “A Geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra”, onde ele discute o papel da geografia no contexto em que vivia considerando que a Geografia dos professores não leva a nada e é interessadamente sem sentido. E nós compramos o livro em xerox, porque ele era pirateado, era outro livro que não era possível de ser comercializado. E para nós foi um alento ler e pensar na geografia que fazíamos que aprendemos na escola e na universidade e que ensinamos na formação dos professores para escola básica.
Fui aluna, e tive na banca de qualificação do mestrado o professor Pasquale Petrone, um pesquisador estudioso da Geografia do Brasil e da Geografia do Rio Grande do Sul, que contribuiu muito, acredita que juntamente com o estágio do IBGE, para a realização da minha dissertação (com a orientação do Professor Ariovaldo de Oliveira na USP) que foi um estudo da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, sobre o desenvolvimento da industrialização da agricultura capitalista. Termino o mestrado e volto para Ijuí na universidade como docente no curso de Geografia, trabalhando com a formação de professores que em serviço realizavam o curso de férias que acontecia exatamente nos períodos em que estavam em férias de seu trabalho nas escolas. O curso presencial formava além da licenciatura o bacharel. Neste contexto interessava para além de estudar e pesquisar sobre temas dos conteúdos da geografia, as questões acerca do ensino e da aprendizagem da Geografia para dar conta de contribuir de modo significativo na formação dos professores para escola básica. Comecei a pesquisar e escrever acerca dessas questões e fazer um doutorado nessa linha se apresentava como mais viável do ponto de vista de atender as demandas com as quais eu trabalhava.
Ao iniciar o doutorado em Geografia na USP, não tinha linha de pesquisa em ensino. Passei por três orientadores, sendo que o último deles foi o professor Gil Toledo, que marcou muito os meus entendimentos do ensinar e do aprender a geografia. Ele aceitou que eu pesquisasse sobre o ensino da Geografia na linha de pesquisa de Geografia Física, na qual ele estava adscrito. Esse professor tinha uma prática de fazer extensão em Geografia e era reconhecidamente um professor que se preocupava em aliar a pratica aos aprendizados curriculares de modo a que o aluno entenda as coisas do mundo da vida ao estudar geografia.
Neste contexto foi desafiador para mim, fazer a tese sobre ensino de geografia, pois que naquele momento pesquisar acerca do ensino não tinha o mesmo significado de pesquisar sobre outros temas específicos da ciência. É importante dizer que isso não era questão da geografia, mas também das demais ciências que são também disciplinas curriculares.
As pesquisas sobre o ensino de geografia passaram então a ser a demarcação do meu fazer acadêmico e é neste contexto que passamos a conviver, a Sônia Castellar, a Lana Cavalcanti e eu quando fazíamos o doutorado em Geografia todas as três a USP, pensando, conversando e pesquisando sobre o ensino e escrevendo as nossas teses. A partir daí nos juntamos em um grupo de pesquisa, pois nós três tínhamos a preocupação de pensar sobre o ensino, e assim começou a nossa história, a partir da nossa formação acadêmica no doutorado. Nós três fazendo nossas pesquisas nos aproximamos, e passamos a participar juntas de eventos, a escrever, a pensar algumas coisas que nos interessasse para discutir o ensino da Geografia, a fazer pesquisas conjuntas. Fomos participando de eventos e nos constituímos como um grupo de pesquisa que têm marcas até hoje, e ao longo desse tempo a gente teve algumas pesquisas e publicações juntas. Somos nós três primeiras bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPQ para investigar acerca do ensino. E diria que desse nosso trabalho criamos uma amizade que se tornou além de profissional, familiar e também como um grupo de pesquisa de ensino de Geografia que talvez, tenha características de ser pioneiro como tal, mas que com certeza não era essa nossa preocupação, tínhamos é que provar a importância e valorização de ser pesquisador de ensino de geografia.
A realização do pós-doutorado na Espanha na Universidade Autônoma de Madrid teve a supervisão do professor Dr. Clemente Herrero Fabregat oportunidade que tive de encontros com outros pesquisadores europeus sobre as temáticas das minhas pesquisas discutindo questões de formação docente e ensino e pesquisa em Geografia. A relação com o professor Clemente Herrero Frabegat se intensificou com a sua presença sistemática por determinado período junto ao Programa de Pós Graduação em Educação nas Ciências da Unijui. Essa relação acadêmica que abriu outros caminhos se mantém até hoje pois continuamos tendo produção conjuntas e convívio acadêmico e familiar.
Como pesquisadora e professora de Geografia atuo no PPGEC - Programa de Pós Graduação em Educação nas Ciências na Unijui onde oriento questões referentes a formação do professor, ao ensino e aprendizagem. Fui também por 5 anos coordenadora deste Programa. Na UFFS- Universidade Federal da Fronteira Sul participo como docente colaboradora no Curso de pós graduação em Geografia- mestrado. Por algum tempo atuei no Programa de pós-graduação em geografia na UFRGS orientando na área de ensino que incialmente acontecia no interior das outras linhas e tendo uma parceria especial e gratificante com os professores Nelson Rego e Dirce Suertegaray desde a instalação do referido mestrado e na sequencia no doutorado.
Afora essas questões de formação acadêmica e na atuação em curso superior e em Pós-graduação, na realização e pesquisas há que ser registrado o trabalho de extensão que se caracteriza como a formação continuada.
Dentre essas trajetórias considero e destaque o Projeto de Estudos Sociais realizado na Unijuí, ao final da década de 1980 quando nós produzimos um material didático - livros de texto de Geografia e de História da 5ª a 8ª series do EF, um livro de metodologia, escrito por dois professores de História e dois professores de Geografia. E um livro da quarta série que é o estudo do município. Esse trabalho tem uma marca significativa na formação dos professores que passaram pelo curso de geografia (e também de História) da Fidene/Unijui. Teve início com a constituição de um grupo de estudos com os professores da rede estadual de ensino com a parceria de associações dos professores: - Sindicato dos Professores municipais de Ijuí, - Sindicato dos Professores de Ajuricaba, - CPERS- Centro dos professores do Estado do Rio Grande do Sul, e de instituições: -36ª Delegacia de Educação, - Departamento de Ciências Sociais da Fidene/Unijui. Marcados pelo tempo em que vivíamos que era da abertura política pós-golpe e ditadura de 1964, havia anseios de mudança em especial para fazer um ensino que fosse significativo para a vida dos alunos da escola. Foi um tempo de estudo e produção de material didático testado em escolas escolhidas pelo grupo e posteriormente editado para uso nas escolas. Nesse momento se agregaram escolas da rede pública municipal e estadual dos municípios da região da então 36ª Delegacia de educação do Estado do RS e também de escolas particulares. Considero que isso é uma marca da pesquisa de ensino e da pesquisa na e para a sala de aula.
A partir dessa atividade que marcou a todos nós professores, de cursos de formação e os da escola básica, outras publicações foram feitas juntamente com professores da rede pública. Destaco o livro “Vamos construir o espaço e a sociedade de Augusto Pestana” obra que foi produzida por nós do Departamento de Ciências Sociais da Unijui juntamente com o pessoal da área pedagógica da Secretaria de Educação, envolvendo a História e a Geografia do município. Foi obra publicada pelo FNDE e com distribuição gratuita a todos os professores da rede pública de Augusto Pestana. O Atlas IJUI-ATLAS ESCOLAR elaborado por docentes do mesmo DCS-UNIJUI com o apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Ijuí e patrocinado pela SESu-MEC destinado aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental. O estudo do município fazia parte do currículo escolar nesta Série e a produção do Atlas foi para atender estes alunos sistematizando informações acerca do município, apresentando orientações didático-metodológicas para realização do estudo. O destaque é que cada aluno matriculado nas escolas da Rede Municipal de Ensino de IJUI recebeu gratuitamente um exemplar para seu uso.
Essas atividades que me envolvi em atenção aos professores resultaram em várias publicações que estão disponíveis e reportam a importância que sempre entendemos que nos cabe dar ao trabalho de extensão universitária que está assentado na ideia e na pratica do fazer junto. Esse fazer junto atende aquilo que possa ser demanda dos professores e que resolve no atendimento daquilo que lhes é significativo aliando a prática e a discussão teórica com as elaborações metodológicas que atendem as práticas pedagógicas.
Com este mesmo entendimento participei no PNLD como avaliadora de todos os níveis: Anos Iniciais, Ensino Fundamental, e Ensino Médio, em vários momentos e, depois como coordenadora adjunta dessas avaliações. Essa é uma atividade que me permite o conhecimento dos processos de elaboração e de uso do material produzido bem como encaminha a necessária discussão teórica que envolve o ensinar geografia.
Além destes livros destinados aos professores e alunos das escolas da educação básica, tive participação na avaliação dos livros produzidos pelos docentes dos Programas de pós-graduação, que faziam parte da avaliação da CAPES, para o Qualis livros. Na Capes também participei integrando as equipes das avaliações dos cursos de pós-graduação em Geografia, outra experiência marcante do fazer pedagógico, da gestão e da produão de conhecimentos.
No que tange as Relações internacionais a minha participação é demarcada pelos contatos estabelecidos pelas pesquisas que oportunizam intercâmbios entre os docentes pesquisadores e envolve também alunos dos PPGSS que realizam estágios sanduiche na sua formação em mestrado e doutoramento. São do mesmo modo marcas do trabalho de pesquisa e de orientação na pós-graduação seja participando de eventos, fazendo pesquisas conjuntas, escrevendo e publicando no Brasil e nos países dos colegas com quem temos atuação acadêmica e encaminhando os estágios sanduiches dos mestrandos e doutorandos.
São significativas as ligações com a UAM (Madrid), a US (Sevilha), a UL (Lisboa), a UNIBÓ (Bolonha), a Universidade de Santiago de Compostela, na Europa. Na América latina com as Universidades na Argentina, no Chile, na Colômbia, na Venezuela... Neste caso com a criação da REDLADGEO – Rede Latino-americana de Investigadores de Didática de Geografia, que promove colóquios dos pesquisadores a cada dois anos nos diferentes países que constituem essa rede e cria condições para publicação de pesquisas de seus membros, tendo inclusive a edição da revista Anekumene.
Tenho realizado ao longo desse tempo várias pesquisas acerca do ensino de geografia e da formação de professores financiadas pelo CNPq e pela FAPERGS. E como pesquisadora do CNPq (bolsista de produtividade em pesquisa) e da FAPERGS PqG (pesquisador gaúcho) realizo trabalhos de investigação com base e sustentação teórica da geografia, estudando em especial o conceito de lugar. E, neste sentido destaco o livro produzido com colegas gaúchos Antonio Carlos Castrogiovanni e Nestor André Nestor Kaercher onde o meu texto “Estudar o lugar para compreender o mundo” demarca a possibilidade de trabalhar o mundo da vida, as questões práticas considerando os conceitos de local e global, de singular e universal.
A dedicação a estudar a Geografia nos Anos Inicias do Ensino Fundamental é oportunizada pela necessidade de compreender o que cabe da geografia neste nível de ensino e como são formados os professores dos anos iniciais.
Cidade e cidadania é outro tema de destaque nas pesquisas considerando as questões de valores, da ética e da estética na produção uso e vivência da cidade, lugar onde vivem os alunos dos Anos Iniciais, mas também conteúdo dos demais anos do ensino escolarizado.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AUGUSTO PESTANA. Vamos construir a história, o espaço e a sociedade de Augusto Pestana. Augusto Pestana, Ijuí: Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Ciências Sociais UNIJUI. snt
AVANCINI, E.G.; CALLAI, H.C.; CALLAI, J.L.; MALDANER, M.B. Área de estudos sociais, metodologia. 2.ed. Ijuí: Liv. UNIJUI Ed., 1986.
AVANCINI, E.G.; CALLAI, H.C.; CALLAI, J.L. História e geografia na 8ª série. Ijuí: Liv. UNIJUI, Ed. s.d.
AZAMBUJA, B.M. ; CALLAI, H.C.; KOHLER, R. Ijuí, atlas escolar. Ijuí: Ed. UNIJUI, 1994
CALLAI, H.C. (Org.) O ensino de geografia. Ijuí:Liv. UNIJUI Ed., 1986
CALLAI, H.C.; CALLAI, J.L. Fichas metodológicas para o ensino de geografia e história. Ijuí: Ed. UNIJUI, 2006.
CALLAI, J.L (Coord.) Estudos sociais na 4ª série (Ijuí). Ijuí: Liv. UNIJUI Ed.,1986.
________ História e geografa na 5ª série. Ijuí: Liv. UNIJUI Ed.,
________ História e geografia na 6ª série. 6.ed. Ijuí: Liv. UNIJUI Ed., 1989.
________ História e geografia na 7ª série. 7.ed. Ijuí: Liv. UNIJUI Ed
CASTROGIOVANNI, A. C.; CALLAI. H.C.; KAERCHER, N.A. Ensino de Geografia- práticas e textualizações no cotidiano. Porto Alegre. Editora Mediação. 2017 (12ª edição)
LACOSTE, y. A geografia: isso serve, em primeiro lugar para fazer a guerra. Campinas: Papirus, 1988.
-
 FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA
FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA FRANCISCO MENDONÇA – BIOGRAFIA COMENTADA
“A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros acho que não se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data.”
Guimarães Rosa.
Tomo as palavras do João Guimarães Rosa, de sabedoria ímpar, para construir esta biografia comentada. Ainda que tenha tentado conta-la “seguido e alinhavado” (epígrafe), não consegui... Daí, por vezes, o texto é um vaivém danado (!), o que, talvez, não o deixe cair na “rasa importância”. Até porquê, falar de nossa própria história é sempre um desafio enorme! A memória é algo seletivo e involuntário... ao expor detalhes de nossa experiência nos colocamos naquela condição perigosa de esquecer fatos, lugares, momentos e pessoas, e de dar destaque ao que, por motivos diversos, lembramos neste momento e esquecemos em outro. Mas, efetivamente, não é possível retomar toda a trajetória da vida na elaboração de um documento como este... o que apresentamos a seguir é o que foi possível e, neste momento, conseguimos recuperar como parte dessa sala de nossa memória! Nesses duros e extenuantes tempos de acirramento da pandemia da COVID-19 e insanidade profunda no governo do país, o texto a seguir é o que resulta de nossas possibilidades presentes!
DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO HISTÓRICO
Nasci no dia 3 de outubro de 1960, no domingo da eleição que levou Jânio Quadros à presidência do Brasil, no Hospital dos Ferroviários da cidade de Araguari, Minas Gerais. O Brasil vivia um ensaio de democracia, era o ano da inauguração de Brasília (meses antes do meu nascimento) e num período de otimismo e alegria no país! O legado de Juscelino Kubitschek inspirava os brasileiros a acreditar que o país realmente entrava na modernidade e que tinha um futuro promissor.
Sou originário de uma família de pessoas muito simples e humildes; papai era analfabeto, trabalhou em serviços gerais no campo e, na maior parte de sua vida adulta, na Rede Ferroviária Federal; minha mãe tinha o ensino primário completo, era dona de casa e costureira.
Sou gêmeo com uma irmã, sendo os últimos filhos de uma família numerosa, fato comum no interior do Brasil até meados do século passado; somávamos nove irmãos, seis homens e três mulheres.
Nas proximidades de meu nascimento minha família foi morar na cidade de Anhanguera, a primeira cidadezinha no estado de Goiás para quem sai do Triangulo Mineiro em direção norte.
Minha família é tipicamente brasileira, do interior do país, local onde a união das três raças que compõem a miscigenação brasileira encontrou sua mais evidente expressão; meus ascendentes são negros, indígenas e brancos... todos de gênese relativamente desconhecida quanto ao local, donde árvores genealógicas sem raízes conhecidas. Essa genuinidade brasileira é algo que muito me orgulha!
Meus pais eram extremamente religiosos, praticantes do cristianismo católico e nunca se envolveram em questões políticas, mesmo tendo vivenciado a ditadura varguista quando jovens, e a ditadura militar após meu nascimento.
Vivi uma infância muito feliz em Anhanguera, uma vida muito ligada à natureza, numa casa de uma família numerosa na qual todos trabalhavam de alguma maneira. Aos meninos era atribuída a responsabilidade pela manutenção alimentar da casa, então plantávamos, à meia, arroz, feijão, milho, amendoim, etc; e também trabalhávamos na colheita de algodão, sendo pagos pelo trabalho. Isto desde muito cedo, lembro-me de aos sete anos de idade já trabalhar com meus irmãos na roça, uma parte do dia, na outra frequentava a escola. Aos 11 anos, já na cidade grande, vendendo salgados nos pontos de ônibus ou trabalhando de ajudante em mercearia, ajudava na renda da casa, responsabilidade que aprendíamos desde a tenra idade. Aos 14 anos tive meu primeiro registro de trabalho CLT, 8 horas de trabalho por dia, e passei a estudar à noite, tendo concluído no ano seguinte o ensino de primeiro grau (1975).
Me considero um “minerano paranaense”; nasci em Minas Gerais, morei até a juventude em Goiás, de onde saí aos 24 anos para o Paraná, onde vivo. Como a maioria das famílias pobres do mundo rural brasileiro de meados do século passado, ou das cidades pequenas, a minha migrou para a cidade grande, Goiânia, em 1969, e fomos morar numa pequena casa da periferia pobre da cidade. Chegamos em Goiânia no momento em que o homem pisava na lua pela primeira vez, acontecimento que me marcou profundamente (tenho vivas na memória as imagens em preto e branco transmitidas pela televisão), foi algo incrível! Outro fato inesquecível foi a transmissão da Copa do Mundo/1970, no México, quando o país, muito festivo, vivenciava a ditadura militar, que nos obrigava, criança que éramos, a cantar os vários hinos militares em todas as atividades da escola, a ter aulas de Educação Moral e Cívica e OSPB – Organização Social e Política do Brasil, além da obrigatoriedade da Educação Física. O ano de 1972 foi pródigo a este respeito, nele o Brasil comemorava o Sesquicentenário da Independência, toda a cultuação do patriotismo, civismo e militarismo foi exacerbada!
Em 1985 fui aprovado em concurso público para professor na Universidade Estadual de Londrina e me mudei para esta cidade; ali reside até janeiro de 1996 e, ao mesmo tempo em que atuava como professor universitário, cursei o mestrado e o doutorado na Universidade de São Paulo. Vencia os 500 quilômetros entre Londrina e São Paulo nas viagens noturnas de ônibus, passava dois ou três dias na capital paulista em aulas, seminários e colóquios, e regressava para ministrar aulas na UEL.
No segundo semestre de 1991 fui aprovado em concurso público na Universidade Federal de Santa Catarina, mas não assumi a vaga. Todavia, em 1995 consegui aprovação, em primeiro lugar, no concurso público para professor na Universidade Federal do Paraná, mudei com minha pequena família para Curitiba, e assumi o cargo no início de 1996, onde moro desde então.
A escolha da geografia como curso superior foi algo completamente casual! Como tive que trabalhar para me sustentar desde muito cedo, dado a perda dos meus pais ainda criança, e da consequente diáspora familiar, não me restava muito tempo para estudar.
Assim, mesmo com as dificuldades cotidianas e o fato de estudar em uma escola de periferia, alimentei o sonho de estudar medicina, que era, de fato, uma tentativa de realizar o desejo de minha mãe. Os últimos anos de vida dela foram marcados por problemas de saúde, embora ela era ainda relativamente jovem (50 anos), sonhava que um filho pudesse ajudá-la a amenizar o sofrimento; este sonho dela recaiu sobre mim, posto que era o único que cultivava o gosto pelos estudos. Assim, meu primeiro vestibular realizado no início de 1979 foi para o curso de medicina; obviamente não passei dentre os 110 primeiros classificados para as vagas disponibilizadas pela UFG; todavia, eu havia tido uma muito boa classificação, o que me levou a tentar seguir algumas disciplinas de maneira livre da universidade, mas não foi possível dar consequência a esse intento. O curso sendo em horário integral nos exigia muito tempo de dedicação aos estudos e eu não tinha como deixar de trabalhar, o que me fez desistir da medicina logo nos primeiros meses; abandonei a universidade e os estudos.
Eu já trabalhava na Ford, recebia um salário um pouco melhor que a fase anterior e, devido à frustração com a condição de vida, me entreguei às festas e aventuras da juventude. No segundo semestre de 1979, por muita insistência da irmã mais velha, que desde quando eu era bebê foi a minha segunda-mãe, voltei a estudar e a tentar o ingresso na universidade. Ela tinha concluído o ensino médio e sabia da importância de uma formação no ensino superior, sobretudo tinha a clareza da importância da formação superior para a definição profissional via formação universitária.
Me inscrevi no vestibular de 1980 na UFG. Estando na fila e sem saber qual curso escolher, disse a mim mesmo fazer a opção pelo mesmo curso que a pessoa que estava na minha frente na fila fizesse; ao chegar minha vez diante do guichê olhei, de soslaio, para a ficha que estava sendo marcada pelo candidato à frente, ele marcou o curso de geografia!
Sem saber ao certo o que fazer decidi cumprir a minha auto promessa e marquei também geografia; fui aprovado no vestibular com uma muito boa classificação que foi motivo de muita alegria, ainda que eu não soubesse nada da possibilidade de atuação profissional.
Matriculei-me curso de geografia da UFMG em março de 1980, todavia sem poder frequentar o curso que funcionava no período matutino! Sob o conselho da secretária do departamento de Geografia para não desistir, inscrevi-me em disciplinas ofertadas à noite junto com alunos de outros cursos; naqueles anos os cursos de graduação tinham um primeiro ano de disciplinas comuns. Assim, cursei as disciplinas de língua portuguesa, introdução à filosofia, à sociologia, organização do trabalho intelectual e EPB, que era uma disciplina de época, um resquício da ditadura militar; aquele início de 1980 foi o momento de me apaixonar pelos estudos universitários, pela profundidade que se dava ao conhecimento, especialmente a disciplina de língua e literatura brasileira, ministrada pelo inesquecível professor João Hernandes Ferreira. Ele nos seduziu para a língua e literatura brasileira, nos maravilhou com a leitura de João Guimarães Rosa, de Graciliano Ramos, de Machado de Assis, de Jorge Amado e de tantos outros... foi uma imersão sem volta! Eu, que já vinha de uma paixão pela literatura, através da leitura escolhida à esmo ao longo da adolescência e do inicio da juventude encontrava, na universidade, a possibilidade de dar vazão a um prazer que não podia dividir com os amigos e colegas do mesmo contexto social anterior!
As disciplinas do curso de geografia só fui mesmo iniciar no segundo semestre de 1980, e ainda assim só pude cursar duas ou três; tive que matar muitas aulas e também muitas manhãs no trabalho. Como eu trabalhava na inspeção final de carros novos da Ford tinha que fazer os testes de quilometragem inicial e, com a cumplicidade do motorista responsável pelos testes, saltava do veículo próximo à universidade e ia assistir a partes das aulas; boa parte de meus colegas acha que eu era muito rico, pois viam-me saltar de um Galaxie ou de um Landau novinho, com motorista, na frente da sala de aulas!!! Perdi várias aulas de campo, boa parte dos conteúdos das disciplinas e conclui o segundo semestre com notas apenas passáveis... aliás, meu histórico de graduação é medíocre!
Durante o ano de 1981 consegui alterar minha função e o horário de trabalho na concessionária Ford; passei a entrar no trabalho às 13h e sair às 19h quando assumi a seção de garantia de peças de automóveis da empresa. Ganhei uma bolsa para cursar inglês num concurso de rádio e fiz o meu primeiro ano de introdução nesta língua, tendo uma aula no início da noite no meio da semana e outra no sábado à tarde. Todavia, por ser o único funcionário, dentre mais de uma centena, que gozava da possibilidade de um horário especial, os conflitos não demoraram a aparecer, pois outros funcionários reclamavam a mesma regalia à direção geral. Colocado contra a parede tive que decidir, no início de 1982, entre o trabalho e os estudos... a esta altura a geografia, a universidade, e o movimento político já haviam me conquistado; deixei o trabalho e arrisquei-me na aventura de levar uma vida sem nenhuma garantia do sustento do cotidiano!
Algo que me despertava bastante a atenção era o fato de começar a entender os problemas brasileiros no âmbito da conjuntura política de então. Para um jovem da classe baixa, forjado a lutar diariamente por casa e comida, a dimensão política era algo muito distante e fora dos pensamentos e preocupações do momento; minha vida tinha sido muito marcada por uma forte ligação ao catolicismo e à igreja, por influência de meus pais, especialmente da minha mãe, mas a universidade começou abrir meus olhos, algumas disciplinas me mostravam um outro Brasil, especialmente aquelas da geografia humana, a língua e literatura brasileira e a filosofia da ciência. No plano político, nosso envolvimento com o Centro Acadêmico da Geografia, do qual fiz parte da direção, e da AGB-Seção Goiânia, foi fundamental para alavancar nossa curiosidade e nossa atuação no movimento estudantil; várias de nossas manifestações públicas contra a ditadura e em defesa de mais recursos para a educação, com enterros simbólicos do então Ministro da Educação e passeatas pela cidade, por exemplo, davam vazão à nossa luta inicial por justiça social e democracia no país.
O curso de geografia da UFG, naquele início de anos 1980, era um curso padrão, creio que era como a grande parte dos cursos das universidades periféricas do Brasil, ou seja, era um curso muito marcado por um viés de cunho positivista, de uma geografia decorativa e com parte dos professores com débil formação; estes não tinham, em geral, nenhuma perspectiva de desenvolver com seus alunos o senso crítico e a formação da cidadania no país que, naquele momento, estava sob uma forte ditadura militar. Parte de meus professores deixaram muito a desejar ante os olhos de jovens curiosos e interessados na mudança do país; entretanto, e paradoxalmente, tive a ventura de ter encontrado alguns professores que fizeram a diferença em nossa formação. Com esses outros professores pudemos iniciar a militância política, tanto na geografia como na sociedade e foi, sem sombra de dúvidas, com a ajuda deles que o mundo se abriu aos nossos olhos e que pudemos desenvolver uma trajetória ligando a geografia à política, à sociedade, ao meio ambiente e à justiça social. Dentre estes inesquecíveis mestres destaco os professores Horieste Gomes, Valter Casseti, Elza Stacciarini, Clyce Louyse, Tércia Cavalcante, Estela Correa e Maria Helena.
O movimento estudantil do qual participávamos foi a porta de entrada para a militância política via PCB – Partido Comunista Brasileiro, ao qual estivemos vinculados por aproximadamente três anos. O movimento “Diretas Já”, um dos mais importantes para o resgate da democracia no Brasil, envolveu-nos de tal maneira que nosso cotidiano se fez com atividades permanentes no seio desta magnífica peça histórica de nosso país. A defesa da justiça social, da liberdade e da democracia e, evidentemente da melhoria da educação, estavam na nossa pauta de luta e, para além desses temas, nós nos vinculamos a uma temática que marcou, desde então, minha carreira, que é a luta em defesa do meio ambiente. Essa pauta teve origem a partir dos grandes debates que nós organizamos na universidade e fora dela, em movimentos em defesa da ecologia, contra o projeto Carajás, contra o projeto Jari, contra a Transamazônica, contra a degradação da Amazônia e do Cerrado, etc. Para nós, jovens militantes e estudantes, ao promover este tipo de desenvolvimento, o governo do país atuava de maneira entreguista e condenava o futuro do país ao atraso e ao caos!
Ainda nesse período de graduação devo destacar nossa participação na AGB-Associação Nacional dos Geógrafos Brasileiros - Seção Goiânia, através da qual pude fazer várias viagens, participar de muitas reuniões de gestão coletiva, inúmeros congressos e conhecer melhor a geografia brasileira que, naquele momento, inaugurava o movimento da Geografia Crítica. Conheci e atuei junto a muitos dos importantes geógrafos brasileiros daquele momento, dos quais cito Orlando Valverde, Ariovaldo Umbelino, Rui Moreira, Carlos Walter, José Borzachielo, Milton Santos, Aziz Ab’Saber, Berta Becker, Manuel Correa de Andrade, Antonio Carlos Robert Moraes, e muitos outros. Sob a influência deles pude afirmar minha convicção de ter escolhido um campo do conhecimento de grande relevância social, e que me dava muito prazer ao me revelar a complexidade do mundo no qual estamos imersos.
Mudei-me para Londrina em 1985, quando ingressei na Universidade Estadual como professor universitário, e de lá me mudei para Curitiba em janeiro de 1996, cidade onde resido desde então. Em Londrina nasceu Sabina, minha primeira filha e, em Rennes/França, durante o doutorado sanduiche, nasceu Anaiz; em 2011 Liza nasceu em Curitiba e, em 2020 recebemos o Caio... Estes são meus quatro filhos, um presente do universo em minha vida, que muito alegram meus dias junto à Márcia, minha companheira.
Os anos vividos em Londrina, em Rennes, em Londres, em Paris e em Curitiba foram todos muito movimentados; embora nunca mais tenha me vinculado a nenhum partido politico sempre militei junto aos partidos de esquerda, e optei por fazer uma militância em defesa da educação e da ciência, especialmente aproveitando o momento da redemocratização e de desenvolvimento que o país passou a vivenciar após a década de 1990. Assumi a liderança de instituições no Brasil e no exterior, na academia e fora dela, como se verá nos detalhes destes últimos trinta anos comentados à frente.
PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA A GEOGRAFIA BRASILEIRA.
Datas e locais de constituição da carreira na geografia.
Cursei a graduação em geografia entre os anos de 1980 e 1983, ou seja, nos extertores da ditadura militar no Brasil. Goiânia, localizada a aproximadamente 200 quilômetros de Brasília, era fortemente influenciada pelo contexto da ditadura, pois ela se situação no arco da área de “controle” do governo central. Talvez por isto tenhamos vivido ali certas ações de repressão que certamente já não aconteciam nas demais cidades brasileiras; nossas manifestações estudantis eram muito vigiadas, reprimidas, e estávamos sempre sob a mira dos militares.
Durante o curso de graduação em geografia na UFG conclui também uma formação relacionada à filosofia da ciência, tendo como temática central o marxismo histórico e dialético, um curso que funcionava aos sábados e que teve duração de dois anos, ofertado pelo CEFEG - Centro de Estudos Filosóficos e Econômicos de Goiás. Este curso foi fundamental para nosso aprofundamento no conhecimento da história das sociedades e na compreensão da luta de classes como motor da história; foi a base para nossa tomada de consciência mais firme acerca de nossa condição social, bem como da necessária atuação dos movimentos sociais no processo histórico.
Iniciei na profissão de professor ao mesmo tempo que realizava o curso de graduação. Nossa primeira experiência foi no ensino fundamental e médio; iniciei na profissão no ano de 1982 em escolas particulares de Goiânia, nos Colégio Galáxia e Colégio Carlos Chagas em 1982, por convite dos amigos Sérgio Camargo e João de Castro, respectivamente e, no Colégio Agostiniano N. Sra. de Fátima, em 1984, por processo seletivo. Em fevereiro de 1985 fui aprovado no concurso para professor substituto no Departamento de Geociências da Universidade estadual de Londrina, onde assumi uma vaga na cadeira de Geografia física e, naquele mesmo ano, em novembro, fui aprovado em primeiro lugar no concurso público para efetivar essa vaga.
Em fevereiro de 1986 ingressei no curso de mestrado em Geografia Física da Universidade de São Paulo, e o concluiu em junho de 1990, sob orientação do professor José Bueno Conti; minha dissertação teve por título A evolução socioeconômica do Norte Novíssimo de Paranavaí e os impactos ambientais - Desertificação? Na banca de defesa as professoras Dirce Suertegaray e Ana Maria Marangoni, além do orientador. Para cursar o mestrado, já sendo professor universitário e não gozando de licença para estudos, tive que fazer viagens noturnas semanais entre Londrina e São Paulo, um trecho de aproximadamente 500 quilômetros; viajava nas noites de segundas ou terça-feira assistia aulas e realizava outras atividades, e voltava para o trabalho na noite seguinte. Neste período fui contemplado com uma bolsa de estudos do CNPQ para realizar um estágio na Universidade da alta Bretanha, em Rennes/França, sob orientação do professor Robert Barriou; o estágio tinha por tema a aplicação de imagens de satélite aos estudos da Geografia. Nesta estada na França aprendemos a língua francesa e pudemos manter uma rica interlocução com o professor Jean Dresch, aposentado da Université Sorbonne, de Paris; a contribuição dele foi fundamental para desenvolver minha dissertação, e nossas reuniões aconteciam na casa dele num bairro próximo ao Cartier Latin, onde eu era sempre muito bem recebido.
Em 1991 fomos admitidos para realizar o curso de doutorado, também sob orientação do professor José Bueno Conti (5), na USP (2), agora sobre o tema clima e planejamento urbano. Defendi, em maio de 1995, uma tese que versava sobre a abordagem conceitual, teórica e metodológica do tema, avançando em novas abordagens, ao mesmo tempo que as exercitando no estudo de caso de uma cidade de porte médio, a cidade de Londrina/PR. Durante a realização do doutorado voltamos à França, a convite dos colegas do laboratório COSTEL – Climat et Occupation du Sol par Teledetection - na equipe do professor Barriou e, desta feita tivemos também a orientação do professor Jean Mounier, um renomado geógrafo da climatologia e que era reitor da Université Rennes II. A tese teve por título Clima e planejamento urbano de cidades de porte médio e pequeno: Proposição metodológica e sua aplicação à cidade de Londrina/PR, e a banca de defesa foi composta pelos professores Yahoyia Nakagawara, Joaquim Guedes, Magda Lombardo, Augusto Titarelli e pelo orientador.
Em 1999 nos submetemos ao concurso para Professor Titular na Universidade Federal do Paraná; tivemos então que elaborar uma tese, um dos critérios daqueles concursos da época, além das provas escrita, de currículo, de memorial e da aula. A tese que elaboramos teve como título “Clima e criminalidade – Ensaio analítico da correlação entre a temperatura do ar e a violência humana”, e a banca do concurso foi composta pelos professores: Riad Salamuni/UFPR, José Popp/UFPR, Helmut Troppmair/UNESP, Sueli Del Grossi/UFU e Roberto Cassol/UFSM. Esse concurso constituiu um passo importante na consolidação de nossa carreira e, a tese, uma abertura para a abordagem da análise em Geografia da Saúde, que nos interessava já desde o doutorado.
No ano de 2002 fomos convidados para atuar como professor na Université de Sorbonne Paris I, no Institut de Geographie, onde passamos alguns meses ministrando aulas, desenvolvendo pesquisas e cooperação internacional, bem como fortalecendo parcerias já iniciadas anos anteriores. Em 2004 e 2005 realizamos atividades de pós-doutorado e de professor visitante em universidades francesas e inglesas; voltamos à Rennes como professor convidado, onde trabalhamos com o professor Vincent Dubreuil e, na London School of Hygine and Tropical Medecine (9) com a professora Carolyn Stephens. Retornamos à Sorbonne, por alguns meses, e dessa feita nosso trabalho foi realizado com o professor Frederic Bertrand; ele, como os demais, tornaram-se nossos amigos para a vida. Foi também nesta estadia de Paris que estabelecemos uma relação de amizade e importantes debates com o professor Michel Maffesoli, cujo tema de interesse era o desenvolvimento do Brasil, aproveitando o boom do governo Lula e a meteórica projeção do Brasil como uma potencia no mundo de então! O Seminário que organizamos na Sorbonne, em maio de 2005, intitulado “Le Brésil: Geopolitique et environnement actuels”, no Amphi De Martonne – Institut de Géographie, havia tido um sucesso fenomenal, fato que ensejou debates e publicações que se seguiram. Ainda naquela maravilhosa estadia pudemos dividi-la com o mestre Carlos Augusto F. Monteiro (7) que veio morar conosco no apartamento da Rue des Ecoles, e nos ensinar tantas coisas sobre a arte, a cultura, a ciência e a vida!
Em 2014 realizamos um estágio pós-doutoral na Universidad de Chile, em Santiago, onde pudemos trabalhar com o professor Hugo Romero, um colega e amigo de longa data! Esta estadia nos permitiu aproximar um pouco mais da realidade da geografia na América Latina, ao mesmo tempo que aprofundar nossas análises acerca da relação entre o clima urbano e o planejamento de cidades na contemporaneidade. Os meses vividos no Chile coincidiram com parte dos anos de intensas manifestações estudantis e da sociedade em defesa da democracia e da justiça social, especialmente do acesso gratuito à universidade pública. Os intensos conflitos que eram travados entre estudantes e parte da população contra as forças do governo reavivaram a expectativa de dias melhores naquele país, então visto como sucesso econômico, mas com gravíssimos problemas sociais! No Brasil, desde o ano anterior, a jovem e imatura democracia já registrava graves problemas de sua manutenção e consolidação!
PESQUISAS EXPRESSIVAS REALIZADAS QUE MARCARAM O PERFIL ACADÊMICO
Nos quase 40 anos de pesquisas em Geografia pude desenvolver um conjunto de temáticas que me interessaram e que me envolveram profundamente. Vou destacar aqui algumas delas, certamente esquecerei de outras, mas vou dar luz às que mais se destacaram:
- A temática ambiental ou abordagem ambiental na Geografia é sem sombra de dúvidas a temática a qual me liguei desde o início da formação na graduação. É sobre ela que tenho trabalhado ao longo de toda a minha carreira. Eu situaria que os primeiros estudos nesta temática foram realizados em disciplinas na graduação, em trabalhos acadêmicos e, ao mesmo tempo, atuando junto a movimentos ambientalistas que, naquele momento dos anos 1980, em Goiânia e Brasília, no Brasil Central, animavam a nossa atuação. Creio também que o interesse por esta temática tenha uma raiz na minha primeira infância, no baixo vale do rio Paranaíba onde se situa a cidade de Anhanguera e onde, desde muito pequeno, me fascinava os banhos nos córregos, as enchentes do rio, o prazer do cheiro de terra molhada de chuva, o plantar e o colher nos solos argilosos, a beleza dos flamboyants e dos pores do sol, enfim, tanta coisa linda da natureza!
-A primeira pesquisa de cunho acadêmico que realizei foi no âmbito da Geografia Humana, aplicando as concepções teóricas de Milton Santos no estudo da economia urbana. Juntamente com dois colegas, Cesar e Sirlane, fizemos um estudo orientado pela professora Clyce Louise que versou sobre a gênese e a dinâmica do comércio ambulante em Goiânia. Essa pesquisa foi essencialmente ancorada em levantamentos primários de campo e retratou a gênese do comércio ambulante na área central da cidade, especialmente no eixo monumental da avenida Goiás, a principal avenida da cidade; ela atestava a degradação das condições de vida urbana e de trabalho, sua precarização, ao mesmo tempo que evidenciava a complexização da vida urbana nas cidades brasileiras do início dos anos 80. Essa pesquisa nos rendeu uma importante premiação; nossa monografia foi classificada em primeiro lugar no concurso organizado pelo INDUR - Instituto de Desenvolvimento Urbano e Regional de Goiás - por ocasião do aniversário dos 50 anos da cidade de Goiânia! Foi meu primeiro grande estímulo para desenvolver pesquisa doravante!
-No final da minha graduação tive a oportunidade de exercitar as meus conhecimentos em Geografia, especialmente a parte ligada aos estudos da Geografia Física, e usando da fotointerpretação. Pude atuar, a convite, para desenvolver uma consultoria num grupo de antropólogos e historiadores liderados pelas antropólogas Renate Viertler/USP e Irmie Wurst/PUC-GO, num trabalho que versou sobre o mapeamento dos sítios arqueológicos da área dos índios Boróro, tribo indígena que ocupou uma grande área no Brasil Central. O que estava na base daquela pesquisa era o fato de que, naqueles anos 1970 e 1980, o índice de suicídio, alcoolismo e prostituição, com elevada taxa de homicídios entre os indígenas, era muito elevada; a pesquisa buscava então, ao recuperar traços da história deles, ajudar na redução dos graves problemas identificados.
-Dando continuidade a meus interesses em trabalhar com indígenas pude desenvolver, juntamente à antropóloga Kimie Tomasino, dessa feita já trabalhando na UEL e como autor da pesquisa, um estudo sobre a degradação ambiental e a qualidade de vida dos índios Kaingang, no Norte do Paraná, especialmente da reserva indígena do Apucaraninha. O objetivo deste estudo era levantar subsídios para auxiliar nas lutas em defesa dos indígenas e de suas terras, posto que havia interesses escusos de tornar a área um espaço de exploração turística, algo que ameaçava a integridade cultural e a vida daquele povo.
-A temática e questão ambiental estiveram no cerne de minha dissertação de mestrado, que versou sobre a análise acerca da interação entre a exploração econômica - produção cafeeira - e a degradação ambiental generalizada no Noroeste do estado do Estado do Paraná. Esse processo foi por nós analisado sob a perspectiva da desertificação ecológica, tendo como premissa uma construção conceitual internacional para a abordagem da desertificação, e também do meu próprio orientador, professor José Bueno Conti, para o caso da desertificação ecológica. Na dissertação pudemos colocar em evidência uma abordagem acerca da apropriação das riquezas naturais no âmbito do sistema capitalista de produção e, portanto, da sua degradação e dilapidação, associadas à introdução de um novo cultivo de exportação, sem respeitar os limites da Natureza. O estudo colocou em evidência toda uma análise da formação natural daquela paisagem e, ao mesmo tempo, mostrou como a lógica da expansão agrícola, urbana e viária inconsequente gerava uma profunda degradação ambiental que, em última instância, se manifestava na perda de população e na redução da produção econômica regional.
-No doutorado dei sequência a essa perspectiva da análise ambiental integrada, a partir da qual a relação, ou interação, Geografia Física e Geografia Humana, foi a perspectiva de análise que já vínhamos desenvolvendo na Geografia. Nossa tese de doutorado teve como problemática de pesquisa a formação do clima urbano em cidade de porte médio e pequeno, visando o planejamento e a gestão urbana como caminhos para garantir qualidade de vida na cidade. O estudo focou o campo térmico urbano como derivado da interação entre a sociedade e a natureza nos espaços de aglomeração humana, tratando da questão do conforto ambiental no âmbito das Ilhas de Calor Urbano. A tese trouxe não só avanços no campo teórico e conceitual do clima urbano, mas também no aspecto metodológico e técnico e propôs, ao final, sugestões para o planejamento urbano, notadamente dando ênfase à importância das áreas verdes na cidade, como um dos elementos controladores da qualidade ambiental urbana. A realização da tese de doutorado nos permitiu delinear um pouco mais amiúde nosso campo de interesses na pesquisa geográfica, que passou a ser, desde então, o estudo da cidade tomando o clima urbano como central nas analises da problemática socioambiental urbana. Nosso pensamento sempre esteve marcado pela preocupação com a justiça social e, obviamente, o estudo da cidade dos países não desenvolvidos, especialmente do Brasil, sempre pautou a questão da exclusão e da segregação sócioespacial como condições fundamentais para se entender a lógica da produção e da reprodução dos espaços urbanos no contexto destes países. Além do campo térmico do clima urbano, e passando a estuda-lo em cidades grandes e regiões metropolitanas nos últimos vinte anos, inserimos também o enfoque sobre o problema das inundações urbanas e da poluição do ar nas cidades.
-Para elaborar a tese para o concurso de Professor Titular pude escolher uma temática que me acompanhava de longa data e para a qual não pude dar muita atenção, mas que estava presente tanto durante o mestrado quanto o doutorado. Voltando um pouco mais no tempo, percebo que ela estava presente desde a minha juventude, tendo aparecido no primeiro vestibular que fiz quando acalentava o sonho de cursar medicina. A questão da saúde humana me tomou de cheio quando fui pensar no tema de estudo para elaboração desta tese; assim, liguei os conhecimentos no campo da Climatologia, da Climatologia Médica e da Geografia Saúde, e pude associá-los com algo que me chamava muito a atenção nos anos 90, que é aa violência urbana. A partir dos anos 1980 e 90 ela passou a ser um dos temas de maior preocupação da humanidade; infelizmente essa problemática tem se intensificado sobremaneira nas últimas décadas, especialmente nos países não desenvolvidos. Nossa questão de pesquisa se colocava da seguinte maneira: Será que a Violência humana resulta somente das condições sociais / psicológicas? Não haveria nenhuma influência do meio ambiente e das condições ambientais na ocorrência da violência humana? para responder a essas questões nós fizemos um levantamento histórico a partir de bibliografias de referência, e constatamos que era um tema que estava evidente desde longa data; pudemos então relacionar a violência humana com as condições urbanas, com as condições de vida na cidade, e fizemos então uma análise da interação entre o clima urbano, o planejamento da cidade e a violência urbana.
-a elaboração da tese do titular então constituiu-se na retomava de um campo de estudos que, no Brasil, tinha sido é relativamente desenvolvido por médicos sanitaristas na primeira metade do século XX e que tinha sido enfraquecida na segunda metade deste século. Nosso estudo, desenvolvido no campo da Geografia Médica e da Saúde, foi sequenciado pela aplicação de toda uma base conceitual, teórica e metodológica que havíamos adquirido por ocasião da elaboração do doutorado e da tese de titular. Assim, encaminhamos nosso olhar para uma problemática que tomou vulto a partir dos anos 1990 e que, nas últimas duas décadas tem sido de altíssimo interesse da sociedade e dos governos do Brasil e do mundo, que é a questão das doenças transmissíveis ou negligenciadas (conforme a terminologia da OMS). Dentre as doenças nosso maior interesse tem sido pela dengue, doença que fez várias importantíssimas epidemias nos últimos no Brasil nos últimos vinte anos, e para a qual não há um controle clínico e nem tampouco da transmissão. Ela é uma doença que demanda atuação de vários profissionais, dentre eles os geógrafos, porque as condições de reprodução do vetor e de transmissão do vírus sofrem influencias diretas das condições ecológicas e geográficas das cidades. A dengue é, portanto, um grande problema social, econômico, político e cultural, concebido e abordado no campo da saúde pública, sendo o tema sobre o qual temos desenvolvido pesquisas nos últimos vinte anos. Além das importantíssimas epidemias que foram registradas no Brasil nossa questão para desenvolver esta pesquisa se relaciona sobretudo ao fato de que as mudanças climáticas globais, e o aquecimento climático global, constituem elementos propiciadores à intensificação da doença e sua expansão geográfica para áreas que hoje são indenes à doença; dentre estas estão as áreas subtropicais e temperadas do mundo, além das regiões de altitude mais elevada. Nossa principal preocupação ao estudar esta doença é que ela depende fortemente do meio geográfico para sua ocorrência, tanto do ponto de vista da condição ecológica (fatores e elementos da geografia física) das cidades, quanto das condições sociais, econômicas, políticas e culturais da urbe, que concorrem para o espraiamento e intensificação dela em países como o Brasil.
-Quero ressaltar que a temática das mudanças climáticas globais e suas repercussões regionais e locais tem estado no centro de nossas pesquisas nos últimos, aproximadamente, vinte e cinco anos, através projetos de pesquisa que envolvem, na maioria das vezes, o ambiente urbano. Nesse particular ressalto o interesse dos estudos pela qualidade e condições de vida na cidade enfocados sob a perspectiva do tripé riscos, vulnerabilidades e resiliência das áreas urbanas. Ressalto que, no âmbito de nossas reflexões aparece, muito nitidamente, o interesse pelo enfoque deste tripé, que está na ordem do dia de nossas pesquisas.
-Ah, last but not least… não posso deixar de mencionar nosso interesse e dedicação aos estudos no campo da epistemologia da geografia, especialmente porque ministro aulas deste tema, como disciplina, desde o final dos anos 1990! (Várias de nossas publicações resultam deste campo de reflexões). Aqui ressalta nossa curiosidade intelectual, as leituras e debates no campo filosofia, a ousadia de tentar conhecer um pouco mais acerca desta fabulosa aventura que é a produção consciente e consequente do conhecimento científico e vernacular! Trata-se de um grande desafio no qual, quanto mais avançamos mais temos a convicção da necessidade de que mais ainda falta para avançar!
PARCERIAS DE PESQUISA AO LONGO DA CARREIRA.
As parcerias de pesquisa que estabelecemos ao longo de nossa carreira podem ser concebidas de duas maneiras, aquelas estabelecidas no plano pessoal, ou seja, com colegas com os quais desenvolvemos nossas pesquisas e, também, aquelas de ordem institucional, ou seja, a ligação institucional é que permitiu a interação entre nossas atividades e aquelas de outros colegas através da interação e institucional. Corro um grande e perigoso risco de não mencionar todas as pessoas e todas as situações com as quais tive a felicidade interagir ao longo desses mais de quarenta anos de atividades no campo da Geografia e do Meio Ambiente e Desenvolvimento, mas vou pontuar algumas na expectativa de ser perdoado por aquelas que não mencionar; a lista é longa, devo admitir.
-Para desenvolver a pesquisa do doutorado tive a felicidade de contar com este que acabou me influenciando sobremaneira na estruturação de minhas idéias, e de grande parte da minha produção intelectual e científica, o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Sua influência se evidencia em grande parte das minhas escolhas temáticas e de um certo delineamento do meu pensamento, a partir das discussões que travamos e das incríveis e riquíssimas contribuições que ele me passou, a partir da sua própria trajetória científica e de sua experiência de mundo. Nós não desenvolvemos nenhum projeto e nenhuma pesquisa juntos, em particular se considerarmos o padrão científico e acadêmico de pesquisa científica, mas esta foi a mais longa, intensa e importante parceria que pude estabelecer ao longo de minha carreira, especialmente para a integrada, holística e aberta abordagem ambiental na Geografia e na interdisciplinaridade.
-A primeira grande influência que recebi no período da graduação foi do professor Horiestes Gomes (6) e do professor Walter Casseti; ambos foram fundamentais para delinear aquilo que pude vir a desenvolver posteriormente, a abordagem ambiental numa perspectiva de complexidade. A parceria com o Prof Horieste se dava tanto no plano da academia e na atuação à frente da AGB-Seção Goiânia, quanto da militância política, sendo que a inspiração pela Geografia Física veio do Prof Casseti; a Profa Elza completou a tríade despertando-me para o interesse da cartografia e aerofotogeografia. Foi também na graduação que tive os meus primeiros parceiros de pesquisa ao elaborar a monografia sobre os comércio ambulante em Goiânia, já mencionados anteriormente.
-Da mesma maneira como anteriormente citado, dentre minhas primeiras parcerias ressalto o trabalho sobre os indígenas, que elaborei em parceria com as antropológicas Irme Wurst e Kimie Tomazino.
-Por um considerável período pude desenvolver meus estudos recebendo a colaboração de um querido professor da Université de Haute Bretgne, na França, o professor Robert Barriou, que muito me ensinou sobre a aplicação da cartografia automática e das imagens de satélites aos estudos ambientais. Na mesma universidade tive também a colaboração do Prof Jean Mounier e, desde os anos 1990 do amigo e colega Vincent Dubreuil; com este último temos desenvolvido tanto pesquisas no campo da climatologia quanto a atuação à frente de instituições como a AIC – Association International de Climatologie. Ainda na França destacaria as parcerias com os colegas da Université de Sorbonne/Institut de Géographie (8), os professores Frederic Bertrand e André Fischer; juntos desenvolvemos interessantes pesquisas, organização de eventos, publicações e a fundação do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFPR.
-Ainda no que concerne às parcerias com colegas do exterior, nos últimos dez anos pude estreitar a colaboração e parceria de pesquisa em Climatologia, tanto quanto a análise de situações de risco e vulnerabilidade ao clima e sua relação com as doenças transmissíveis, com colegas do Canadá (o Prof Guillaume Fortin – Université de Moncton) e da Itália (Profa Simona Frattiani – Universitá de Turin). Uma das mais importantes parcerias internacionais que estabeleci é aquela com o professor Hugo Romero (Universidad de Chile, em Santiago) com quem tenho desenvolvido estudos envolvendo a Geografia, a Geografia Física e a Climatologia urbana no contexto da América Latina.
-Estabeleci ricas e profícuas parcerias nos últimos trinta anos especialmente relacionadas à temática e problemática socioambiental urbana, em projetos que desenvolvemos vinculados ao Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná. Trata se de um programa é interdisciplinar no âmbito do qual coordenei por aproximadamente vinte anos a linha de pesquisa relacionada ao ambiente urbano; destaco as parcerias com vários arquitetos, dentre eles a professora Iara Vicentini, a professora Cristina de Araújo Lima e o professor Clovis Ultramari; nesse mesmo grupo de pesquisa destaca-se a parceria bastante intensa com a professora Myrian Del Vecchio de Lima, da área de comunicação.
-Durante o período que estivemos vinculados à Universidade Estadual de Londrina pudemos estabelecer parcerias muito importantes no Departamento de Geociências; em primeiro lugar destaco a professora Nilza Freres Stipp, quando do desenvolvimento do projeto de pesquisa relacionado à degradação ambiental do Rio Tibagi, que envolveu vários colegas da UEL e de outras instituições. Na mesma universidade lembro dos professores Omar Neto Fernandes de Barros e Mirian Vizintin; juntos criamos o laboratório de sensoriamento remoto no final início dos 90 laboratório.
-Tive uma intensa e longa parceria de pesquisa com uma colega do Departamento de Geografia da UFPR e com a qual produzimos pesquisas e atividades de ensino, e publicamos um dos mais importantes livros de minha carreira, a professora Inês Moresco Dani-Oliveira. Juntos criamos o LABOCLIMA - Laboratório de Climatologia da UFPR que desde o final dos anos 90 desenvolve pesquisas variadas em Climatologia, mas com um enfoque central sobre o clima urbano. Na última década e ligado à este laboratório minha parceria se faz com o professor Wilson Flávio Feltrim Roseghini, que dá continuidade às pesquisas outrora elaboradas em parceria com a professora Inês Moresco.
-As pesquisas relacionadas à dengue que temos desenvolvido nos últimos vinte anos anos permitiram desenvolver um conjunto de parcerias, tanto no Brasil quanto no exterior. No campo da saúde pública, no Brasil, cito a Médica Angela Maron (SESA/PR) e o professor Lineu Souza (UFPR), o professor Ulisses Confalonieri (FIOCRUZ), e o professor Daniel Canavese (UFRGS – Saúde Pública). Ainda no nosso país e no âmbito da Geografia da dengue, colegas de inúmeras universidades e institutos de pesquisa também têm desenvolvido conosco pesquisas relacionadas à dengue: Érica Collishonn (UFPEL), Gustavo Armani (IG/SP), Antônio Carlos Oscar Júnior (UERJ), Vicentina Anunciação (UFMS), Ercília Steinke, Valdir Steinke e Hellen Gurgel (UNB), Ranyere Nóbrega (UFPE), Maria Elisa Zanella (UFC), Jose Aquino Junior e Zulimar Márita (UFMA) e Reinaldo Souza (INPA).
-Outras parcerias que temos desenvolvido em nossa trajetória científico e intelectual são aquelas com os professores Márcia Carvalho, Cláudio Bragueto, Fabio Cesar Alves da Cunha e Deise Fabiana Ely (UEL), Gislaine Luis (UFG), Josefa Eliane, Márcia Eliane, Rosemeri Melo e Jailton Costa (UFS), Adriano Figueiró (UFSM), José Candido Stevaux (UEM), Vitor Borsato (FECILCAM), Olga C. de Freitas, Sylvio Fausto Gil Filho, Irani Santos, Salete Kozel, Dimas Floriani, Angela Damasceno (UFPR), dentre outros.
-Ainda nas parcerias internacionais há que se destacar aquela que durou cerca de uma década com o IRI - International Research Institut on Climate and Society, da Columbia University, através do professor Pietro Ceccato. No campo da abordagem da saúde humana, especialmente para o caso das doenças transmissíveis, estabeleci um conjunto de parcerias tais com: Caroline Steffens (London School of Hygine and Tropical Medicine / Inglaterra), Paul Ritter (Institu Pasteur / Paris), Murielle Laffaye e Cecile Vignoles (CNES/França) e Mário Lanfre (CONAE / Argentina). Outras parcerias de trabalhos mais recentes são essas que temos estabelecido com colegas da Universidade de Lisboa, donde destaco a professora Maria João Alcoforado e o professor Antonio Manuel Lopes, ambas no campo da Climatologia urbana.
-Um projeto de envergadura Internacional, o Smart Cities, permitiu uma interação via projeto de pesquisa e aplicação ao planejamento urbano a partir de 2014, entre uma vasta equipe da cidade de Curitiba e um grupo de pesquisa do SMHI - Swedish Meteorological and Hydric Ressources Institut - da cidade de Estocolmo. Desenvolvemos o PARCUR – Programa de Qualidade do Ar da Cidade de Curitiba – no qual pude coordenar a parte brasileira, envolvendo a Prefeitura de Curitiba e várias instituições municipais e estaduais, tendo a coordenação internacional do Prof Lars Guidahen.
-Devo destacar também uma longa parceria no âmbito da discussão de idéias e na organização institucional em defesa da Geografia Latino-americana, meu querido e saudoso professor José Manuel Mateus Rodrigues, da Universidad de Havana / Cuba, e a professora Teresa Reina Trujillo da Universidad Autônoma do México. Nesta mesma perspectiva, mas na dimensão Ibero-americana, os professores Lúcio Costa e Antonio Vieira, da Universidade de Coimbra e do Minho, respectivamente.
ARTIGOS E LIVROS MARCANTES DA CARREIRA
Vejo como muito difícil destacar artigos mais marcantes nessa em minha biografia, especialmente porque ao longo de uma carreira de mais de quarenta anos e de intensa produção intelectual e científica, pudemos veicular nossas idéias em quase uma centena de textos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Assim, declino da indicação dos artigos aqui, mas indico aos interessados uma consulta em nosso CV-Lattes, estão quase todos ali (sou meio desatento com a inserção de todas as publicações no Lattes, assumo). Vou ater-me à citação de minhas publicações na forma de livros, e tecer alguns comentários sobre os mesmos:
-Geografia Física: Ciência Humana? foi o primeiro livro que publiquei, em 1989, como resultado das reflexões que tomavam minha mente e os questionamentos acerca da abordagem ambiental na Geografia, especialmente pelo fato de haver naquele período uma explícita “rusga” entre Geografia Física e Geografia Humana. O livro fez um rápido sucesso e encontra muita repercussão até os dias de hoje, fato que nos deixa bastante contentes! Esse livro foi publicado devido à atuação do professor José Borzachielo da Silva, o querido Zé da Silva, que apresentou o rascunho ao diretor da Editora Contexto, que imediatamente o publicou.
-Geografia e meio ambiente, foi o segundo livro, publicado também pela Editora Contexto, no início do ano de 1993. Trata se de um livro muito objetivo e sintético, e que sintetizava um conjunto de discussões e temas relacionados à questão ambiental. Esse tema tomou muita importância no Brasil no final dos anos 1980 e início de 1990 como inerente ao contexto da realização da Conferência do Rio 92 ou Eco 92.
-Clima e criminalidade - Um ensaio acerca da relação entre a temperatura do ar e a violência humana; esse livro resultou de minha tese de professor titular na UFPR, foi publicado pela editora da UFPR no ano de 2001. Interessantíssimos e acirrados debates na Geografia brasileira no começo da penúltima década foram decorrentes do título do livro, pois a leitura rápida e armada do mesmo levava a imaginar que eu fazia uma defesa do determinismo natural como perspectiva da violência humana! Ledo engano; o livro na verdade coloca em questão o fato de que, como colocado anteriormente, o meio ambiente influencia o comportamento humano e, portanto a violência humana.
-Elementos de epistemologia da Geografia contemporânea foi também um livro publicado pela editora da Universidade Federal do Paraná, em 2000, organizado e publicado em coautoria com a colega Salete Kozel. Essa obra sintetiza as discussões desenvolvidas num seminário nacional bastante denso que organizamos por ocasião da implantação do curso de pós-graduação / mestrado em Geografia da Universidade Federal do Paraná.
-Impactos socioambientais urbanos, foi um outro livro publicado em 2004 também pela editora da Universidade Federal do Paraná. Trata-se de uma coletânea por nós organizada e que resultava do seminário nacional sobre impactos socioambientais urbanos, que realizamos na cidade de Curitiba naquele ano. Palestrantes convidados do Brasil e do exterior contribuíram com textos de suas autorias para a montagem deste livro que alcançou um sucesso bastante expressivo logo da sua primeira edição.
-Clima urbano, publicado pela Editora Contexto em 2004, foi uma obra que tive o prazer de organizar juntamente com meu querido professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Assinamos conjuntamente a autoria e organização deste livro, que reúne tanto uma síntese da sua contribuição teórica a respeito do SCU - Sistema Clima Urbano - quanto quatro exemplos de aplicação dessa teoria e metodologia em cidades importantes do Brasil (Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba e Londrina).
-Climatologia - Noções básicas e climas do Brasil organizei juntamente com a professora Inês Moresco Danni-Oliveira, se constitui num livro de referência ou livro básico para os estudos de Climatologia no Brasil. Publicamos esse livro pela primeira vez no ano de 2007 pela Editora Oficina de Textos, visando não somente atualizar conceituações, métodos e técnicas em Climatologia mas, sobretudo, colocar em evidência a dinâmica atmosférica da América do Sul e do Brasil, bem como os principais tipos climáticos do país, além de exemplos das várias temáticas da Climatologia geográfica.
-Espaço e tempo: Complexidade e desafios do pensar e do fazer geográfico é uma coletânea resultante do encontro da ANPEGE - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Geografia, que organizei em Curitiba no final de minha gestão como presidente desta associação, em 2009; organizei este livro em parceria com as professoras Márcia da Silva e Cecília Lowen-Sahr, que dividiam a direção da ANPEGE comigo na gestão 2007 a 2009.
-Riscos climáticos – Vulnerabilidade e resiliência associados, é também uma outra coletânea, desta feita publicada pela Editora Paco Editorial, de Jundiaí / São Paulo, e que agrupa textos de colegas do Brasil e do exterior ; esse livro foi publicado em 2014.
-Os climas do Sul - Em tempos de mudanças globais, é uma coletânea publicada sobre nossa organização e agrupa um conjunto de textos resultantes de pesquisas de meus ex-orientandos de mestrado e doutorado sobre os climas do sul do Brasil, publicado pela Paco Editorial no ano de 2014 .
-A construção da Climatologia geográfica no Brasil, publicamos pela Editora Alínea, de Campinas, sob autoria dos professores Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, João Zavattini, João Lima Santana Neto e minha. Trata-se de uma obra síntese da contribuição do professor Monteiro no qual há um resgate de suas construções teóricas, conceituais, metodológicas e técnicas acerca da climatologia geográfica. Neste livro organizei o capítulo 3 relativo à Climatologia Urbana. O livro foi publicado também na versão inglesa dado ser um dos objetivos nossos de que a obra do professor Monteiro pudesse ser melhor conhecida no exterior;
-Meio ambiente e sustentabilidade, publicamos em 2019, numa parceria com a Mariana Andreotti, minha orientanda de doutorado, e no qual pudemos atualizar e ampliar toda a abordagem da questão ambiental contemporânea. Predomina uma visão crítica acerca do desenvolvimento sustentável, e foi publicado pela editora Intersaberes, de Curitiba.
-A cidade e os problemas socioambientais urbanos - Uma perspectiva interdisciplinar, é uma coletânea que publicamos em coautoria com a professora Myrian del Vecchio de Lima, pela Editora da UFPR no ano de 2019 (impresso) e 2020 (e-Book). Esta obra reúne mais de vinte textos oriundos de dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas no âmbito do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPR.
-A dengue no Brasil - Uma perspectiva geográfica, é uma grande obra que encontra-se em vias de publicação pela CRV Editora, de Curitiba. Trata-se também de uma coletânea com doze textos relativos aos problemas relacionados à ocorrência e epidemias da dengue do Brasil. A obra sintetiza pesquisas realizadas entre os anos de 2014 a 2019 em dez capitais brasileiras sobre o problema da dengue: Manaus, São Luis, Fortaleza, Recife, Brasília, Campo Grande, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Os capítulos são resultantes de uma grande pesquisa levada à cabo sob nossa coordenação.
-No ano 2004 publicamos também a obra Cidade, ambiente e desenvolvimento-abordagem interdisciplinar da problemática socioambiental urbana, pela Editora da Universidade Federal do Paraná, e que sintetizou tanto uma concepção interdisciplinar dos estudos sobre a cidade, quanto os marcos teóricos, metodológicos, técnicos e a aplicação dessas perspectivas no estudo de problemas da RMC - Região Metropolitana de Curitiba.
-Ainda na Editora Oficina de Textos criamos a Coleção Básicos em Geografia, que foi inaugurada com nosso livro “Climatologia – Noções básicas e aplicações brasileiras”; ele foi sequenciado pelo livro do nosso colega Adriano Figueiró “Biogeografia”, e “Geomorfologia fluvial”, de autoria do José Cândido Stevaux e Edgardo Latrubesse... a coleção está se tornando mais rica com novos livros que estão sendo organizados.
-Gostaria também de registrar que foi de nossa lavra a criação da Revista RAÉ GA - O espaço geográfico em análise, em parceria com o professor Silvio Fausto Gil Filho, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Geografia da UFPR, em 1997; a Revista da ANPEGE, quando fizemos parte da diretoria da entidade no ano de 2003, juntamente com as professoras Gerusa Duarte/UFSC e Marlene Colessanti/UFU e, por fim, da Revista Humboldt, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com o professor Antonio Carlos Oscar Junior, agora no início de 2021.
AVANÇOS TEÓRICOS E CONTROVÉRSIAS
-A unicidade do pensamento geográfico: A dualidade e dicotomia da Geografia Moderna constitui um dos temas clássicos e perenes do debate da Geografia enquanto campo do conhecimento científico. Essa característica nos despertou a atenção desde o início de nossa formação pelo fato de que desde muito cedo já tínhamos dificuldade em entender e trabalhar a Geografia Física distante ou dissociada da Geografia Humana. E essa diferenciação entre os dois ramos da Geografia tornou-se realmente algo limitante para o nosso trabalho à medida optamos por trabalhar sobre os problemas ambientais como temática de estudos e pesquisas. Essa preocupação fazia parte do momento histórico no qual a Geografia Crítica se construia e se consolidava no Brasil, ou seja, nos anos 1980; obviamente que as discussões eram muito acirradas no âmbito AGB - Associação dos Geógrafos Brasileiros – mas foi, sobretudo, dentro deste fórum que pudemos travar grandes debates e consolidar nossa concepção da unicidade do pensamento geográfico, fato que resultou no nosso primeiro livro já citado anteriormente. Mais uma vez é importante deixar claro que nossa concepção é aquela que entende que a Geografia é um campo de conhecimento dual, portanto uma ciência de caráter dualista, mas que a dicotomia se coloca como aquela na qual os dois ramos são levados à uma condição de concorrência, fato que foi muito enfatizado no âmbito da Geografia Crítica brasileira.
-Clima urbano / paisagens intraurbanas: por ocasião do desenvolvimento de minha tese de doutorado, quando já havia decidido trabalhar com o clima urbano e sua aplicação ao planejamento da cidade, visando contribuir para a qualidade e as condições de vida urbana, entendi que era preciso avançar um pouco mais nas perspectivas teóricas e metodológicas do estudo do clima urbano. Nesse sentido e apropriando-me das construções conceituais e teórico-metodológicas já difundidas pelo professor Monteiro (Brasil) e pelo arquiteto Tim Oke (exterior), pude avançar um pouco mais no campo teórico- conceitual e metodológico desse campo de estudos. Coloquei como perspectiva para se estudar o clima urbano o necessário mapeamento detalhado da cidade, que denominamos paisagens interurbanas, considerando que a variação do albedo em função das distintas superfícies da cidade é que gera ou dá origem ao campo térmico urbano e, em última instância, à ilha de calor urbana. Propusemos, então, um mapeamento detalhado do sítio urbano (hipsometria, declividade, orientação de vertentes, direção e velocidade de ventos predominantes) e da cidade (uso e ocupação do solo, morfologia e funções) como perspectiva elementar para o estudo do clima da cidade, o que poderia ser comprovado posteriormente, ou não, com as medidas de temperatura do ar a 1,50 m em situações distintas do tecido urbano. Comprovamos essa perspectiva de que as paisagens intraurbanas correspondem a diferentes áreas delimitadas conforme as condições térmicas da cidade. Ademais, foi com esta tese que pudemos dar vazão à aplicação das imagens de satélites aos estudos dos climas urbanos no Brasil, tendo sido a segunda tese no país com este enfoque, ou seja, com aplicação de imagens de satélite em estudos de detalhes.
-Clima e violência humana: a relação entre o clima e a violência humana nas cidades acabou se constituindo numa abordagem totalmente inovadora quando se estuda e se propõe a melhoria da qualidade de vida na cidade. Nossa tese de professor titular, como comentado anteriormente, sobre a influência das condições ambientais e climáticas na vida das pessoas, especialmente no comportamento humano, constituiu-se numa intensa controvérsia no momento de sua divulgação. A leitura rápida, muito apressada e superficial daqueles que se deixaram levar apenas pelo título levou ao desenvolvimento de acirrados debates, especialmente no âmbito da AGB, pois que muitos acreditaram que o título da obra estivesse fazendo ou propondo renascer o determinismo ambiental na Geografia brasileira. Nesse estudo o que fizemos foi exatamente comprovar que as condições térmicas influenciam o organismo e o comportamento humano. As condições climáticas se somam a outros elementos e fatores de cunho antropológico ou cultural, no sentido de reforçar a complexidade da vida daquelas pessoas que se encontram em situações de vida extremamente difíceis. Dito de outra forma, as temperaturas muito elevadas realmente influenciam mais aquelas pessoas que sem moradia, sem condições de boa alimentação, sem escolas, sem respeitabilidade, etc. e que, vivendo à margem da sociedade, tem muito mais propensão à prática de ações violentas do que aquelas pessoas que vivem em boas condições de vida. Enfim, pudemos comprovar que as condições ambientais/climáticas também influenciam no acirramento da violência na contemporaneidade.
-Analise integrada de bacias hidrográficas: Em meados dos anos 90 o tema da escassez das águas doces no planeta tornou-se dos mais importantes na pauta de discussões internacionais, seja de pautas ligadas ao meio ambiente propriamente dito, seja na academia, seja no âmbito da esfera política em função da escassez desse recurso. Tendo em conta esse problema, que evidencia por si só uma decorrência das nada saudáveis relações estabelecidas entre a sociedade e a natureza, e também porque é um problema que tem uma dimensão espacial muito eloquente, tornou-se muito importante dedicarmos a tratar do mesmo em parceria com colegas do Brasil e do exterior, tanto no âmbito da Geografia como de algumas áreas correlatas a esta temática. Considerando a dimensão regional desta problemática no estado do Paraná, desenvolvemos um primeiro projeto de pesquisa voltado ao diagnóstico e conflitos socioambientais da gestão das águas da bacia hidrográfica do Tibagi, tendo como coordenadora a professora Nilza Aparecida Freres Stipp, com quem mantivemos uma rica parceria de pesquisa por mais de vinte anos. A partir da proposta metodológica de gestão de análise de bacias hidrográficas do Professor Pedro Hidalgo, construímos uma metodologia específica para diagnóstico e análise ambiental de microbacias hidrográficas. A escolha da escala da microbacia se deveu, sobretudo pelo fato de termos identificado muito rapidamente que, para o envolvimento dos cidadãos no processo de recuperação da degradação ambiental, era preciso falar com eles numa linguagem de uma realidade por eles vivenciada; constatamos que é na escala da microbacia que a maior parte dos homens tem noção espacial e, portanto, da sua responsabilidade ambiental. Essa proposta foi aplicada em inúmeros estudos de casos no Brasil. Ao vincular-me à Universidade Federal do Paraná elaborei um projeto de pesquisa integrado que envolveu todo o departamento de Geografia; uma idéia de pesquisa integrada, sob nossa coordenação, e que tinha como objeto de estudo a bacia hidrográfica do alto Iguaçu. Desenvolvemos esse projeto por aproximadamente uma década, até que outros colegas especialistas no tema dos recursos hídricos foram contratados, o que nos permitiu dedicar nossa atenção aos temas que já faziam parte de nossas perspectivas.
-Geografia Socioambiental: Dando continuidade às nossas preocupações acerca da unidade do pensamento geográfico, e colocando no centro dessas preocupações a abordagem dos problemas ambientais, tivemos a condição de desenvolver nossa reflexão tendo recebido influências consideráveis por ocasião dos debates ocorridos no início da década de 1990. No livro “Geografia e meio ambiente” periodizamos a abordagem ambiental da Geografia em dois grandes momentos, aquele em que a abordagem ambiental tinha um caráter eminentemente descritivo dos elementos da paisagem, de forma isolada, que teria durado até por volta dos anos 1960 e 1970. Após esse período e dando vazão ao clamor social generalizado dos movimentos ambientalistas, assumia um caráter neopositivista, a Geografia, especialmente Geografia Física, passava a tratar do meio ambiente de uma maneira um tanto mais interativa, dando vazão ao caráter de conhecimento aplicado; essa característica passou a envolver elementos do meio social aos elementos do meio natural, e caracterizou o período que vai dos anos 60 / 70 até o início dos anos 1990. Todavia os grandes debates internacionais levados a cabo desde o final dos anos 60, com os resultados da reunião do Clube de Roma, da conferência de Estocolmo, da construção do desenvolvimento sustentável e da conferência do Rio, ou Eco 92, tornou-se praticamente impossível falar de meio ambiente sem envolver as questões sociais, especialmente nos países não desenvolvidos. Ou seja, falar de meio ambiente sem tratar da questão do desenvolvimento, das questões ligadas à injustiça social e da pobreza, era tratar da problemática ambiental de forma parcial ou que escamoteava sua real dimensão social. Num tal contexto tornou-se evidente que a problemática ambiental é, no fundo e na verdade, uma problemática de característica ou de ordem eminentemente social... que o problema da degradação da natureza não é um problema para a natureza em si, mas sim um problema eminentemente da sociedade, e daí a origem ou desenvolvimento no campo da Geografia do que temos chamado de Geografia Socioambiental. Obviamente que o termo já era recorrente em outros campos do conhecimento, como por exemplo, na sociologia, na economia, na antropologia e na ciência política, mas na Geografia era novidade; embora aparecesse como tema em vários documentos e discursos ele não encontrava ainda uma construção conceitual. Foi assim que, no final dos anos 1990, publicamos o primeiro texto na revista Terra livre da AGB intitulado Geografia socioambiental, no qual tecemos os primeiros elementos para delinear as particularidades desta abordagem no campo da Geografia. As influências vieram tanto de abordagens no seio desta ciência que não empregavam o termo, como de outros campos e autores como Michel Serres, Ignacy Sachs, Bruno Latour, Enri Acselrad, Enrique Leff, etc.
- S.A.U. – Sistema Socio-Ambiental Urbano: No final dos anos 90 o PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - publicou um guia metodológico para a elaboração de estudos visando subsidiar ações para garantir a qualidade ambiental das cidades latino-americanas; estas cidades se apresentavam fortemente marcadas por degradação social e ambiental de toda ordem. Neste momento ainda não tínhamos na Geografia uma perspectiva integradora e com perspectiva crítica que pudesse embasar o desenvolvimento de estudos abrangentes sobre os problemas socioambientais urbanos. Cientes da grande contribuição do SCU - Sistema Clima Urbano (Monteiro, 1976) propusemos dar um salto e ir além, posto que tanto o clima quanto a vegetação, os solos, as águas, etc., assim como as diferentes formas de poluição, a qualidade das águas e sua escassez, a violência e a pobreza humana, etc. formam um todo complexo e desafiador à gestão das cidades. Considerando também a perspectiva de compreensão da cidade a partir de uma Geografia unitária ou integrada, construímos uma proposta conceitual e metodológica para o estudo dos problemas socioambientais urbanos e a denominamos S.A.U. – Sistema (sócio) Ambiental Urbano, e que auxiliou na elaboração de inúmeros estudos de caso nos últimos vinte anos.
-Problemática socioambiental urbana: Foi no âmbito do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Meio Ambiente e Desenvolvimento que coordenamos a linha de pesquisa relacionada ao ambiente urbano, e na qual desenvolvemos e construímos a abordagem dos problemas da interação entre sociedade e natureza nas cidades na perspectiva da problemática socioambiental urbana. Por um bom período os resultados desses estudos foram debatidos nos fóruns da ANPPAS e da ANPEGE, primeiramente dentro do GT-Geografia Urbana e, posteriormente, após 2009, dentro do próprio GT-Problemática Socioambiental Urbana, que criamos para aglutinar os numerosos e diversificados trabalhos produzidos no âmbito dessa temática.
-Riscos híbridos: Os riscos constitui um dos temas mais importantes de estudos e gestão ambiental das últimas décadas. Não se trata de uma abordagem nova dado que sempre estiveram presentes nas preocupações dos pesquisadores e dos gestores urbanos e rurais. Todavia, após os anos 1980, com a intensificação da degradação ambiental e o avanço tecnológico no contexto do processo de industrialização avançado, e da urbanização desenfreada, os perigos e ameaças à sociedade tomaram intenso vulto. Após a publicação do livro de Ulrick Beck (Sociedade de Risco), tanto a ciência quanto os gestores públicos em todo o mundo, intensificaram suas preocupações e a criação de políticas públicas e intervenções visando não somente o conhecimento da formação de situações de perigosas, mas, sobretudo no desenvolvimento de estratégias de prevenção à ocorrência dos mesmos. Os riscos não causam impactos de maneira homogênea em toda a população onde ocorrem, eles se distribuem diferentemente no espaço e no tempo e, por isso mesmo, demandam atenção particular; à eles se associam diretamente as vulnerabilidades e a resiliência como dinâmicas necessárias à sua compreensão e gestão. Mesmo considerando-se suas três clássicas categorias, ou seja, os riscos naturais, os riscos sociais e os riscos tecnológicos, nossa compreensão é de que um não ocorre de maneira dissociada dos demais. Eles tão eminentemente associados uns aos outros, até porque somente são considerados risco por impactarem as sociedades humanas, o que os torna um construto social. Se considerarmos mais ainda o fato de que risco é sempre uma relação entre um elemento ou fenômeno desencadeador e a sociedade exposta a ele, necessariamente deveremos compreender que não existe risco para a natureza e nem tampouco para tecnologia; os riscos são sociais. Dessa maneira, é a sua repercussão sobre a sociedade que vai torná-lo um risco e, evidentemente, quando associado a uma condição de altíssima vulnerabilidade social e a riscos tecnológicos, eles se tornam muito mais impactantes e mais importantes. É exatamente essa condição que nos leva a entender os riscos como processos eminentemente híbridos.
-Alternatividades em saúde: Os limites ou a parcialidade dá concepção científica moderna a respeito da realidade estão presentes nas reflexões de filósofos da ciência e de epistemólogos nos últimos cerca de cem anos. Mais do que isso, a compreensão de que a perspectiva científica não existe isoladamente do contexto sociocultural no qual ela se produz é que nos leva a pensar que a ciência desenvolvida nas academias da América Latina e da África é fortemente determinada pela noção e concepção de mundo eurocêntrica. Essa leitura da realidade colocou em segundo plano, ou subestimou, ao longo de toda a sua história, os saberes populares ou saberes autóctones/vernaculares produzidos na longa experiência milenar de vida das populações autóctones, como por exemplo, os indígenas no Brasil e os nativos de África. Há um importante movimento que toma corpo na América Latina e parte da África mais recentemente, o saber decolonial e pós-colonial, sobre o qual temos nos debruçado na última década para tentar compreender e avançar um pouco no entendimento destas outras ontologias. No campo da Geografia da Saúde temos tentado evidenciar o conhecimento de populações que lidam com a saúde humana, ou que trabalham a saúde humana, a partir do das próprias tradições e dos cuidados não ocidentais com o corpo humano. De maneira muito específica temos orientado pesquisas acerca do papel das benzedeiras, dos terreiros de candomblé, de raizeiros, das garrafeiras, dos centros espíritas, etc. no trato dos males humanos. Tem sido uma instigante e revolucionária experiência, uma verdadeira ruptura epistemológica!
-Geografia plural: Como Sequência de nossa perspectiva de ação e defesa de uma Geografia unitária, no sentido de que é um campo do conhecimento de caráter dualista, e juntando nossa perspectiva de abordagem da problemática socioambiental, concebemos o objeto de estudo da Geografia como um conhecimento complexo. Essa complexidade é revestida de uma riquíssima heterogeneidade na atualidade, especialmente nos últimos vinte anos aproximadamente; neste contexto não há nenhuma hegemonia de um ou outro campo ou temática, nem tampouco de uma perspectiva ideológica ou tecnológica se sobressaindo ante às demais. A geografia brasileira e internacional tem evidenciado uma muito rica diversidade de temáticas de estudos de problemáticas de interesse da sociedade, e emprega concepções teórico-metodológicas e técnicas as mais variadas, sem que haja uma hegemonia de um campo ou outro. Nós entendemos que este é o momento de uma rica fruição do pensamento geográfico e que, portanto, deve continuar assim, porque nos parece ser a saída possível e promissora ao presente e ao futuro da Geografia.
PRINCIPAIS CONTROVÉRSIAS, CRÍTICAS E EMBATES SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA REALIZADA
Vou destacar apenas três de nossas construções intelectuais que foram motivos de controvérsias, críticas e embates no campo da geografia...
-A ideia de unicidade do pensamento geográfico, que defendo desde sempre, talvez seja aquela de maior expressão no que diz respeito à controvérsias, críticas e embates que tenho vivenciado ao longo da minha carreira. Interessante observar que não é uma nova questão nem tampouco uma ideia minha, mas devo reconhecer que fui um dos geógrafos a promover sua retomada com vigor e aprofundar seu conhecimento e desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, defendê-la no momento em que a Geografia Crítica brasileira era hegemônica, posto que esse tipo de discussão ou temática não estava colocado na ordem do dia, era considerado algo superado dado a hegemonia da Geografia Humana naquele contexto. Como já coloquei em outras partes deste documento, essa é uma temática muito cara para mim, refletindo-se até mesmo quando fui presidente da ANPEGE, em 2009, quando promovi a unificação da Geografia Física e da Geografia Humana numa mesma Câmera do CNPq; muitos acharam que era uma ação deliberada e pessoal minha, poucos se lembram de que a junção numa mesma câmara havia sido deliberada na assembleia da ANPEGE, em Fortaleza, no ano de 2005. Até o ano de 2010 os dois ramos da Geografia estavam separados e situados dentro de distintas áreas do CNPq; a Geografia Física na Geociências e Geografia Humana na Sociais Aplicadas. Por conta disto, nos anos de 2008 a 2011, sofri severas críticas, embates e posturas realmente assustadores de colegas contrários à unicidade do pensamento geográfico; todavia, passados mais de dez anos dessa história a situação parece estar apaziguada e funcionando muito bem, tendo a Geografia Física e a Geografia Humana dentro da subárea de Geografia como parte da grande área de Ciências Sociais Aplicadas no CNPq.
-Outra importante controvérsia no contexto da qual recebi muitas críticas, e certamente embates longos, intensos e, por vezes, exagerados, é aquela ligada ao tema de minha tese de professor titular, tratando do clima e criminalidade a partir de um ensaio sobre a temperatura do ar como elemento importante na ocorrência da violência humana. Já pude comentar em outra parte deste documento a grande controvérsia vivenciada no início da penúltima década, mas gostaria de destacar que ela oportunizou-me estender o debate para fora da Geografia, aparecendo em reportagens de revistas importantes no cenário nacional e mesmo da grande mídia televisiva comercial no Brasil; em março de 2001 o tema recebeu cinco minutos de exposição num programa de domingo à noite, certamente com interesses de escamotear a então decadência do sistema penitenciário no país, mas conseguimos impor a visão crítica e não deixar que a posição determinista favorável ao governo predominasse.
-A proposta de abordagem e concepção da Geografia socioambiental é o outro tema revestido de consideráveis controvérsias e críticas, e que também decorreu em debates importantes. Uma parcela dos geógrafos brasileiros não dá importância a essa proposta por não considerá-la relevante, alguns até achando que é um sinônimo falar em Geografia Ambiental ou Geografia Socioambiental, e outros até se apoiarem em outras matrizes da abordagem da relação entre a sociedade a natureza. Alguns até advogam que a abordagem deles é a única e verdadeira abordagem socioambiental na Geografia. Não tenho muito a dizer sobre essas posições, respeito o que cada um constrói e nunca arroguei a posição de ser o detentor da verdade, e nem de haver uma única maneira de conceber a Geografia Socioambiental. Entretanto, e para além de controvérsias muitas vezes pueris e jogos de poder ilusórios, sou extremamente contente de observar e constatar que nossa proposta acabou se tornando uma referência no Brasil como um todo, posto que possibilita uma interessante, segura e desafiadora abordagem geográfica da realidade. Ela não se constitui numa imposição de leitura geográfica da relação sociedade – natureza, é uma possibilidade, dentre tantas outras no âmbito da Geografia Plural e da ciência aberta e criativa!
ELEMENTOS MARCANTES QUE ENTRELAÇAM SUA VIDA PESSOAL E INTELECTUAL.
Para não me delongar mais no texto gostaria de destacar algumas homenagens e honrarias que marcaram minha trajetória profissional:
. Medalhas de Reconhecimento pela contribuição ao desenvolvimento da ciência recebidas das Universidad de Havana/Cuba (2000) e da Universidad del Zulia/Venezuela (2003).
. Professor Visitante na Université Sorbonne/França 2002 e 2005.
. Professor Visitante na Université de Haute Bretagne/Rennes 2/França – 2004.
. Medalha de honra ao Mérito / UFG (Universidade Federal de Goiás) – 2014.
. Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da UFPR (Universidade Federal do Paraná) – Desde 2017.
. Professor Visitante - PPGEO / Programa de Pós-graduação em Geografia. UERJ /. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2020/...
REFLEXÃO LIVRE EM TORNO DE ELEMENTOS SUBJETIVOS QUE DIRECIONARAM AS ESCOLHAS PESSOAIS E INTELECTUAIS.
Penso ser importante dar destaque à nossa atuação institucional desenvolvida desde o momento de nossa formação inicial em Geografia na UFG, e que se intensificou em outras instituições no Brasil e no exterior ao longo de nossa trajetória:
. Centro Acadêmico de Geografia / UFG (Universidade Federal de Goiás) : 1982 – Membro da direção.
. AGB/Goiânia (Associação dos Geógrafos Brasileiros): Tesoureiro 1982/1983 – Vice-diretor/ 1984.
. AGB/Londrina: Diretor 1986.
. Dep Geociências/UEL (Universidade Estadual de Londrina) – Chefe 1989/1991.
. PPGEO/UFPR(Programa de Pós-graduação em Geografia) – Fundador e coordenador 1998/2003 e 2005/2007.
. CAPES/Comitê de Avaliação da Área de Geografia – 1999/2002.
. PPGMADE/UFPR (Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Meio Ambiente e Desenvolvimento) – Coordenador 2002/2004.
. ANPPAS (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Ambiente e Sociedade) - Membro da Direção 2004/2006.
. ANPEGE (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Geografia) – Presidente 2007/2009.
. AIC (Association Internacional de Climatologie) – Conselho Administrativo 2003/2006, 2012/2015, Presidente 2015/2018.
. UGI (União Geográfica Internacional) – CoC (Comissão de Climatologia): Membro 2012/2021.
. CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) – Membro do Conselho Técnico Científico – 2020/...
Eventos organizados:
- Semana de Geografia / UEL – 1990.
- Encontro Nacional de Estudos Sobre Meio Ambiente / ENESMA – UEL/1991.
- Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada / SBGFA – UFPR/1997.
- Simpósio Brasileiro de Climatologia / SBCG – UFPR/2002 e 2014.
- Seminário Nacional de Impactos Socioambientais Urbanos / SENISA-URB – UFPR/2004.
- Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Geografia / ENANPEGE – UFPR/2009.
Tenho que destacar também a atuação na condição de orientador principal de mais de 100 (cem) Mestres e Doutores, tanto de estudantes vinculados à Geografia quanto no campo do Meio Ambiente e Desenvolvimento, e de inúmeros pós-doutores. Com eles pude avançar muitíssimo na construção de nosso pensamento, e a eles sou muito grato!
-
 EUSTÓGIO WANDERLEY CORREIA DANTAS
EUSTÓGIO WANDERLEY CORREIA DANTAS MAR E INTIMIDADE, ABORDAGEM AUTOBIOGRÁFICA
INTRODUÇÃO
Na construção de abordagem autobiográfica, o ser proativo, a compor um projeto profissional coletivo de fortalecimento da Ciência Geográfica, alicerçado em quadro de especialização individual intensa no domínio da Geografia Urbana e do Lazer, se apresenta com força. Ele se torna claramente perceptível em atuação no magistério superior e a envolver, com ênfase, dentre outros segmentos de atuação: a) o ensino – professor da graduação e da pós-graduação, com consequente orientação de estudos associados a esses níveis de formação (monografias, iniciação científica, dissertações e teses); b) a pesquisa – titular de bolsa Produtividade em Pesquisa (PQ-CNPq) e a coordenar e participar de projetos de pesquisas (locais e em rede) aprovados por instituições de fomento nacionais e internacionais.
Este gênero de envolvimento não pode ser vislumbrado sem a consideração de um contexto diverso e a envolver, a partir do indivíduo (o eu), conjunto de instituições, compostas por pessoas e articuladas a ideias e ideais. A partir da apreensão de minha inserção-interação com o domínio institucional, os mentores-aliados-colegas se apresentam, criando amalgama a me induzir a ousar na implementação de projetos de leitura e de atuação no mundo. São estes projetos que suscitam, grosso modo, o reconhecimento deste profissional como professor-pesquisador.
A intenção não é a de esboçar um quadro fragmentado, mas a de construir uma aproximação didática a justificar como ponto de partida, o imprescindível no caminhar, o ser professor, ente fundamentado na articulação-interação com os “outros eus”.
DO FATO, PASSANDO PELAS TRAJETÓRIAS
O exercício do magistério superior se efetivou graças a meu envolvimento direto em política de especialização profissional animada na e pela Universidade Federal do Ceará, da qual fui beneficiado e, na sequência, contribui vivamente, especificamente no domínio da criação de uma pós-graduação stricto sensu.
ESPECIALIZAÇÃO ANIMADA NA UFC: REFINAMENTO DE BASE TEÓRICO CONCEITUAL
Sou diretamente beneficiado pela política de qualificação dos quadros profissionais no Departamento de Geografia, um dado facilitado por sermos titulares, à época, de um acordo CAPES-COFECUB, cujo coordenador, o Prof. José Borzacchiello da Silva, lembrava veementemente da importância em realizar estudos no estrangeiro, especificamente na França.
Para garantir implementação do citado intento, necessário se tornou construção de um projeto de pesquisa a submeter. A tarefa foi facilitada haja vista trazer comigo questionamentos resultantes do mestrado, finalizado em 1995 na USP, sob orientação brilhante da Profa. Ana Fani Alessandri Carlos.
Na leitura da cidade, uma questão atiçava minha curiosidade, no concernente ao delineamento de novas práticas de sociabilidade na cidade e a substituir as preexistentes. Dois caminhos se apresentavam, um apontando para o estudo dos Shoppings e outro das Zonas de Praia da Cidade. A primeira possibilidade de estudo, pautada na mesma matriz da dissertação, de uma Geografia Urbana do Comércio e dos Serviços, e a adentrar nos meandros do circuito superior da economia, especificamente no tratamento de concorrência aberta estabelecida entre o Centro e os Shoppings, e pautado na capacidade deste último em inovar na reprodução, em seu interior, de espaços de sociabilidade a concorrerem com nossas antigas praças. Espaços “semi-públicos” (CARLOS, 2001) a se instituírem como lócus de encontro da sociedade hodierna. A segunda possibilidade, ao adentrar em outro domínio da geografia urbana, se aproxima de uma geografia dos lazeres, com o apontamento de lógica crescente e gradual de valorização das zonas de praia como espaços de sociabilidade. Tal dado justificou um redirecionamento das cidades litorâneas para o mar, com densificação de ocupação desta parcela da cidade no tempo e em atendimento aos novos anseios da elite em reproduzir-reformatar práticas advindas do ocidente: os banhos de mar, os atuais banhos de sol, a vilegiatura marítima e o turismo litorâneo, não esquecendo das práticas esportivas náuticas e aquáticas. A concorrência viva destas áreas com o centro, suscitou processo de urbanização intenso e a se fortalecer com o advento das políticas públicas de desenvolvimento da atividade turística no estado.
Embarquei nesta possibilidade e haja vista, na segunda metade dos anos 1990, ainda existir uma lacuna na Geografia Urbana Cearense no tratamento do fenômeno de urbanização litorâneo, cujas dimensões suplantavam o limite da cidade, evidência clara do urbano a extrapolar sua matriz.
As únicas menções em relação à aproximação da sociedade ao mar se apresentavam perifericamente na literatura e na ciência. No primeiro caso, em apenas duas obras, uma escrita no século XIX, “A Afilhada” de Paiva (1971), e outra na primeira metade do século XX, “Praias e Várzeas” de Barroso (1915). Paiva foi o pioneiro na indicação da relação da cidade com o mar, evidenciando uma aproximação tímida da elite em relação às zonas de praia e marcada pela dinâmica dos tratamentos terapêuticos associados à ideia do bem respirar. Barroso, conhecido nacionalmente por obra associada ao Sertão, “Terra de Sol” nos oferece trabalho direcionado à apreensão da dinâmica característica das zonas de praia da cidade no início do século XX, com apresentação de uma ambiência cultural fortemente marcada pela pesca artesanal. Para o citado, tratar-se-ia de obra a devolver à sociedade cearense parte de sua geografia esquecida, aquela associada às Praias e que se apresenta como complementar ao Sertão. No segundo caso, restrito a trabalhos na área da Arquitetura e da Sociologia, respectivamente, “Fatores de localização e de expansão da Fortaleza”, de Castro (1977) e “Cidade de água e sal”, de Linhares (1992). Castro é um dos primeiros a evidenciar, na lógica de expansão da cidade, fluxo direcionado às zonas de praia. Linhares foi o primeiro a remeter vivamente ao processo de aproximação do mar pela sociedade local, produzido, segundo ele, a partir dos anos 1970, transformação das zonas de praia em equipamentos públicos de lazer, especificamente com a construção dos calçadões a acompanharem a faixa de praia.
Na inscrição no Doutorado em Geografia da Université de Paris IV - Sorbonne, sob orientação do Prof. Paul Claval. Da possibilidade de trabalhar com profissional e, principalmente, pessoa de seu quilate, me nutro de ambiência fértil da Geografia Francesa. Já no primeiro ano tomei conhecimento da realização de evento realizado no Institut de Géographie em 1992, intitulado La Maritimité Aujourd’hui. Reuniu conjunto de pesquisadores de renome, de diversas áreas e países, cujos resultados foram publicados, em obra a guardar o mesmo título, por Peron e Rieucau (1996). A citada obra alargou meus horizontes com evidenciação de: 1. Arcabouço teórico e conceitual envolvido no delineamento do conceito de maritimidade. Imbuído da tradição existente na França, seu ponto de partida foi o das representações coletivas, retomando, assim, o conceito clássico de maritimidade da Geografia Física e lhe dando nova abrangência: “trata-se de uma maneira cômoda de designar conjunto de relações estabelecidas por uma população com o mar, especificamente aquelas que se inscrevem em um quadro de preferências, de imagens e, principalmente, de representações coletivas” (CLAVAL, 1996); 2. Ponto de intersecção com outras ciências. Aqui destacaria a história, com reflexão pautada na História das mentalidades, e a contribuir no entendimento do fenômeno de “invenção da praia no Ocidente”, (URBAIN, 1996) e na Antropologia a oferecer matriz metodológica possibilitadora da apreensão da constituição das práticas marítimas tanto tradicionais como modernas, bem como seu redimensionamento no tempo (URBAIN, 1996); 3. Amplitude espacial adquirida pelo fenômeno, ao suplantar os limites do continente que o gestou, englobando novos espaços. Minha particular atenção se voltou ao fenômeno notado em ex-colônias francesas e a externalizarem implicações da maritimidade em países não ocidentais. Estas abordagens conceituam quadro no qual se percebe um gênero de maritimidade característica dos trópicos e a constituir quadro de embates entre duas dimensões: a de uma maritimidade externa (moderna e alóctone) vis-à-vis uma maritimidade interna (tradicional e autóctone). Neste sentido, os autores em foco, especificamente Michel Desse (1996) e Marie-Christine Cormier-Salem (1996), lidam com a ideia do conflitual, resultante da vontade dos governos em criarem nos trópicos espaços destinados aos ocidentais.
O trabalho de doutorado, finalizado em 2000, consistiu em leitura singular sobre o processo de aproximação da sociedade brasileira, ênfase fortalezense, em relação ao mar. Foi empreendido por uma elite local ansiosa em reproduzir espaços de sociabilidade vizinhos daqueles encontrados no ocidente e que implicaram na transformação de uma cidade com alma de sertão (voltada ao continente e, consequentemente dando as costas para o mar) em uma cidade marítima, vis-à-vis a incorporação de suas zonas de praia pelos banhistas (tratamento terapêutico e lazer), a vilegiatura e, mais recentemente, o turismo litorâneo. Tal movimento enseja conflitos pela terra, inicialmente na capital e no pós anos 1960-1970 nas zonas de praia de seus municípios litorâneos vizinhos. Os espaços de lazer e recreação, resultantes do exercício das práticas marítimas modernas, provocam expulsão das sociedades tradicionais a habitarem estas paragens. Um modelo inicializado na capital e a se fazer presente na totalidade da zona costeira. A cidade moderna, a atender demanda por espaços de lazer, e mais recentemente turísticos, se volta completamente à zona costeira. Nasce a Cidade do Sol, propalada e difundida pelos governantes em escala nacional e internacional. A cidade turística, litorânea, a se contrapor às imagens de seu passado, de capital do sertão.
Para alguém influenciado por Henri Lefebvre e Milton Santos, se deu impunha-se adoção de estratégia a possibilitar diálogo com uma nova bibliografia. O caminho trilhado foi o de me colocar aberto às novas possibilidades apresentadas pela Geografia Francesa. Nesta perspectiva, adentro, sem preceitos e preconceitos, no espectro da Abordagem Cultural na Geografia, dado a permitir, também, diálogo com bibliografia proveniente de ciências afins.
Toca minha memória discussão realizada por Serres (1990) ao tratar a história das ciências não como uma lógica contínua, mas a representar uma trama cortada, descontínua. Na consideração desta descontinuidade, com o emprego da metáfora de tempo espiralado, encontrei balizamento para livremente me voltar ao passado e a capturar fragmentos com o intento de reativá-los e, consequentemente, possibilitar comunicação com um mundo esquecido.
Nos termos supramencionados, consigo perceber como a reflexão em torno da aproximação da sociedade em relação ao mar encontra no ocidente um ambiente fértil. Desta assertiva me nutro para dar uma nova corporeidade à minha pesquisa. A intenção de trabalhar com a urbanização litorânea de Fortaleza é redimensionada face à dimensão tomada pelo fenômeno de valorização dos espaços litorâneos em escala internacional, delineando domínio de estudo amplamente valorado nos últimos decênios do século XX.
O redimensionamento do trabalho se apresentou neste contexto, com adoção de outras escalas, tanto temporal como espacial.
A adoção de escala temporal mais ampla se dá devido assimilação do diacrônico (da historia do espaço) como complementar à análise sincrônica (morfologia urbana) (LEFEBVRE, 1978). A preocupação em apreender a história do espaço me aproximou da Geografia Histórica Francesa, cujo desdobramento implicou, também, na “descoberta” de bibliografia de colegas da área no Brasil. No primeiro caso destacaria Jean-René Troche (1998) e, no caso dos brasileiros, Maurício de Abreu (1997) e Pedro Vasconcelos (1997,2002). A partir do momento que fornece um método para estudar o espaço no long terme, a Geografia Histórica contribui, sobremaneira, na explicação e entendimento dos eventos contemporâneos. A adoção de um approche metodológico a tomar como ponto de partida a identificação das comunidades, dos grupos e das organizações para apreender as transformações notadas no espaço e a influência deste sobre eles. Neste domínio posso destacar duas obras fundantes, uma relacionada aos tempos pretéritos e outra aos atuais.
Em tempos pretéritos, a obra de Alain Corbin (1978) possibilitou o entendimento de como o desejo em relação às praias se materializou no Ocidente, entre 1750 e 1840. Anteriormente se constituíam em ambientes portadores de imagens repulsivas, um “território do vazio”, cuja imagem somente foi modificada a partir de refinamento do olhar da sociedade interposto por atores estratégicos: os românticos, responsáveis pela elaboração de discurso coerente sobre o mar; os médicos/higienistas, a elaborarem discurso médico a provocar corrida de acometidos de males como o stress e a tuberculose às praias e; a nobreza, como geradora de um efeito de moda na sociedade. Tratar-se-ia da instituição do mito fundador de movimento a gerar fluxos cada vez maiores de usuários às paragens litorâneas, com a consequente instituição das práticas marítimas modernas: os banhos de mar, associados aos tratamentos terapêuticos e às atividades de lazer, acompanhados da vilegiatura marítima, sem se esquecer da invenção, dos esportes náuticos, especificamente da natação. Práticas a gerarem um ambiente de sociabilidade intenso e de caráter elitista, cuja implementação suscita fenômeno de urbanização caraterístico do mediterrâneo, com construção dos balneários e das residências secundárias da elite.
Relacionados aos tempos atuais, a obra de Jean-Didier Urbain (1996) consistiu em recurso de peso. Ela possibilita compreensão das transformações ocorridas no Ocidente, bem como suas implicações no redimensionamento das práticas marítimas modernas. Práticas a perderem caráter elitista, com consequente implementação de lógica característica de uma cultura de massa e devida a avanços no domínio socioeconômico (leis trabalhistas, ganhos salariais, etc.) e tecnológico (principalmente com importância que a ferrovia adquire). Para ele, os banhos de mar dão lugar aos banhos de sol e surgem novos agentes responsáveis pela propagação da praia como lócus principal de sociabilidade, os atores e atrizes.
Restou-nos a missão de apreender estes desdobramentos no Brasil. Em suma, compreender como se deu, no tempo, a aproximação da sociedade local em relação ao mar, com consequente valorização das praias. A missão não foi fácil, posto a obra de Alain Corbin (1978) ter virado modelo, padrão de análise, e não ponto de partida. É neste sentido que, em escala mundial, são produzidos trabalhos a evidenciar comportamento similar ao empreendido no Ocidente. As poucas exceções apresentavam quadro diferenciado do ocorrido no Brasil. Remetiam a ideia de conflito entre os de fora e os de dentro, sendo os primeiros os ocidentais e os segundos as populações autóctones das antigas colônias europeias. Dois mundos, porque não dois universos, que necessitaria apreender plenamente para avançar na leitura da lógica de constituição dos espaços de sociabilidade nas zonas de praia brasileiras.
Neste sentido se impõe, também, o redimensionamento da escala espacial, associando o trabalho à escala mundo. Em suma, a indicar como as práticas marítimas modernas extrapolam os limites da Europa e adentram nas Américas, reflexo direto das transformações socioeconômicas, tecnológicas e simbólicas gestadas no primeiro continente, assim como da filtragem realizada pelos lugares (1985).
O recurso a meu orientador me auxiliou nesta empreitada. Paul Claval (1995) trabalha com a ideia da fascinação exercida pela civilização europeia no mundo, dado a suscitar forte esforço de ocidentalização empreendido pelas elites e outras camadas da população. Consiste em tradição assimilada, também, na América Latina e a se fundar em forte processo de miscigenação, um quadro bem diverso do notado na América do Norte (países ocidentais como Canadá e Estados Unidos da América).
No Brasil não se trata unicamente do atendimento de demanda externa (Ocidental) por espaços de sociabilidade nas praias. Internamente dispõe de uma elite local a empreender esforço de ocidentalização centrado na ideia da virtude da civilização europeia. Civilização cantada e propalada pela elite local (na qual a intelectualidade dispôs de papel estratégico), a acreditar ser ela a responsável por sua difusão aos outros. Por se tratar de sociedade em via de constituição, a noção de processo é retomada para exprimir sentimento de superioridade da elite local (composta por europeus e com forte participação de mestiços) e de outras camadas da população em relação a outros grupos autóctones (Índios, Negros e, também, Mestiços pobres). Em suma, um esforço motivado tanto pela fascinação exercida pela sociedade europeia como por uma tentativa de diferenciação social. Os membros desta elite se apresentavam como os Porta-Vozes do Ocidente, representando, na essência, o que caracterizo como emergência de grupos locais a produzirem os mesmos territórios e entreterem os mesmos desejos reinantes no Ocidente. São traços do processo de ocidentalização marcantes em países pouco afetados pelo turismo internacional e nos quais suas elites podem reproduzir livremente o modelo de maritimidade ocidental. Assiste-se, assim, a uma modificação de mentalidade dos grupos locais em relação ao mar, dado a inviabilizar noção de oposição entre maritimidade externa (alóctone e moderna) e maritimidade interna (autóctone e tradicional). Do posto concluo ser, a partir deste amalgama, possível vislumbrar os meandros da construção do desejo pelo mar no Brasil, movimento considerado vizinho do notado no Ocidente. Empreguei vizinho para não incorrer em erro cometido por colegas brasileiros, a empreenderem uma simples transposição das categorias e sem refletir sobre a filtragem realizada in lócus.
ESPECIALIZAÇÃO ANIMADA PELA UFC: DOMÍNIO DA CRIAÇÃO DE CURSOS NOVOS
Aqui se apresenta a especificidade característica, até início dos anos 2000, do Departamento de Geografia da UFC, cujo reconhecimento em escala nacional se dava no domínio da graduação. A exemplo da maioria dos Cursos de Geografia no Nordeste do Brasil, nós não dispúnhamos de quadro propício à inserção em outros domínios, sendo necessário envolvimento direto da instituição e nosso na criação de cursos de pós-graduação na área de geografia.
No domínio da criação de cursos novos, stricto sensu, contei com ambiência relativamente favorável, o eu encontra os outros, principalmente colegas imbuídos dos mesmos anseios e desejosos em inovar.
Como professor do Departamento de Geografia, inserido no Centro de Ciências, cuja composição reunia profissionais de áreas tradicionais (Física, Matemática e Química), nos impulsionou a buscar novas possibilidades, seguindo, assim, o exemplo do efetivado na Universidade Estadual do Ceará, primeira instituição do estado a investir na criação de pós-graduação em nossa área. Tomávamos ciência, nestes termos, de processo de crescimento da Pós-Graduação em Geografia no Brasil, o que nos animou a envidar esforços na construção de projeto próprio.
Não se esquecendo da colaboração e assessoria de professores mais experientes, dentre os quais destacaria o Professor José Borzacchiello da Silva e a Profª Maria Clelia Lustosa, o primeiro com larga vivência em cursos de pós-graduação (Sociologia UFC, bem como de Geografia da UFPE e UFSE) e a segunda, uma das decanas da Geografia da UFC a oferecer contribuição impar, coube aos “recém-doutores” do Departamento de Geografia a incumbência de investir neste novo domínio (destaque a Vanda Claudino Sales e Antônio Jeovah de Andrade Meireles). Tal construção se deu de 2000 a 2004. Quatro anos de refinamento de nossa arte como profissionais, tudo direcionado ao objetivo de consolidar o Departamento de Geografia em escala nacional e internacional, bem como de seu reconhecimento na própria instituição.
Dos projetos implementados neste sentido merecem especial atenção o de envolvimento dos “recém-doutores” no PRODEMA/UFC e o de criação de periódico da Universidade Federal do Ceará na Área de Geografia. Sabíamos da importância destas duas variáveis em processo de avaliação de propostas de criação de cursos novos e contamos, para tanto, com a sensibilidade dos colegas à frente da administração universitária. No primeiro domínio, se deu envolvimento imediato de todos os colegas em orientação no PRODEMA. No segundo domínio, foi retomada a discussão quanto à criação de uma revista, com efetivação do projeto em 2002, ano no qual foi aprovada como periódico da UFC, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).
Meu envolvimento no citado constructo se deu no front, como primeiro Coordenador da Pós-Graduação em Geografia (Mestrado-Doutorado) e Criador da Revista MERCATOR.
O nível de refinamento apresentado acima indica novas escalas a abordar, resultantes da indicação de condições materiais propícios ao desenvolvimento da pesquisa. Indica-se, a partir de então, inserção em redes de pesquisa a propiciarem construção de uma proposta de análise em escala regional e a lidar com abordagem comparativa, do desdobramento das práticas marítimas no mundo.
As parcerias estabelecidas no Observatório das Metrópoles (no Brasil) e com colegas de instituições espanholas e francesas constituem o citado substrato sobre o qual a pesquisa se assenta.
No Brasil, o envolvimento no Observatório das Metrópoles-INCT permite atingimento da escala nacional e, no caso específico, regional (das metrópoles estudadas). A citada articulação já resultou em conjunto de obras e de teses a tocar a temática da urbanização litorânea.
Na Espanha, a aproximação em relação a colega espanhol da Universidad de Alicante (Antonio Aledo) se efetivou no interesse mútuo de apreender os desdobramentos do turismo no domínio do imobiliário, impactando na materialização de empreendimentos imobiliários-turísticos no mediterrâneo e, concomitantemente, com a exportação do modelo espanhol, no Nordeste brasileiro. A articulação em foco se fortaleceu ao ponto de orientarmos trabalho em co-tutela de doutorado.
Na França, as relações estabelecidas dispõem de diâmetro mais amplo. De um lado, os com vínculos mais antigo, especificamente trabalhos desenvolvidos em parceria com o professores Jean-Pierre Peulvast e Herve Thery e a experiência como Professor Visitante da Université de Paris IV (Sorbonne) (2010), ambos imprescindíveis na configuração do tema de pesquisa abarcado atualmente em grupo de pesquisa que coordeno. De outro lado, os com vínculos mais recentes, a implicar em retomada das relações e envolvendo outras instituições francesas em: i. atuação como Professor Visitante (Université d’Angers, 2018); ii. envolvimento em Jornada Científica em Sable d’Ollone sobre a dinâmica de valorização dos espaços litorâneos na França e nos Países do Sul (ênfase dada ao Brasil e México), organizado pelo Prof. Arnaud Sebileau.
A reaproximação indicada permitiu estabelecimento de diálogo com grupo de pesquisadores vinculados a ciências afins da Geografia. Na Espanha, os estudos são direcionados, sobremaneira, à incidência de dinâmica de valorização dos espaços litorâneos espanhóis por usuários, amantes de praia, a incorporarem como meio de hospedagem as segundas residências a pulularem na costa mediterrânea e cujo delineamento suscitou processo de urbanização intensa. Concebem assim o conceito de Turismo Residencial, para evidenciar comunicação que se tornou possível entre o turismo (fluxo de usuários) e o domínio do imobiliário (construção de condomínios residenciais de segunda residência nas zonas de praia) (ANDREU, 2005; ALEDO, 2008; NIEVES, 2008; DEMAJOROVIC et. al., 2011; FERNÁNDEZ MUNOZ & TIMON, 2011; TORRES BERNIER, 2013). Na França, há enveredamento para reflexão em relação aos esportes náuticos e aquáticos, apreendendo diversificação das práticas de lazer nas zonas de praia a partir do deslanche do surf (GUIBERT, 2006 e 2011), do winsurf e do kitesurf, ambos a animar as zonas de praia com a chegada de esportistas amadores (AUDINET; GUIBERT; SEBILEAU, 2017; SEBILEAU, 2017) a complementar fluxo de turistas e vilegiaturistas no mediterrâneo francês.
No lido específico da temática na qual me especializei no tempo, convém ainda destacar papel assumido por conjunto de alunos formados no tempo, mestres e doutores, a contribuírem no refinamento do conhecimento geográfico juntamente comigo. A lista de nomes é razoável e, dentre eles, destaco a parceria rica e viva estabelecida com o Professor Alexandre Queiroz Pereira, atualmente colega dileto do Departamento de Geografia da UFC.
OS SONHOS A JUSTIFICAREM O PRESENTE
Não resta dúvida que o profissional que sou é reflexo direto do tempo no qual vivi e com o qual interagi. Tal dado foi evidenciado em minha articulação com várias instituições, a possibilitarem descoberta de mentores, colegas e aliados na implementação de conjunto substancial de projetos.
No entanto, nada teria acontecido se não houvesse, no princípio, um elemento motivador. O começar pelo professor não foi à toa. A busca de implementação do projeto de ser professor me transformou no que sou, um profissional a investir e se articular com outros domínios: pesquisa e editoria.
A colocação face ao apresentado reside em minha memória, especificamente no contexto a envolver um jovem pleno de sonhos e projetos almejados, especificamente o relacionado à primeira metade dos anos 1980. Refiro-me ao momento anterior a meu ingresso na universidade e cujas características fundantes são apresentadas na instituição basilar da família, com a qual os indivíduos têm o primeiro contato e balizam tanto caráter como pessoa como apontamento das possibilidades como profissional.
Notem que não falarei de geógrafo! Geografia não constava em meu vocabulário inicial. A influência recebida de meus familiares (especificamente o lado feminino: a avó, Alvina Alves Correia; a mãe e tia, respectivamente Francisca Correia Dantas e Maria José Correia de Sousa, esta última minha primeira professora e responsável por minha alfabetização) indicava como meta o ser professor.
Guardei na minha memória as histórias de minha avó ao se vangloriar de ter sido “Professora Interina” em Parnaíba/Piauí. Em suma, por saber ler e escrever medianamente havia, à sua época, a possibilidade de atuação voluntária na alfabetização de jovens e adultos, dado que ela guardou até seus últimos dias como boa recordação de sua juventude. No mais ela sempre afirmava ser a família de meu falecido avô composta de homens inteligentes, “todos doutores”. Nestes termos, apresentava naturalmente o peso do gênero no delineamento do papel dos sujeitos no tempo no qual viveu.
Minha avó conseguiu influenciar, sobremaneira, minha mãe e tia. Ambas concluíram o antigo Normal e exerceram o magistério, no ensino fundamental, até a aposentadoria. O ciclo se fechava com elas ao realizarem um projeto de vida profissional almejado e não alcançado, de fato, por minha avó.
Não fugi à regra. Com influência desta tríade, também abracei esta vocação e, no momento de pensar no ingresso na universidade somente existia uma certeza: o magistério. Minha vontade era tamanha que mesmo meus amigos mais próximos não ousavam me dissuadir. Eu não vislumbrava outras possibilidades e eles eram forçados a endossar. Toco neste ponto para denotar a já clara tendência de desvalorização deste profissional face a outras profissões.
A Geografia apresentou-se como um meio para se atingir um fim, o me tornar professor. Na escolha desta ciência minha mãe me antecedeu, ingressando, aos 42 anos de idade, no Curso de Licenciatura da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Ingresso um semestre após (1985.2), dando início a meu percurso profissional. Consiste em trecho breve de meu relato, mas que carrego até hoje em minhas andanças. Seria a bússola a me orientar literalmente em mares bravios e a suscitar descoberta da praia.
Ao entrar na universidade quis impor um ritmo diferente em minha vida, dedicando atenção especial a este momento de formação. Coloquei como meta, diferentemente do comportamento notado no ensino fundamental e médio, ser o melhor aluno. Mais uma vez acreditei nas histórias de minha avó, ousando acreditar ser, à exemplo da Família Correia, inteligente. Ingressei na licenciatura em Geografia da UECE para dar o melhor de mim. A tarefa não foi fácil, mas consegui manter o rumo.
Concomitantemente à realização das disciplinas, já no terceiro semestre do curso, experimentei o ambiente de sala de aula como professor, especificamente em um curso supletivo noturno. Nele fui recepcionado pelo Professor Almeida, geógrafo formado pela Universidade Federal do Ceará e a exercitar suas habilidades profissionais como professor e proprietário do curso. O referido resolveu arriscar ao me contratar. Do meu lado fui levado a desenvolver a habilidade do autodidatismo para “enfrentar” a sala de aula. Se, de um lado, faltava experiência e conhecimento, de outro, abundava vontade em acertar. A relação com este personagem de minha história foi profícua, tendo me indicado, anos após, para substituí-lo como professor em uma escola particular: Colégio Castelo Branco, antigo estabelecimento religioso, sito no antigo Boulevard Dom Manuel, e responsável pela formação da elite da cidade em seus tempos áureos. Embora à minha época tenha se popularizado, significou uma importante experiência e cujo desdobramento foi o de identificação plena com o magistério.
Enfoco a tônica da desvalorização do magistério não somente no sentido de criticar os governos ou a ausência de políticas de qualificação desta área e dos profissionais a ela associados. O objetivo é o de compreender como um profissional cheio de sonhos buscou maximizar suas chances de sucesso profissional. A saída foi a associação entre as variáveis magistério e especialização em dada área do conhecimento. Inicio minha descoberta da Geografia, ou melhor, de uma possibilidade não apresentada no exemplo de meus familiares, formados na lógica do antigo Normal (curso de formação de professores do ensino básico). À tônica dada ao Professor acrescento a de Professor de Geografia.
A formação como Professor de Geografia pareceu-me razoável e as possibilidades de inserção no mercado se ampliavam para além do domínio do ensino básico, com a descoberta do magistério superior. Este novo horizonte me foi apresentado na universidade por professores especiais, a se destacarem na motivação dos jovens geógrafos em formação. Dentre eles indicaria Luzianeide Coriolano. A referida professora soube apresentar uma bibliografia atualizada e nos convencer da ideia de passarmos por um processo de renovação e no qual tínhamos uma contribuição a dar, tanto na defesa de uma sociedade justa como na efetiva atuação enquanto profissional geógrafo. Mais uma vez tenho reforçado o ideal do magistério e a essa altura do ensino superior.
Nesta época percebo ser fundamental, na construção de meu perfil como professor, o investimento na dimensão da pesquisa, intento não fácil, posto dispor de fragilidades na formação como licenciado. O caminho encontrado foi o da realização de estudos de pós-graduação. A oportunidade se apresentou na Universidade Federal do Ceará (UFC), com ingresso no “Curso de Especialização Nordeste Questão Regional e Ambiental” em 1989, concebido pelo Prof. José Borzacchiello da Silva e coordenado pela Profª. Maria Geralda de Almeida. Consistiu em atividade fundamental em meu aperfeiçoamento. Pautado na temática Regional e a adentrar na compreensão da dinâmica da regionalização e do regionalismo no Nordeste, suscita a descoberta de bibliografia ampla e a impor um posicionamento científico e político face ao mundo.
De meu posicionamento científico destaco formatação de meu primeiro projeto de pesquisa, associado à temática urbana e com objeto de estudo circunscrito no Centro de Fortaleza, especificamente o Comércio Ambulante. A vivência na cidade e as inquietações nela contidas foram as determinantes desta escolha, enveredando, neste momento, em movimento exploratório a englobar tanto pesquisa de campo como bibliográfica. Neste último domínio é que travo maior conhecimento de obras de Milton Santos e a versarem sobre Dimensão Temporal e Sistemas Espaciais (1979) e o Circuito Inferior da Economia (1985). Um conhecimento ampliado ao participar como aluno ouvinte de curso de especialização que ministrou em 1989 na Universidade Estadual do Ceará. Foi a oportunidade de dialogar, pela primeira vez, com professor conhecido através de seus escritos. Neste mesmo domínio recordo do como, a partir de desafio lançado pelo Prof. José Borzacchiello da Silva, ousei produzir trabalho associado à temática da especialização e publicado na primeira revista da Associação de Geógrafos do Brasil – Seção Fortaleza (Revista Espaço Aberto), com o título “Para Além das Dicotomias no Ensino de Geografia...” (DANTAS, 1989)(1).
Do posicionamento político destaco participação nas reuniões da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Fortaleza, dado a culminar em atuação efetiva na gestão da associação como primeiro secretário (biênio 1988-1990). Nesta associação me envolvi diretamente com o estudo da problemática urbana, dado muito referendado pelas associações profissionais do gênero da AGB, no momento da reforma constitucional. Tratava-se de um movimento em escala nacional e no qual estabelecíamos contatos com colegas do Brasil inteiro e, também, de outras categorias profissionais. Localmente apresentou-se possibilidade de conhecimento e aprendizado com colegas da UFC: José Borzacchiello da Silva, Maria Clélia Lustosa Costa, Maria Geralda de Almeida e Vanda Claudino Sales.
É a partir do posicionamento científico e político face ao mundo que a administração se impôs na minha vida. Lembro-me do quão foi difícil minha primeira aproximação (1993-1996), como Coordenador da Graduação em Geografia, posto ter, à época, restrições a envolvimento em atividades administrativas. Trabalhava bem com a ideia do tripé: ensino, pesquisa e extensão, mas a administração não era uma meta. Isto se explica pela influência anarquista em minha formação, dado a me levar a acreditar que meu aprimoramento não passava pelo exercício do poder, em nenhuma instância. Os meandros do destino me conduziram à administração e significou experiência gratificante, ao possibilitar conhecimento mais amplo da UFC e da própria Geografia, bem como ter a oportunidade de, em um passado recente, ter atuado como Coordenador da Área de Geografia na CAPES.
Como a vida é sempre permeada de meandros, não segue uma linha reta, o individual (pessoal) entrou em choque com o institucional, dado a culminar em necessidade de capitulação de meus anseios face às demandas institucionais.
CONCLUSÃO
No constructo evidenciado minha alma foi forjada como a de um professor que produz conhecimento, adentrando nos meandros de uma geografia urbana a refletir sobre as transformações empreendidas nas cidades e face às demandas por espaços de lazer e recreação, fenômeno que, no concernente às cidades litorâneas, se concentram, sobremaneira, nos espaços metropolitanos. Esta mise em valeur justificaria a transferência de espaços de sociabilidade clássicos (continentais) às zonas de praia, tanto às cidades polo, como o tratado GOMES (2002) no caso do Rio de Janeiro, como aos municípios litorâneos metropolitanos, que abordo, com maior ênfase, no caso do Nordeste.
Do até então apresentado evidencio tentativa de manutenção do rumo indicado já em 2005, no Encontro Nacional da ANPEGE em Fortaleza. O da apreensão das transformações ocorridas nas cidades litorâneas tropicais na passagem do século XX ao século XXI, conforme texto apresentado naquele evento, quando afirmei:
"Com o veraneio marítimo, o efeito de moda do morar na praia e o turismo litorâneo associado aos banhos de sol, as zonas de praia das cidades litorâneas tropicais são redescobertas. Se anteriormente falávamos de eclipse relativo do mar, atualmente ele é descortinado em sua totalidade, apresentando-se como verdadeiro fenômeno social. A cidade e seus citadinos redescobrem parte esquecida em suas geografias, denotando necessidade de releitura de arcabouço teórico metodológico até então empregado na análise urbana. Resta-nos suplantar tradição nos estudos empreendidos, aquela de descartar, veementemente, o lado mar, direcionando o olhar para a parte continental e em consonância com o enfoque empreendido por aqueles que estudam as cidades continentais, matrizes do saber urbano e evidenciadas na bibliografia básica do gênero.
Se nos anos 1980 Claval (1980) evocava a contribuição dos especialistas da vida marítima na construção de uma teoria unitária, (...) atualmente esta constatação torna-se mais evidente e adquire outra dimensão, aquela relacionada a uma rede urbana paralela à zona costeira e à transformação das cidades litorâneas em marítimas. De cidade portuária, representativa da época colonial até primeira metade do século XX, as cidades litorâneas tropicais tendem a se constituir, a partir do final do século XX, em cidades turísticas, reforçando tendência de valorização dos espaços litorâneos empreendido pelas elites locais, com adoção de práticas marítimas modernas. A análise permeada por reflexão em torno da construção do conceito de maritimidade, notadamente nos trópicos, apresenta-se como uma possibilidade de apreender as transformações em voga e de compreender a essência da cidade litorânea que se torna marítima no século XXI (DANTAS, 2006)."
O texto acima significou uma tomada de postura científica face as relações entre o litoral, o mar e o marítimo, e o processo de metropolização. O Nordeste tem sido campo profícuo de análise dada a dinâmica de seu litoral, em constante transformação, com investimentos de monta (do estado e da iniciativa privada) que alteram sobremaneira sua geografia. A escolha até o presente se mostra acertada, indicando novos horizontes de pesquisa face à universalização da maritimidade como um fenômeno social.
Do apresentado e reflexo de vivências múltiplas experimentadas, interessante indicar elementos em construção, resultantes dos diálogos e trocas estabelecidos com os professores Maria Clelia Lustosa Costa, Maria Elisa Zanella e José Borzacchiello da Silva e a diversificarem minhas linhas de abordagem. No caso das duas primeiras e em função de demandas sequenciadas de gestores do município, adentro em discussão sobre a temática da vulnerabilidade (DANTAS, E. W. C.; COSTA, M. C. L.; ZANELLA, M. E., 2016). No relativo ao segundo, adentro em discussão sobre a produção científica na área da Geografia Urbana brasileira, alimentada por material ajuntado no período de estada na CAPES (DANTAS, E.W.C; SILVA, J. B., 2018).
REFERÊNCIAS
ABREU, Maurício de Almeida. A apropriação do território no Brasil colonial. In: de Castro, Iná Elias et al. (orgs.). Explorações Geográficas - percursos no fim do século. Rio de Janeiro : Bertrand Brasil, 1997. p. 197-246
ABREU, Maurício de Almeida. Pensando a cidade no Brasil do passado. In: SILVA, J. B.; COSTA, M. C.; DANTAS, E. W. C. (orgs.), A cidade e o urbano: temas para debates. Fortaleza : EUFC, 1997. p. 27-52.
ALEDO, A. De la tierra al suelo: la transformación del paisaje y el Turismo Residencial. Arbor Ciencia, Pensamiento y Cultura. CLXXXIV, enero-febrero, p. 99-113, 2008.
ANDREU, Hugo, G. Un acercaimento al concepto de Turismo Residencial. In: MAZÓN, T.; ALEDO, A. (Ed.). Turismo Residencial y cambio social. Alicante: Universidad de Alicante, 2005.
AUDINET, Laetitia; GUIBERT, Christophe; SEBILEAU, Arnaud. Les “Sports de Nature”. Paris: Édition du Croquant, 2017.
Barroso, Gustavo. Praias e várzeas. Rio de Janeiro/Lisboa : Livraria Francisco Alves/Livrarias Ailland & Bertrand, 1915.
Barroso, Gustavo. Terra de sol - costumes do Nordeste. Rio de Janeiro : B. de Aquila, 1912.
CARLOS, Ana Fani Alessandri. A (Re)produção do Espaço Urbano. São Paulo: Tese de Doutorado em Geografia, USP/FFLCH, 1986.
CARLOS, Ana Fani Alessandri. Espaço-tempo na metrópole. São Paulo: Contexto, 2001.
Castro, José Liberal de. Fatores de localização e de expansão da Fortaleza. Fortaleza : Imprensa Universitária da Universidade Federal do Ceará,1977.
CLAVAL, Paul. La géographie culturelle. Paris: Nathan, 1995.
CLAVAL, Paul. Conclusion. In: PERON, Françoise; RIEUCAU, Jean (orgs.). La maritimité aujourd'hui. Paris : Éditions L'Harmattan, 1996.
CLAVAL, Paul. La Fabrication du Brésil. Paris: Belin, 2004.
CORBIN, Alain. Le territoire du vide. Paris: Aubier, 1978.
CORMIER-SALEM, Marie-Christine. Maritimité et littoralité tropicales: la Casamance (Sénégal)". In: PERON, Françoise; RIEUCAU, Jean (orgs.). La maritimité aujourd'hui. Paris : Éditions L'Harmattan, 1996.
DANTAS, Eustógio Wanderley Correia. Cidades Litorâneas Marítimas Tropicais: construção da segunda metade do século XX, fato no século XXI In: SILVA, José Borzacchiello; LIMA, Luiz Cruz; DANTAS, E. W. C. (orgs.) Panorama da Geografia Brasileira 2. São Paulo: Annablume, 2006. p. 79-89.
DANTAS, E. W. C.; ARAGAO, R. F.; LIMA, E. L. V.; THERY, H. Nordeste Brasileiro Fragmentado. In: SILVA, J. B. da; DANTAS, E. W. C.; ZANELLA, E. Z.; MEIRELES, A. J. A. (Orgs.). Litoral e Sertão. Fortaleza: Expressão Gráfica, 2006.
DANTAS, E. W. C.; FERREIRA, A. L; CLEMENTINO, M. L. M. (Orgs.). Turismo e imobiliário nas metrópoles. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2010
DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. A Cidade e o Comércio Ambulante. 2. ed. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2014.
DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. Coastal Geography in Northeast Brazil. Springer, 2016.
DANTAS, E. W. C.; COSTA, M. C. L. ; Zanella, Maria Elisa . Vulnerabilidade socioambiental e qualidade de vida em Fortaleza. 1. ed. Fortaleza: Imprensa Universitária - UFC, 2016. v. 1. 128p .
DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. Mar à Vista. Fortaleza: Edições UFC, 2020.
DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. Maritimidade nos Trópicos. Fortaleza: Edições UFC, 2008.
DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. Metropolização Turística em Região Monocultora Industrializada. Mercator, v. 12, n.2 (n. especial). p. 65-84, 2013.
DEMAJOROVIC, J. et. al. Complejos Turísticos Residenciales. Estudios y Perspectivas en Turismo, v. 20, p. 772-796, 2011.
DESSE, Michel. L'inégale maritimité des villes des départements d'Outre-mer insulaires. In: PERON, Françoise; RIEUCAU, Jean (orgs.). La maritimité aujourd'hui. Paris : Éditions L'Harmattan, 1996.
DUHAMEL, Philippe. Géographie du Tourisme et des Loisirs. Paris: Armand Colin, 2018. ELIAS, Norbert. La civilisation des mœurs. Paris : Calmann-Levy, 1973.
FERNÁNDEZ MUNOZ, Santiago; TIMON, D. A. B. El Desarrollo Turístico Inmobiliario de la España Mediterránea y Insular frente a sus Referentes Internacionales (Florida y Costa Azul). Cuadernos de Turismo, n. 27, p. 373-402, 2011.
GOMES, Paulo César Costa. A Condição Urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
GUIBERT, Christophe. L’univers du surf et stratégies politiques en Aquitaine. Paris : L’Harmattan, 2006.
GUIBERT, Christophe; SLIMANI H. Emplois sportifs et saisonnalités. L’économie des activités nautiques. Paris: L’Harmattan, 2011.
LEFEBVRE, Henri. La Vida Cotidiana en el Mundo Moderno. Madrid: Alianza Editorial, 1972.
LEFEBVRE, Henri. Espacio y Politica. Barcelona: Ediciones Penisula, 1976.
LEFEBVRE, Henri. De L’Etat. Paris: Union Générale d’Editions, 1978.
LEFEBVRE, Henri. El Derecho a la Ciudad. Barcelona, Ediciones Peninsula, 1978.
LEFEBVRE, Henri. La Production de l’Espace. Paris: Anthropos, 1986.
NIEVES, Raquel Huete. Tendencias del Turismo Residencial. El Periplo Sustentable, n. 14, p. 65-87, 2008.
NIJMAN, J. Miami. Philadelphia: Universsity of Pennsylnania Press, 2010
PEREIRA, A. Q. Coastal Resorts and Urbanization in Northeast Brazil. 1. ed. Basel, Switzerland: Springer International Publishing, 2020.
PEREIRA, Alexandre Queiroz. A Urbanização Vai à Praia. Fortaleza: Edições UFC, 2014.
PERON, Françoise; RIEUCAU, Jean (orgs.). La Maritimité aujourd'hui. Paris: Éditions L'Harmattan, 1996.
SANTOS, Milton. O Espaço Dividido. Rio de Janeiro: F. Alves, 1979
SANTOS, Milton. Espaço & Método. São Paulo: Nobel, 1985.
SEBILEAU, Arnaud. Les Figures de l’Empiètement dans une commune du littoral. In: GUIBERT, Christophe; TAUNAY, Benjamin. Tourisme et Sciences Sociales. Paris: L’Harmattan, 2017.
SERRES, M. Hermes - uma filosofia das ciências. Tradução Andréa Daher. Rio de Janeiro: Graal, 1990.
TORRES BERNIER. E. El Turismo Residenciado y sus Efectos em los Destinos Turísticos. Estudios Turisticos, p. 45-70, 2013.
TROCHET, Jean René. Géographie historique. Paris: Éditions Nathan, 1998.
URBAIN, Jean-Didier. Sur la plage. Paris: Éditions Payot, 1996.
VASCONCELOS, Pedro de Almeida. Os Agentes Modeladores das Cidades Brasileiras no Período Colonial. In: Castro, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORREA, R. L. Expressões Geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
VASCONCELOS, Pedro de Almeida. Salvador. 1. ed. Ilhéus: Editus, 2002.
-
 ESTER LIMONAD
ESTER LIMONAD ESTER LIMONAD
Olhando para trás, posso dizer que os eixos ou caminhos fundantes que orientam atualmente minha inserção na Geografia e minha postura acadêmica e política encontram-se subjacentes em meu passado, e tem uma relação intrínseca com minha história de vida, com meu gosto por romances de mistério e de ficção científica, minha paixão por cinema e por rock & roll, com minha formação enquanto sujeito social e político, bem como com meu compromisso político e intelectual com a produção do conhecimento e com as transformações do mundo contemporâneo. Formação essa influenciada por leituras de autores diversos e, em particular, por meu encantamento com as proposições de Henri Lefebvre desde 1974, quando um colega da FAUUSP (1) me presenteou o “O Direito à Cidade” (2).
Em uma apropriação metafórica de François Ascher(3) relativa aos múltiplos pertencimentos e inserções dos indivíduos no cotidiano, que exigem atualmente diferentes formas de interação social e de simultaneidade, que demandam que os sujeitos sociais transitem em múltiplos espaços, interajam com diversos grupos do local ao global e adotem múltiplas e diversas linguagens no decorrer de um dia; posso dizer que minha vida pregressa e presente é marcada por múltiplos pertencimentos e inserções em diferentes campos de conhecimento, que demandaram a assimilação de distintas linguagens, de diferentes formas de interação social, com um trânsito em múltiplos espaços, que vieram a resultar no que sou hoje. Assim, essa memória consiste em um esforço de explicitar diferentes caminhos trilhados, em que se inserem as distintas atividades desenvolvidas e está eivada por minha história pessoal e profissional pretérita.
Retrospectivamente, minha aproximação à Geografia, se deu em diversos momentos, que culminaram com meu ingresso e efetivação no Departamento de Geografia da UFF, em 17 de agosto de 1998. Contudo, esta não foi uma jornada retilínea e sem desvios, ao contrário, foi permeada por diversas interrupções, muitas das quais alheias à minha vontade. Mas como dizem meus amigos mais próximos sou persistente e obstinada, para não dizer teimosa e cabeça dura.
DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO TEÓRICO
QUEM SOU EU?
Começando pelo fim devo esclarecer que, desde julho de 2015, sou Professora Titular do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Conto com uma bolsa de produtividade do CNPq(4) , na área de Geografia Humana.Coordenei e participei de projetos interinstitucionais de cooperação e de ensino na área de Geografia com a UFPA, com a UECE, colaborei com diversos programas de pós-graduação na área de Geografia. Sou consultora ad-hoc da CAPES(5) e de diversas Fundações de Amparo à Pesquisa. Fui titular da Cátedra Rui Barbosa de Estudos Brasileiros da Universidade de Leiden, Holanda, uma das mais antigas da Europa, em 2014 e 2017, onde ministrei disciplinas de pós-graduação e graduação. Na qualidade de professora visitante convidada ministrei um curso no programa de Master en Estudios Urbanos (Universidad Nacional de Colombia-Medellín) e palestras em programas de pós-graduação de Estudos Urbanos e de Geografia das Universidades de Amsterdam (Holanda) e de Cardiff (País de Gales). Sou formada em Arquitetura e Urbanismo (MACKENZIE), Mestre em Planejamento Urbano e Regional (UFRJ e Doutora em Estruturas Ambientais Urbanas (USP), com pós-doutorado em Geografia Humana (Universidad de Barcelona). E muitas outras coisas mais, basta olhar meu lattes.
De inicio devo explicitar o que não sou, para chegar a quem sou.
Piaget(6) diferencia a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade e esclarece que todas zelam pela preservação e manutenção da identidade disciplinar original enriquecida.
De fato, não sou nem uma coisa, nem outra, sou indisciplinada, pois trilhei muitos caminhos, sem haver retornado de forma integral à minha formação disciplinar original (Arquitetura), sem me preocupar em manter uma nítida delimitação conceitual entre meus interesses disciplinares e os das demais disciplinas. Incorporei conceitos, categorias, metodologias de diferentes campos disciplinares em diferentes momentos de minha vida, com destaque, além de minha formação básica, entre outros, para as Ciências Sociais, Ciência Política, Economia e História. A que se soma uma interlocução com a Biologia, em particular a Botânica, ao longo do científico de medicina do Colégio Dante Alighieri, que me familiarizaram com questões relativas à Ecologia e às especificidades geográficas e climáticas das diferentes espécies de plantas, que anos mais tarde me vieram dar suporte na Geografia.
Embora me sinta geógrafa na mente e no coração, permaneço indisciplinar, por não descartar as diferentes rugosidades acadêmicas desses diversos campos disciplinares, que permanecem em mim e que contribuíram para minha formação e para ser quem sou. Durante minha existência, seja em termos do convívio ou da prática profissional e política, sempre tive de lidar com a perplexidade dos outros. Sentimento traduzido sucintamente em uma pergunta de minha mãe ao saber que eu estava na Geografia: mas você não se formou em Arquitetura? Perplexidade esta com a qual me defrontei inúmeras vezes. Sim, me formei em Arquitetura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 1977, então sede do CCC(7) , em plena ditadura militar, a despeito de minha militância na tendência estudantil Liberdade e Luta.
De início, posso dizer que a questão identitária sempre marcou minha vida. Conquanto nunca houvesse me preocupado em refletir sobre isso, vi-me obrigada a fazê-lo, em razão de um convite de Edna Castro para participar de uma mesa redonda em um congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia realizado em Belém do Pará, em setembro de 2010, quando o tema da mesa para o qual havia sido convidada mudou, repentinamente, de “Sociedade e Natureza” para “Identidade e Sujeitos Sociais na Amazônia”(8) , coisas do mundo acadêmico.
Confesso, que me senti provocada, principalmente, por ver-me obrigada a falar de um tema, tão em moda que, a princípio, me desagradava. Em uma reflexão sobre as razões de meu desagrado, conclui que este tinha por base três motivos. Primeiro, do ponto de vista pessoal; segundo, do ponto de vista acadêmico-intelectual dada minha formação heterogênea e, terceiro, por minha posição política, em termos de seu potencial de estigma e preconceito, com base na vinculação entre identidade e lugar, que remete às ideias nazifascistas de solo-pátria e identidade. Mas o que ficou claro para mim, naquele momento, foi que se os outros tinham um problema com minha identidade, eu não o tinha.
COMO CHEGUEI ATÉ AQUI? COMO EXPLICAR MINHA TRAJETÓRIA?
Nasci em um sábado, em 21 de agosto de 1954, em São Paulo, capital, três dias antes do suicídio de Getúlio Vargas, na madrugada de 24 de agosto. Sou a primeira filha tardia de um casal de imigrantes judeus europeus, ele nascido em 1895 no seio de uma família de classe média abastada russa, ela uma polonesa órfã de pai e mãe tragicamente falecidos poucos anos após a chegada ao Brasil, nascida em 1922, alienada da família e criada como agregada em uma casa de família, em São Paulo a partir dos 13 anos. Meus pais vieram a se conhecer e casar na cidade do Rio de Janeiro, em 1943, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, para logo em seguida se mudarem para a cidade de São Paulo, onde foram morar em uma pensão abarrotada de imigrantes italianos e portugueses no bairro do Bexiga.
Na capital paulistana, meus pais construíram sua vida, ascenderam socialmente e mantiveram por toda vida as amizades feitas na pensão do Bexiga, mantendo pouco contato com a comunidade judaica. Motivo pelo qual, após a escola básica, onde fui alfabetizada em português e inglês, me matricularam no Dante Alighieri, colégio fundado pela colônia de imigrantes italianos. Aí conclui o ginásio, em 1969, e o segundo grau em 1972. Em minha infância as mulheres eram do lar e as boas meninas aspiravam casar e serem mães, aprendiam idiomas, a cozinhar, costurar, fazer tricô e crochê, se comportar e a cuidar do lar. Todavia, minha mãe já rompia com esse ideal, pois trabalhava com meu pai na editora de livros de direito, que fundaram em 1943 na capital federal e que os levara a São Paulo, em razão da inexistência de firmas de encadernação na cidade do Rio de Janeiro. Por esse motivo meu irmão e eu ficamos aos cuidados de uma babá, uma portuguesa católica e beata, que com suas idas diárias à missa pela manhã e à tarde, contribuiu para que recebêssemos uma formação católica, ao menos até minha mãe encontrar a minha coleção de santinhos, que eu jogava no “bafo” com os meninos da rua. A partir daí, foram envidados diversos esforços para me integrar à cultura e à comunidade judaicas, que mesmo assim me via como católica, enquanto os meus colegas de colégio me viam como judia e esquisita. Essa conjunção de fatores e, talvez, por haver sido criada e convivido basicamente apenas com meninos até os seis anos de idade, fez com que desde cedo o meu ideal fosse “ir à luta” e resolver a minha vida, o que não se mostrava muito fácil considerando as transformações sociais e políticas pelas quais passava o Brasil, então.
Passei minha infância e juventude em São Paulo, capital, em um contexto de classe média ascendente. Toda a minha formação pré-universitária foi em escolas privadas. Estudei com filhas e filhos da burguesia paulista tradicional, de intelectuais engajados, de representantes de empresas multinacionais, de imigrantes europeus, de judeus, de sírio-libaneses e de famílias tradicionais paulistas. Reverberações do acirramento da repressão política da ditadura chegaram ao colégio, após diversas prisões de secundaristas e do assassinato, na rua vizinha, alameda Casa Branca, de Carlos Marighella, por agentes do DOPS comandados pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, na noite de 4 de novembro de 1969. Isso levou a direção do colégio a orientar e exigir que os seus alunos com mais de 13 anos, passassem a transitar sempre com documentos e carteira de estudante. Fato que me marcou sobremaneira, uma vez que até hoje me sinto despida quando caminho sem lenço, sem documento, como cantava Caetano Velloso em Alegria, Alegria...
Em 1972, após algumas viagens para o exterior, o contato com outras gentes e culturas, visitas a museus, etc., tudo isso associado ao meu gosto e prazer de desenhar levaram-me a passar no último ano do científico, do de Medicina para o de Arquitetura. A essa altura, já cumpria um dos ideais do que se esperava de uma boa menina e falava fluentemente inglês, italiano, espanhol e um pouco de hebraico. No decorrer desse ano de preparação para o vestibular de ingresso à universidade, infelizmente, por problemas diversos de saúde meu pai veio a falecer. O rearranjo da constelação familiar e as exigências de preparação para o vestibular fizeram com que me distanciasse de amigos próximos, o que me levou a uma certa introspecção. Embora minha mãe, trabalhasse fora, ao contrário de meu pai, não via a necessidade, nem o por quê de eu ingressar em uma universidade ou ter amizades com não-judeus, bastava obedecê-la, ajudar na editora, arrumar um marido de seu agrado e, naturalmente, lhe dar netos.
Quando jovem, me preocupava em como lidaria com as grandes decisões que definiriam o rumo de minha vida. Com o tempo descobri que não há grandes decisões impactantes a serem tomadas, que nossas trajetórias se constroem com base em pequenas decisões, muitas vezes com impactos muito mais profundos e maiores do que os esperados. E, amiúde, embora não saibamos ao certo o que queremos, certamente sabemos o que não queremos. Dessarte, minha aproximação à Geografia aconteceu gradualmente, por sucessivas aproximações, pelo acúmulo de carga conceitual de experiências acadêmicas, de trabalho e de vida. Durante o segundo grau, não imaginava ser professora, tampouco cogitava ser geógrafa, embora a Geografia me atraísse. Desejava ser cientista, médica, investigadora de doenças tropicais. Mais que tudo sonhava ser independente, sair de casa, viajar e conhecer o mundo.
Passei da infância à adolescência entre os anos 1960 e 1970, tempos embalados ao som da Bossa Nova, dos Beatles, dos Rolling Stones e do The Doors, em que se sucederam diversos regimes políticos e governos. Período em que apesar da ditadura militar, ainda ecoavam os festivais da Record com Caetano, Gil, Vandré, Chico, Milton Nascimento e tantos outros. As reivindicações de Paris de 1968 faziam-se sentir na pele, no ar, despertando o desejo de mudança, de uma outra sociedade. Tempos do flower power, do paz e amor, da pílula, dos “soutiens” queimados, da liberação feminina, dos cabelos rebeldes, da ausência de liberdades democráticas, da proibição de reunião de mais de três pessoas, tempos de AI-5 e do famigerado Decreto Lei-477. Um período em que Caetano Veloso cantava “não confie em ninguém com mais de trinta anos” e nos lembrava que “é proibido proibir!”. E, conforme amadurecíamos, a despeito da repressão, da ditadura dos generais, do medo da tortura, conspirávamos para mudar a sociedade, amávamos a revolução, sentíamo-nos poderosos e acreditávamos que poderíamos mudar o mundo.
A ESCOLHA DA GEOGRAFIA COMO CURSO SUPERIOR
Não escolhi a Geografia como curso superior. Pode-se dizer que a Geografia aconteceu em minha vida. Motivo pelo qual busco expor, ainda que não de forma linear, o que designo de minhas sucessivas aproximações à Geografia, e pinço, pouco a pouco, os desvios, as linhas paralelas percorridas ao longo de minha vida acadêmica em diferentes campos disciplinares e do conhecimento, para apontar como estes vários percursos contribuíram para geografizar meu pensamento e moldar a indisciplinaridade, que me é intrínseca, em termos acadêmico-científico-profissionais e mesmo pessoais. Afinal, sempre apreciei as narrativas labirínticas das obras de Lewis Carroll, James Joyce, Júlio Cortázar e dos filmes de Quentin Tarantino, em que diferentes espaço-tempos se superpõem, se misturam, se condensam e buscam retratar uma realidade mais complexa.
Em suma, não posso começar pelo meu ingresso na graduação, nem pelo meu encantamento com a Geografia na escola, quando a Geografia que então se ensinava se resumia a abordagens descritivas quantitativas, a uma enumeração de lugares, acidentes geográficos; a uma tipologia de paisagens, climas, relevos; ou seja, a uma geomorfologia árida e a uma geografia humana descritiva. E, tampouco, posso começar por meu ingresso em uma pós-graduação em Geografia, pois ao doutorado em Geografia da UFRJ tem inicio em 1992/93. Assim, minha relação com a Geografia se construiu e se constrói, efetivamente, pouco a pouco, nos últimos vinte e oito anos de minha vida acadêmica.
ANTES DA GEOGRAFIA, UMA GRADUAÇÃO ENGAJADA
Ingressei no curso de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1973. E, em um curto espaço de tempo, descobri que não era isso o que queria. No entanto as contingências da vida familiar levaram-me a concluir a faculdade, pois ou me dispunha a trabalhar na editora com minha mãe ou buscava minha independência. Assim, comecei a trabalhar em 1974, dando aulas particulares de matemática, inglês e física, fazendo estágios de monitoria na faculdade e estágios de projeto em escritórios de arquitetura e de engenharia elétrica.
Em janeiro de 1978 concluí a graduação em Arquitetura. Durante o curso me identifiquei com as disciplinas de Planejamento, ministradas ao longo de quatro anos e com a linha de História da Arquitetura e da Urbanização. Olhando para trás, essa atração deveu-se em boa parte ao fato destas disciplinas haverem apresentado uma abordagem com ênfase nos aspectos teóricos e metodológicos do Planejamento Urbano e Regional e na análise da Organização do Espaço em detrimento do Planejamento Físico e do Desenho Urbano. Nessas disciplinas foram abordadas as obras de Singer, Lefèvbre, Castells e Lojikine entre outros, bem como os trabalhos de Weber, da Escola de Chicago, as teorias da localização de Lösch, Weber e von Thünen, a teoria do lugar central de Christaller, os setores circulares de Hoyt, as contribuições de Cullen, Alexander e Lynch, às quais se somaram abordagens relativas à organização do espaço das cidades.
Durante a graduação assisti, também, informalmente, a diversas disciplinas na FAUUSP(9) relacionadas ao planejamento urbano, à história da urbanização, à problemática habitacional e à comunicação visual, entre outras. Meus estudos universitários foram marcados pela militância no movimento estudantil, participação em assembleias universitárias, em mobilizações pela reconstrução da UEE(10) e da UNE(11) , em manifestações contra a Ditadura e em favor das Liberdades Democráticas. A militância demandou leituras diversas de orientação social e política. À revelia dos grupos de estudo e dos sectarismos ideológicos de meus colegas militantes, devorei obras de Lefebvre, Gramsci e Luxemburgo, às quais se somaram leituras de Mandel e de Deborde.
Em busca de uma alternativa à Arquitetura, em 1975, ingressei no curso de História da FFLCH(12) da Universidade de São Paulo, onde permaneci por dois anos sem dar seguimento. Aí me foram de especial valia as disciplinas de Metodologia Científica e as de História Moderna e Contemporânea, que me colocaram em contato com as bases da Economia Política e, levaram a leituras mais sistemáticas de trabalhos de Ricardo, Marx e Engels, seguidos pelas de Sweezy, Baran, Hobsbwan e Dobb referentes às características do capitalismo contemporâneo.
As atividades desenvolvidas na graduação conjugadas à militância política levaram-me a elaborar uma monografia dissertativa, sem projeto de arquitetura, intitulada "Situação Atual da Habitação Popular no Brasil"(13) , onde procurei abordar os condicionantes econômicos, os diversos agentes e fatores determinantes da produção habitacional no Brasil. A elaboração dessa monografia e as atividades de monitoria iniciadas em 1976 junto à disciplina de “Estética e História da Arte e das Técnicas” levaram-me a colaborar também com a disciplina de “Sociologia Urbana” ao fim de 1977. Essa colaboração colocou-me em contato com o Instituto de Planejamento Regional e Urbano da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (URPLAN), que resultou em meu ingresso na Especialização em "Desenvolvimento Urbano e Mudança Social". Este curso, além de haver enfocado as Teorias de Desenvolvimento Econômico e Social, permitiu um aprofundamento de elementos da Economia Política; bem como questões relativas às abordagens da CEPAL e dos teóricos da marginalidade social.
Em seguimento, fiz na FUNDAP o curso de aperfeiçoamento em "Renda Fundiária na Economia Urbana", organizado por Celso Lamparelli, o qual anos mais tarde seria meu orientador de doutorado. Este curso introduziu uma ampla gama de abordagens relativas à problemática da renda fundiária urbana. Esse curso contribuiu para a elaboração da monografia "Elementos para a Análise da intervenção do Estado no Setor de Auto Construção"(14) , feita com Gisela Eckschmidt , onde articulamos a questão da habitação para populações de baixa-renda com a problemática da renda fundiária urbana e as estratégias de reprodução da força de trabalho, dando de certa forma sequência ao meu trabalho de graduação.
Em 1979, ingressei no Mestrado em Planejamento Urbano e Regional do Programa de Engenharia de Produção da COPPE/UFRJ, criado em 1972 como parte das intenções do I PND(15) de formar quadros técnicos qualificados para os órgãos de governo. A opção por esse curso teve por base o fato de que seu mestrado se distinguia dos demais por sua postura crítica em relação ao planejamento e à política urbana e regional, que ia ao encontro da minha posição política e dos grupos de estudos políticos e críticos que frequentei durante a militância na graduação. Por ocasião de meu ingresso o programa se encontrava ameaçado de extinção. As dificuldades enfrentadas pelo programa limitaram a oferta de disciplinas, ao menos até o fim de 1979. Por conseguinte, dirigimo-nos a outros Programas da COPPE-UFRJ e ao Mestrado em Desenvolvimento Agrícola, que então funcionava em um casarão histórico no Horto Florestal do Rio de Janeiro.
As disciplinas dos primeiros períodos do mestrado do PUR-COPPE retomaram de forma sistemática as leituras da Ideologia Alemã de Marx e Engels, do Capital de Marx, de Economia e Sociedade de Weber, assim como obras de autores clássicos da Sociologia e da Economia.
No mestrado reencontrei Milton Santos, que conhecera em uma palestra na pós-graduação da FAUUSP, o qual em sua breve estadia no PUR-COPPE, ministrou as disciplinas de “Estudos de Problemas Brasileiros” e de “Organização Territorial”, com um olhar crítico. Na primeira, tratou da criação do 3º Mundo, do planejamento no Brasil e introduziu a discussão de formação sócio-espacial e de divisão espacial do trabalho. Ao passo que na segunda disciplina, a partir de uma abordagem teórico-conceitual, tratou de questões relativas à produção e organização social do espaço, questões que mais tarde redescobri em seus livros “Espaço e Método”, “Espaço Dividido” e “Metamorfoses do Espaço Habitado”, que vieram ao encontro de meu interesse pela produção do espaço, despertado pelas leituras de Lefebvre na década de 1970.
Durante o mestrado, três temas despertaram meu interesse e de certa forma orientaram minhas escolhas, o papel das políticas públicas e das teorias de desenvolvimento na resolução dos problemas sociais; a dinâmica espacial da renda fundiária urbana às quais veio se somar o interesse pela questão do Estado na sociedade contemporânea. Em decorrência aprofundei as leituras relativas à renda fundiária de Marx, as contribuições de Topalov, Lamarche, Lojikine, Castells, Lipietz, bem como estudei as teorias da modernização, da marginalidade social e as diversas teorias do desenvolvimento.
O terceiro tema, relativo ao papel do Estado emerge quase como decorrência dos anteriores, e se constitui em uma tentativa de compreender o papel do Estado e o caráter do Estado brasileiro, em função da conjuntura autoritária que se arrastava desde 1964, para avaliar as condições de atuação política e possibilidades de transformação social. Interesse despertado pela leitura de Chico de Oliveira e de outros autores do CEBRAP(16) da Questão Meridional de Gramsci, bem como das Veias abertas da América Latina de Galeano.
Destarte, os cursos sobre a “Sociologia do Desenvolvimento”, de “Introdução ao Planejamento” e de "Teoria Política", vieram ao encontro desse meu interesse pela questão do Estado capitalista e contribuíram sobremaneira para atualizar-me com relação à discussão teórica do Estado nos anos 1970, com base na contribuição de diversos pensadores, entre eles Buci-Glucksmann, Althusser, Poulantzas, Laclau e Milliband entre outros.
De certa forma, o primeiro e o terceiro desses temas se entrecruzaram com diferentes ênfases e resultaram na dissertação “A Trajetória da Participação Social: sua Elaboração Teórica e Apropriação Prática”(17) , orientada por Rosélia Piquet Carneiro, defendida em 1984. Na dissertação procurei apontar as articulações entre a prática institucional que visa a participação e a integração das comunidades envolvidas na melhoria de suas condições de vida e a produção teórica que procura conceituar e definir a participação no processo de planejamento. Para concluir que sempre houve um "planejamento participativo" nos limites do concedido, planejado pelo Estado, e que a participação social apenas se viabilizará ao deixar de ser uma variável técnica e passar a integrar o cotidiano dos envolvidos.
O interesse por esses temas contribuiu para a minha amizade e colaboração com Ana Clara Torres Ribeiro, que conheci em 1981 nos corredores do PUR-UFRJ, oriunda da Geografia da UFRJ. Animadas por uma comunhão de interesses em torno de questões relativas aos movimentos sociais e às desigualdades socioespaciais buscamos articular alguma forma de trabalho conjunto sistemático, que viabilizasse aglutinar pesquisadores e estudantes em torno de questões candentes da conjuntura brasileira.
Em abril de 1982, Ana Clara Torres Ribeiro e eu, junto com outros mestrandos, criamos o Grupo de Trabalho de Políticas Urbanas no PUR/UFRJ, que se reuniu regularmente até se dissolver em 1984. Esse grupo contribuiu, em parte, para uma espacialização social de minha reflexão uma vez que um de nossos objetivos era procurar desenvolver um processo de análise de medidas de planejamento, que integrasse a rapidez necessária com o rigor teórico crítico, em uma tentativa de aprofundar os meios teóricos e empíricos necessários à análise dos vínculos entre a realidade metropolitana, a legislação urbana e os processos espaciais. Para isso selecionamos como objeto inicial de análise e discussão o Anteprojeto de Lei do Desenvolvimento Urbano do CNDU, posteriormente aprovado como Estatuto da Cidade. A reflexão sobre esse anteprojeto de lei se desdobrou em uma série de atividades conexas(18) , com destaque para o "Dossiê - Anteprojeto de Lei do Desenvolvimento Urbano"(19) . Entre 1982 e 1983 tive minha filha, o que limitou as minhas possibilidades de participação acadêmica, assim desliguei-me, pouco a pouco, do grupo de políticas urbanas do PUR.
O grupo de trabalho de políticas urbanas teve por corolário ao menos quatro desdobramentos de que trato a seguir. O primeiro foi a minha inserção no curso de especialização em Sociologia Urbana no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o segundo foi o ingresso no doutorado, o terceiro foi meu retorno a UFRJ e o quarto foi minha primeira inserção na Geografia através do Laboratório de Gestão do Território (LAGET) do Instituto de Geociências da UFRJ.
1º DESDOBRAMENTO: A SOCIOLOGIA URBANA DA UERJ
Em meados de 1984, após a defesa da dissertação de mestrado, recomendada por Ana Clara Torres Ribeiro e Lícia do Prado Valladares tornei-me docente do curso de especialização em “Sociologia Urbana” do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que me contratou inicialmente na qualidade de professora horista no Curso de Especialização em "Sociologia Urbana" (Pós-Graduação Lato-Sensu). Posteriormente, fui contratada como professora visitante por um período de dois anos (1987-1989).
Durante o tempo em que permaneci nesta instituição, enquanto docente da Pós-Graduação Lato-Sensu, colaborei na criação e montagem do Curso de Especialização em "Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais" (Pós-Graduação Lato Sensu), colaborei na organização de eventos internos(20) , ministrei as disciplinas de "Planejamento Urbano" e de "Técnicas de Pesquisa", orientei monografias de especialização(21) , participei de bancas de trabalhos de conclusão de graduação e de especialização, bem como fiz um curso de computação e de análise de sistemas(22) . Subjacente a criação desse segundo curso de especialização estava a intenção de criar um mestrado em Sociologia Urbana, que se concretizou na década de 1990, quando já me encontrava na UFRJ. Um motivo de felicidade, então, foi a obtenção de uma bolsa de aperfeiçoamento do CNPq para um de meus orientandos(23).
A proposta da disciplina de Planejamento Urbano era capacitar os alunos a proceder a uma leitura crítica do espaço urbano, dos agentes nele atuantes, com um enfoque no papel e atuação do Estado na regulação do espaço urbano vis à vis à erupção de movimentos sociais. A disciplina de Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais, por sua vez, demandou uma aproximação à Antropologia Urbana e aos métodos de observação participante, além de privilegiar um enfoque das diversas técnicas de investigação e de coleta de dados, analíticas e empíricas, finalizando com a estruturação de projetos e elaboração de relatórios de pesquisa. Essa disciplina demandou, ainda, a introdução do tratamento estatístico de dados aos alunos, o que impôs que me familiarizasse com equações estatísticas, o que me foi facilitado pela base em ciências exatas do curso básico de graduação em Arquitetura.
Um fato curioso, que tomei conhecimento anos mais tarde, é que os meus predecessores na disciplina de Planejamento Urbano da especialização em Sociologia Urbana haviam sido Ruy Moreira e Carlos Walter Porto Gonçalves, que viriam a ser meus colegas no Departamento de Geografia da UFF.
2º DESDOBRAMENTO: O INGRESSO NO(S) DOUTORADO(S)
Em 1987, embora contratada pela UERJ por tempo limitado, a inflação crescente fazia-se sentir, com cada vez sobrando mais mês ao fim dos salários. Não havia, então, possibilidade de ingressar em um doutorado fora do Rio de Janeiro. Assim, frente às limitadas opções ofertadas no Rio de Janeiro, candidatei-me à segunda turma do doutorado do IEI-UFRJ(24) , ao final de 1987, aonde fui aceita como ouvinte.
Além de assistir aulas esparsas de diversas disciplinas, durante o ano de 1988, cursei disciplinas de Teoria Econômica, Economia Brasileira e Organização do Estado Contemporâneo, esta última com José Luís Fiori. A primeira destas disciplinas enfocou o pensamento econômico clássico (Smith, Ricardo e Marx) e algumas correntes que se seguiram com destaque para Keynes. A segunda, trabalhou com uma abordagem heterodoxa de autores de diversas escolas sobre a economia brasileira contemporânea, privilegiando questões relativas aos planos de governo, à inflação e à dívida externa. A terceira, permitiu um aprofundamento e atualização da discussão referente à crise do Estado e ao papel dos sindicatos e partidos políticos na arena de negociações, com base nas contribuições de Claus Offe, de Pierre Ronsanvallon e de outros autores.
Em 1989, a restrição de ingresso ao doutorado do IEI-UFRJ e o desejo de desenvolver minha pesquisa de doutorado sobre o estado do Rio de Janeiro levaram-me a pensar em buscar outras alternativas. Foi quando, reencontrei Celso Lamparelli, em uma reunião preparatória do III Encontro Nacional da ANPUR, que sugeriu que me candidatasse ao Doutorado da FAUUSP com o seu apoio. Assim, em julho de 1989, ingressei no Doutorado de Arquitetura e Urbanismo com uma bolsa CNPq por quatro anos.
Questionada, anos mais tarde, por Milton Santos do por que de não haver ido para a Geografia da USP, cheguei a conclusão que naquela ocasião, de um ponto de vista pragmático, a FAUUSP acumulava, então, condições gerais mais favoráveis ao meu doutoramento, sem demandar créditos suplementares e por permitir-me conjugar a dedicação aos estudos, à pesquisa e às demandas familiares.
Para cumprir os créditos disciplinares cursei as disciplinas de "Teoria da Urbanização" com Celso Lamparelli e Rebeca Scherer, "Teoria do Desenvolvimento e do Planejamento" com Cândido Malta Campos Filho e "Os Processos do Projeto e do Planejamento" com Philip Maria Gunn. A primeira realizou uma recuperação e discussão da evolução da questão metodológica sobre o urbano e o planejamento e, também, privilegiou uma reflexão sobre as atuais práticas de planejamento procurando apontar as tendências correntes e possíveis vieses teórico-metodológicos. A segunda privilegiou, inicialmente, uma recuperação das teorias clássicas de planejamento articulando-as com a prática de planejamento do Estado no Brasil, para a seguir tratar das operações interligadas em São Paulo. Ao passo que a terceira procedeu a uma discussão dos veios ideológicos e políticos que conformaram a prática de produção do espaço urbano, de meados do século XIX à primeira metade do século XX.
3º DESDOBRAMENTO: DE VOLTA À UFRJ E A ERA DOS CONCURSOS
No 2° semestre de 1988, em vista do fim do meu contrato com a UERJ, e de minha inserção como ouvinte no doutorado do IEI, voltei à UFRJ. Este retorno se deu com múltiplas e variadas inserções, de 1988 a 1995, de forma intermitente e com vínculos precários. Primeiro com atividades de pesquisa quase simultâneas no IEI, onde iniciei o doutoramento, e no IPPUR, bem como com aulas de especialização no IPPUR e na FAU e posteriormente com pesquisas na Geografia e no IPPUR. Durante este período me submeti a quatro concursos docentes, sendo aprovada e qualificada em todos, dois na área de Arquitetura e Urbanismo e dois na área de Geografia Humana. A estes quatro concursos seguiram-se mais dois, quando já me encontrava, em caráter precário, no Departamento de Geografia da UFF.
De março a agosto de 1988, trabalhei na pesquisa "Mega-Cities Rio de Janeiro" sob a coordenação de Carmen Fabriani, com suporte de um convênio entre o IEI-UFRJ com a New York University. Nessa pesquisa trabalhei com diversos pesquisadores, com destaque para Janice Perlman, coordenadora geral do projeto, e Susana Finquelievich do Instituto Gino Germani da Universidade de Buenos Aires e do CEUR-Argentina. Além de colaborar na elaboração de relatórios mensais, na definição das diretrizes gerais do projeto, na organização do Encontro de Coordenadores do Mega-Cities, também, participei ativamente da elaboração do trabalho "El Sector Informal y la Calidad de Vida en las MegaCiudades"(25) , apresentado no Seminário "Setor Informal: Cooperação e Participação para Resolver Problemas Urbanos", promovido pela Escola Nacional de Habitação e Poupança, pelo IBAM, pela USAID e pelo Projeto Megacidades, que me oportunizou reencontrar Maria Adélia de Souza.
Em paralelo às atividades desenvolvidas na UERJ e no IEI-UFRJ, no primeiro semestre de 1988, comecei a ministrar a disciplina de “Produção do Espaço” para a Especialização em Urbanismo da FAU-UFRJ, onde permaneci até meados de 1992. Esta disciplina tinha por objetivo fornecer um instrumental analítico e prático para a análise do processo de evolução do uso e ocupação do solo urbano; enfatizando do ponto de vista teórico o papel e interações entre os diversos agentes responsáveis pela produção do espaço (capital imobiliário, incorporadores e a autoconstrução), bem como os aspectos ligados às políticas e práticas do Estado e dos organismos financiadores na produção do espaço urbano (política habitacional, infraestrutura e legislação). Ao nível prático o curso privilegiou o estudo da cidade do Rio de Janeiro e das cidades da Baixada Fluminense, através do uso de mapas temáticos.
Ao mesmo tempo, comecei a dar aulas de "Técnicas de Análise e de Diagnóstico Regional” no Curso de Especialização em "Desenvolvimento Regional e Planejamento Territorial" do IPPUR-UFRJ junto com Rainer Randolph. Na parte que me coube abordei técnicas de pesquisa ligadas à análise regional, através de uma visão crítica, procurando destacar aspectos da coleta de dados em diferentes escalas de análise e de reflexão.
Entrementes, em dezembro de 1991, foi aberto o primeiro concurso em anos para Professor Assistente de Teoria da Arquitetura na Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF, no qual fui habilitada e aprovada em 2° lugar. Meio ano depois, prestei concurso para Professor Assistente para o Departamento de Planejamento Urbano da FAU-UFRJ, no qual fui habilitada e aprovada em 3° lugar.
Entre 1991 e 1992, eu, Lilian Fessler Vaz e Elane Frossard Barbosa, coordenadora do curso, com quem trabalhara no Grupo de Trabalho de Políticas Urbanas, elaboramos a proposta preliminar do curso de mestrado em Urbanismo da FAU-UFRJ, tomando por base a estrutura curricular da especialização. No segundo semestre de 1992, já sob a coordenação de Denise Pinheiro Machado esta proposta foi aperfeiçoada, reelaborada, encaminhada e aprovada na CAPES, dando origem ao atual programa de urbanismo da FAU-UFRJ, hoje PROURB-UFRJ.
A esta altura percebia que meus interesses de pesquisa se distanciavam cada vez mais da área de Arquitetura e Urbanismo. E, se colavam mais e mais a questões ligadas à análise regional da urbanização e da dinâmica econômica, que se desdobravam nos estudos da tese de doutorado sobre a urbanização fluminense.
Em janeiro de 1992 comecei a participar do Laboratório de Organização de Redes Territoriais, Estratégicas e Sociais do IPPUR-UFRJ (ORTES - IPPUR/UFRJ), coordenado por Rainer Randolph, e da organização do projeto de pesquisa "Impactos de Projetos Turísticos na Ilha Grande, Município de Angra dos Reis" que se propunha a uma avaliação dos impactos de uma possível desativação do Instituto Penal Cândido Mendes na Ilha Grande, município de Angra dos Reis(26). Um desdobramento deste projeto foi a apresentação do trabalho "Life Conditions of Vila Abraão Inhabitants - a Multimedia Presentation"(27) , em coautoria com Rainer Randolph, no 1st Symposium of "Multimedia for Architecture and Urban Design" realizado na FAUUSP.
Em paralelo às atividades na FAU-UFRJ, durante o 1° semestre de 1992, eu e Rainer Randolph tomamos contato com a Ação Rural da Paróquia de S. Sebastião de Lumiar- Município de Nova Friburgo / RJ. Resultou daí uma série de reuniões e discussões que culminaram em nosso apoio a elaboração conjunta do documento "Sustentabilidade dos pequenos produtores em Área de Tombamento (Mata Atlântica - RJ)"(28) apresentado no FORUM GLOBAL - RIO 92. Nesse documento são salientadas as condições de vida e trabalho dos pequenos produtores em áreas de Mata Atlântica, aí residentes há gerações, e os problemas que enfrentam gerados pela ação do IBAMA e de grupos ecológicos radicais, que visam sua erradicação dessas áreas em nome da preservação ambiental do meio físico e biológico, sem atentar para a necessidade de manter estes grupos no local.
CHEGANDO NA GEOGRAFIA, DA UFRJ À UFF
Em 1993, de setembro a dezembro, me aproximei da Geografia propriamente dita quando fui contratada pela Fundação Bio-Rio para gerenciar a 1a Fase da Pesquisa PADCT "Utilização de Sistema de Informações Geográficas na Avaliação Tecnológico Ambiental de Processos Produtivos", coordenada por Bertha Becker e Cláudio Egler, do Laboratório de Gestão do Território (LAGET), com a participação dos laboratórios de Geoprocessamento e de Estudos do Quaternário do Instituto de Geociências-UFRJ, junto com laboratórios do IPPUR-UFRJ e com laboratórios da Fundação Fiocruz. Esse projeto me facultou uma aproximação às técnicas de geoprocessamento e ao domínio de alguns programas, que me propiciaram elaborar mapas temáticos. Bem como propiciou o contato com Fany Davidovich, Lia Osório Machado, Iná Elias de Castro, Paulo César Gomes, entre muitos outros docentes da UFRJ.
Durante esse período no LAGET, Cláudio Egler e Marcelo Lopes de Souza, docentes do Departamento de Geografia, incentivaram minha candidatura ao concurso para provimento de duas vagas de professor assistente em Geografia Humana da UFF. Aprofundei, assim, minhas leituras de Harvey, Soja, Benko e Milton Santos, entre outros autores, bem como dos clássicos da Geografia com destaque para os trabalhos de Ratzel, de La Blache e Waibel. Esse concurso realizado em outubro de 1993 contou com diversos candidatos, havendo sido aprovados e habilitados apenas quatro, eu em terceiro lugar.
Segui no LAGET-UFRJ até dezembro de 1993, quando por força da necessidade de concluir o doutorado desliguei-me do projeto. Essa breve estadia no LAGET-UFRJ propiciou o meu acesso às bases de dados distritais do IBGE relativos ao estado do Rio de Janeiro, necessários ao desenvolvimento de minha tese.
No primeiro semestre de 1994, mais uma vez incentivada por Claudio Egler, Marcelo Lopes de Souza e Bertha Becker prestei concurso para Professor Assistente de Geografia Humana no Departamento de Geografia da UFRJ, no qual fui aprovada em segundo lugar, dentre diversos candidatos. Após esse resultado, retomei a tese de doutorado, que ganhava cada vez mais contornos geográficos em função das intensas leituras e extensos fichamentos feitos para os concursos. Cabe ressaltar que muitas contribuições das leituras desses autores convergiam para as leituras passadas dos textos de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Salama feitas em grupos de estudos clandestinos durante minha militância política durante a graduação, relativos ao desenvolvimento desigual e combinado, às contradições entre o valor de uso e o valor de troca, entre capital e trabalho; bem como leituras de textos de Gramsci, Luxemburgo, Mandel, Deborde e Lefebvre feitas à revelia do sectarismo militante, que contribuíam para uma compreensão da dinâmica espacial do capitalismo e da divisão espacial do trabalho.
INGRESSO NA GEOGRAFIA DA UFF E CONCLUSÃO DO DOUTORADO
Em 1º de agosto de 1995 teve início o meu contrato como professora substituta no Departamento de Geografia da UFF, sem direito a renovação devido a medida provisória federal do primeiro governo presidencial de Fernando Henrique Cardoso. E, foi neste âmbito que se deu a elaboração e redação final de minha tese de doutorado "Os Lugares da Urbanização - o caso do interior fluminense", que me conferiu o grau de Doutora em Estruturas Ambientais Urbanas.
Cabe ressaltar que a pesquisa e elaboração da tese se desenvolveu de 1990 a 1996, em meio a diversas atividades e com uma progressiva aproximação à Geografia, havendo sido defendida em novembro de 1996 e, posteriormente, disponibilizada no acervo digital de teses da USP, da qual trato mais adiante.
Após a defesa da tese, em vista da falta de uma perspectiva de inserção acadêmica institucional na UFF e a convite de colegas do IEI-UFRJ, Fábio Sá Earp e Luiz Carlos Soares, candidatei-me a um concurso de professor assistente em Economia do Trabalho, em que fui aprovada e habilitada em terceiro lugar.
Nessa ocasião foi aprovada a minha solicitação de bolsa de pesquisa de recém-doutor junto ao CNPq ao fim de 1996, o que determinou meu retorno ao Departamento de Geografia da UFF, onde estou até hoje, após haver sido efetivada, através de novo concurso público, em 17 de agosto de 1998.
PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA A GEOGRAFIA BRASILEIRA
Espero que aqueles que ora me leem compreendam que, há décadas, convivo em uma relação de amor com a Geografia. Uma relação consensual estável, reconhecida por meus pares, porém sem títulos de papel que comprovem e atestem a legitimidade de minha relação com a Geografia, ou seja não sou graduada, nem pós-graduada em Geografia, porém com pós-doutorado em Geografia Humana com Horácio Capel em Barcelona, entre 2005 e 2006, na Universidad de Barcelona.
Maurício de Almeida Abreu dizia que me tornei geógrafa, pouco a pouco, fazendo concursos e lecionando diversas disciplinas de Geografia Humana e Econômica ao nível da graduação da UFF, à exceção de Geografia Agrária, bem como formando geógrafos, que hoje lecionam em universidades e em escolas, desenvolvem pesquisas e atuam em diferentes instituições. A este conjunto de atividades somaram-se aulas em disciplinas dos cursos de especialização em Planejamento Ambiental e em Geografia do Rio de Janeiro, precursores do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFF.
E, como observou uma vez, Milton Santos “só você para fazer uma tese de Geografia na FAUUSP”. Tese de doutorado defendida em 05 de novembro de 1996 que, posteriormente, para minha honra, citou em um dos seus últimos livros com Maria Laura Silveira, extensamente segundo meus alunos.
Tese que, agora ao elaborar esse memorial, percebo que tem a ver justamente com meu momento de descoberta de uma outra Geografia, diferente daquela dos livros de escola(29) . Momento do meu primeiro encontro com Milton Santos na sala dos espelhos do casarão da FAU-Maranhão em São Paulo, em uma aula apinhada do curso de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da USP, em 1978. Onde, do alto de um púlpito, teatralmente, Milton Santos discorria sobre paisagem e lugar. Sua abordagem a um só tempo me deixou perplexa, me fascinou, seduziu e intrigou. Levantei questões, fiz perguntas e saí, então, com mais indagações do que respostas. Aqueles eram tempos marcados pela repressão autoritária que repercutia nas salas de aula e calava as vozes de muitos professores, tempos em que uma possível abertura política e transição para a democracia apenas se faziam anunciar. Tempos em que ainda reverberavam os esforços da ala conservadora das forças armadas por um golpe à direita. Assim, ouvir Milton Santos falar livremente naquela ocasião foi, por assim dizer, no mínimo, estimulante.
Embora essa tese designada “Os lugares da urbanização: o caso do interior fluminense”(30) não discuta o conceito de lugar objetivamente, parte de uma discussão do espaço social, de sua produção e traz embutida em si uma concepção geográfica de lugar. Essa tese é um dos marcos de minha adesão à Geografia. Influenciada pelas obras de Harvey(31), Santos(32) , Soja(33) e Lefebvre(34) , procedo à uma reflexão sobre a urbanização no interior fluminense à luz da compreensão da urbanização enquanto um fator crucial para a estruturação do território, que na atual etapa transcende os limites físicos da aglomeração. Esse estudo permitiu-me concluir, então, que a persistência da concentração urbana vis a vis a uma dispersão da ocupação de caráter urbano no território era um sinal da dissolução da dicotomia rural-urbano, que demandava a necessidade de se relativizar a onipresença metropolitana no território.
ATUAÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFF
Uma de minhas maiores contribuições ao Departamento de Geografia foi minha atuação ativa junto a um pequeno grupo, constituído por Ruy Moreira, Jorge Luiz Barbosa e Rogério Haesbaert, para a implantação do curso de Pós-graduação em Geografia, cuja proposta foi elaborada no decorrer de 1997 e aprovada em 1998 com conceito 4 na CAPES, sem retificações. Posteriormente, em um esforço conjunto com esses colegas, apoiei e dei suporte efetivo ao encaminhamento da proposta de doutorado, aprovada em 2001 com conceito 4. Além de haver participado de diversas comissões de seleção do mestrado e do doutorado, participei e atuei diretamente, também, em vários níveis e em momentos cruciais à implantação e consolidação prática do Programa de Pós-Graduação em Geografia, de que trato em seguida.
Primeiro, assumi a responsabilidade, por vários anos (1999-2005), dos seminários basilares do Mestrado, que implicavam em uma releitura das propostas de pesquisa apresentadas pelos mestrandos, para uma apresentação coletiva. Esses seminários integravam um sistema escalonado de apresentações semestrais e se constituíram na espinha dorsal da proposta, que permanece vigente até os dias atuais, igualmente implementada no doutorado. Os seminários escalonados do mestrado e do doutorado propiciam um ambiente coletivo de discussão, troca de informações e de acompanhamento do andamento dos trabalhos finais dos orientandos, com a participação do professor orientador e demais docentes do programa.
Em termos da formação propriamente dita, que compreendeu a orientação de diversos mestrandos, implantei duas disciplinas na pós-graduação, uma primeira denominada Urbanização e Ordenamento Territorial, voltada para a problemática da produção social do espaço, com base em leituras da obra de Lefebvre(35) e trabalhos de Santos, com um foco particular em A Natureza do Espaço(36) . Recentemente, implementei a leitura do Capital de Marx(37) , junto com a leitura de David Harvey(38) de modo a instrumentalizar a abordagem da contradição valor de uso-valor de troca e o fetichismo da mercadoria, para a discussão dessa contradição e desse fetichismo em relação à produção social do espaço contemporâneo.
Junto com Jorge Luiz Barbosa, implementei a disciplina “Questões Ambientais Contemporâneas”. Embora essa tenha sido uma experiência exitosa, não se repetiu em função do aumento das demandas administrativas e de pesquisa, que se fizeram acumular nos períodos seguintes.
Após a criação do doutorado em Geografia, em 2001, passei a fazer um acompanhamento direto de vários Seminários de Doutorado, além de haver assumido diversas orientações, ano a ano.
Segundo, para assegurar a qualidade do Curso, de 1999 a 2004, atuei como representante do programa junto à Comissão de Área CAPES coordenada por Maurício Abreu e Maria da Encarnação Beltrão Spósito, onde conheci docentes de outras instituições de ensino superior, entre os quais Ana Fani Alessandri Carlos, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Francisco Mendonça (UFPR )(39), João Lima (UNESP-PP )(40), Heloísa Soares de Moura Costa (UFMG) e, anos mais tarde, Dirce Surtearagay (UFRGS )(41).
Terceiro, contribui, ainda, em um esforço conjunto com meus colegas para a criação da revista Geographia, em 1999. Essa revista concebida enquanto um periódico científico com a meta de viabilizar a tradução e publicação de textos de geógrafos, a publicação de trabalhos de docentes e de discentes, bem como textos clássicos da Geografia, foi avaliada com Qualis A1 na área de Geografia. Durante a gestão de Jacob Binsztok (2006-2008) na coordenação do Programa de Pós-Graduação de Geografia, promovi a digitalização desse periódico. Desde então, este periódico se encontra totalmente digitalizado e disponível online, em uma base OJS(42).
Quarto, cabe ressaltar a importância, primeiro, da orientação de dissertações de mestrado, a que se seguiram as teses de doutorado. Essa função se caracterizou pela diversidade de temas decorrente da necessidade de atender, inicialmente, em parte aos próprios professores do Departamento, bem como a professores de outros departamentos e de outras Instituições de Ensino Superior, a que se somaram candidatos oriundos da graduação da UFF, da UERJ-FFP(43) e inclusive da UFRJ, aos quais vieram depois se juntar candidatos de outros cursos de Geografia do estado do Rio de Janeiro.
A criação do Doutorado em Geografia da UFF contribuiu para aumentar a projeção do Programa ao nível nacional e internacional, com o estabelecimento de diversos convênios de intercâmbio e de cooperação nacional e internacional, com países latino-americanos, africanos e europeus, com um crescente intercâmbio de alunos de diversas partes de mundo.
Entre meus orientandos do mestrado, doutorado, especialização e iniciação científica destacam-se Anita Loureiro de Oliveira (mestrado), docente de Geografia Humana da UFRRJ(44) ; Antônio de Oliveira Júnior (mestrado) docente de Geografia Humana da Universidade Federal de Uberlândia; Fernando Lannes Fernandes (mestrado), Senior Lecturer in Inequalities at the Research Centre for Inequalities, University of Dundee na Escócia; João Carlos Carvalhaes dos Santos Monteiro (iniciação científica, TCC e doutorado), pós-doutorando junto a UFF; Luísa Simões (iniciação científica), que após concluir seu mestrado em Paris, se encontra concluindo seu doutoramento em Geografia na Sorbonne; Marcelo Lopes de Souza (especialização) docente da Geografia da UFRJ e pesquisador 1 do CNPq; Marcia Feitosa Garcia (especialização, mestrado e doutorado) (in memoriam) que ocupou o cargo de Gerente de Avaliação Ambiental de Projetos na Eletrobrás; Marcus Rosa Soares (monitoria, doutorado), docente do CEFET-Nova Iguaçu; Tatiana Tramontani Ramos (iniciação científica) docente de Geografia Humana na UFF – Campos; Renato Fialho Martins (CEFET- Itaguaí) e Pablo Arturo Mansilla, docente da PUC de Valparaíso, bem como outros docentes e pesquisadores provenientes de outras instituições de ensino superior, que se qualificaram junto ao nosso programa, como Regina Mattos da PUC-RIO(45), Célio Augusto Horta do Instituto de Geociências da UFMG; Aldo Souza do CEFET-Belém, Regina Esteves Lustoza da UFV(46) e Josélia Alves docente da UFAC(47) entre muitos outros(48) , inclusive participantes de convênios de intercambio.
Quinto, embora estivesse impedida, em 1998, de assumir a subcoordenação do programa, por me encontrar em regime probatório, assumi diversas tarefas relativas a esse cargo até meados de 2002. De 2002 a 2004, assumi de forma efetiva a (sub)coordenação da pós-graduação com Carlos Walter Porto Gonçalves, enquanto coordenador. A partir de 2007 voltei a dar suporte à coordenação do programa, então sob a gestão de Jacob Binsztok. E, de meados de 2008 até meados de 2010, assumi a coordenação, junto com Nelson Fernandes, ocasião em que o Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFF alcançou o conceito 6 junto a CAPES, o qual mantém até hoje.
Sexto, contribui para com o departamento e o Programa de Pós-graduação em Geografia através da implementação de convênios e de acordos interinstitucionais relativos a formação de quadros qualificados (DINTER(49) informal com a UENF-Campos (2008)(50); DINTER-CAPES com a UNEMAT(51) e UFMT(52) (2010-2013), coordenado por Sandra Baptista da Cunha e Jacob Binsztok durante minha gestão, e implementação de uma política de cooperação e solidariedade interinstitucional através do PROCAD-NF tripartite com a pós-graduação em Geografia da UFPA(53) e da UNESP-PP (2009-2014), coordenado por mim, por Janete Gentil de Moura da UFPA e por Antônio César Leal da UNESP-PP, a que se soma o edital Casadinho com a UECE(54) , coordenado por Denise Elias. Dessas cooperações resultou um intercâmbio de docentes e discentes, que contribuiu para uma rica troca de experiências. Soma-se a essas experiências a interação entre o mencionado PROCAD-NF de Geografia da UFPA com o PROCAD-NF de Economia da mesma universidade, que promoveu a integração de docentes de todos os cinco programas envolvidos (Geografia da UFF, da UNESP-PP, da UFPA e Economia da UNICAMP(55) e da UFPA) em um Seminário realizado na UFPA com o apoio do CORECON-PA(56) em dezembro de 2010, coordenado por Carlos Antônio Brandão da UNICAMP.
Sétimo, em termos da internacionalização do programa, além das iniciativas de meus colegas, cabe, em parte, uma responsabilidade minha nos laços estabelecidos com a Universidad de Barcelona, graças a um estágio de pós-doutorado realizado naquela universidade, junto ao professor Horacio Capel, entre 15 de julho de 2005 e 31 de março de 2006. Embora estivesse debilitada em razão de sérios problemas de saúde, este estágio foi extremamente profícuo e contribuiu, posteriormente, para diversos estágios de doutorado-sanduiche de nossos alunos da pós-graduação, bem como para a realização de estágios pós-doutorais de outros colegas. No âmbito dessa cooperação recebemos Paolo Russo da Universidad de Tarragona, que ministrou aulas no Programa de Pós-graduação em Geografia da UFF.
Em 2016, graças às relações estabelecidas com a Universidade de Leiden (Holanda) conduzi as negociações para o estabelecimento de um convênio de intercâmbio e cooperação acadêmico interinstitucional com a UFF.
ATUAÇÃO NA GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
Somam-se às atividades no programa de pós-graduação em Geografia minha dedicação à graduação em Geografia (bacharelado e licenciatura). Destacam-se entre outras atividades:
Primeiro, a montagem e implementação do Programa Especial de Treinamento (PET) da CAPES, em conjunto com Jorge Luiz Barbosa e Rogério Haesbaert, esse PET segue em operação, congregando alunos bolsistas e não-bolsistas, com o objetivo de formar e preparar estudantes da graduação para o mestrado.
Segundo, participei, em termos institucionais, ao longo de toda a minha trajetória acadêmica junto ao Departamento de Geografia de diversas comissões relacionadas à reestruturação curricular do curso de graduação em Geografia, informatização, alocação de vagas docentes, bem como de instâncias institucionais com destaque para o Colegiado do Curso de Graduação em Geografia, a Câmara Técnica de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, bem como do Colegiado do Instituto de Geociências, entre outras representações.
Terceiro, em meus primeiros anos no Departamento de Geografia ministrei um carrossel de disciplinas(57) que levaram-me a aprofundar a reflexão geográfica vis ao vis ao desenvolvimento de pesquisas diversas e a familiarizar-me com o pensamento geográfico, com destaque para as obras e as contribuições de meus colegas(58) , bem como com a produção cientifica de um amplo repertório de geógrafos nacionais(59) , com a obra de geógrafos estrangeiros atuais(60) e de autores clássicos da Geografia(61).
Quarto, desde meu ingresso no departamento de Geografia em 1º de agosto de 1995, participei de bancas de trabalho de conclusão de curso, orientei trabalhos de conclusão de curso em um amplo espectro de temas, bem como trabalhos de vários bolsistas de iniciação científica e de iniciação à docência (monitoria) que fizeram parte de meu grupo de pesquisa GECEL (Grupo de Estudos de Cidade, Espaço e Lugar), cadastrado junto ao CNPq. Muitos desses orientandos, posteriormente, ingressaram na pós-graduação e encontram-se inseridos em instituições de ensino superior ou em órgãos de pesquisa.
Quinto, atuei efetivamente na seleção de novos docentes para o Departamento de Geografia, enquanto presidente de três bancas de seleção de provimento de vagas para professor adjunto de Geografia Humana e Econômica com ênfase em Brasil.
Enfim, cabe ressaltar, que entre 1º de agosto de 1995 a 17 de agosto de 1998, estive vinculada ao departamento de Geografia em caráter precário. Primeiro, como professora substituta 20 horas (de 1º de agosto de 1995 a 31 de julho de 1996); depois como professora horista 15 horas na especialização. De meados de 1997 a 1998, passei a receber uma bolsa CNPq de Recém-Doutor em Geografia com o projeto Dinâmicas locais e regionais no sul fluminense - complexos de rede empresarial e o Porto de Sepetiba(62).
1998 era um ano eleitoral, em que Fernando Henrique Cardoso concorria à reeleição, embora fosse um momento que, aparentemente, não haveriam mais concursos, nem contratações, a UFF recebeu uma pequena quantidade de vagas docentes e uma foi alocada ao Departamento de Geografia. Após a realização do concurso em maio de 1998, fui aprovada em 1º lugar, e efetivada no cargo de Professor Assistente I de Geografia em 17 de agosto de 1998 e promovida a Professor Adjunto I em 20 de agosto de 1998. Um produto desse concurso foi a editoração junto com Rogério Haesbaert da prova de aula realizada, que resultou no artigo “O território em tempos de globalização”(63).
ATUAÇÕES DIVERSAS E PROJEÇÃO EXTERNA
Contribui, também, para a projeção externa do programa e para suas relações interinstitucionais ministrando cursos em Instituições de Ensino Superior no Brasil e no exterior, colaborando com Programas de Pós-graduação em Geografia de outras universidades, dando palestras, conferências, participando de semanas de Geografia, comemorações do dia do Geógrafo e realizando Aulas Magnas. Entre as quais se destacam:
• as relações estabelecidas com o departamento de Latin American Studies, que abriga a cátedra Rui Barbosa, sob a coordenação da professora Marianne Wiesebron, que assumi na Universidade de Leiden, na Holanda, uma das mais antigas universidades da Europa, de 1º de fevereiro a 30 de abril de 2014, que contribuiu para darmos inicio a uma cooperação mais estreita e a realização de um convênio amplo de intercâmbio e cooperação. No âmbito desta estadia ministrei palestras nos programas de pós-graduação da Universidade de Amsterdã e na Universidade de Cardiff.
• o curso de pós-graduação de curta duração no Mestrado em Estudios Urbanos da Universidad Nacional da Colombia, em Medellín, em março de 2012.
• as Aulas Magnas nos programas de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em 2008, em Francisco Beltrão e da Universidade Federal de Pernambuco, em 2013.
• a colaboração, participação em eventos, disciplinas ou palestras em outros os programas de pós-graduação (de Geografia da UNESP-PP, UFMG, UFPA, da UFPB; de Economia da UNICAMP e do CEDEPLAR (UFMG); de Planejamento Urbano e Regional do IPPUR-UFRJ, entre outros.
• a participação em mesas redondas de comemoração de Semana de Geografia de diversos programas de pós-graduação (UFSJ, em 2014; UNESP-Rio Claro, em 2011; UNICAMP, em 2008, entre outras).
• a atuação ativa no projeto de extensão, sob a coordenação de Jorge Luiz Barbosa, que resultou na Implantação e Ampliação do Polo Universitário da UFF em Volta Redonda;
• a participação em bancas de concurso docente de Geografia na USP e na UFPE;
• a participação em bancas de professor livre-docente na Geografia da USP e na Ciências Sociais da UNICAMP
• a participação em bancas de professor titular em Geografia Humana, Geografia Física e Geoprocessamento na UFSC, UFPB, UFU.
• a participação em bancas de professor titular de Ciências Sociais, Antropologia Social, Psicologia Social e Filosofia na UFSC.
• a participação em mesas redondas em diversos eventos nacionais, internacionais, bem como em eventos de cunho local e regional promovidos nas áreas de Geografia e de Planejamento Urbano e Regional;
• a colaboração e participação em comitês científicos, em comissões organizadoras e em advisory boards de eventos nacionais e internacionais da área de Geografia e de áreas correlatas.
• a atuação como consultora ad-hoc em comissões editoriais de diversos periódicos científicos nacionais e internacionais;
• a representação do programa de pós-graduação em reuniões da AGB(64) nacional e da ANPEGE(65) , e a participação enquanto convidada de mesas-redondas em Encontros Nacionais de Geógrafos, em Seminários itinerantes temáticos, entre os quais se destacam os Simpósios de Geografia Urbana (SIMPURB). A que se soma a coordenação, organização de grupos de trabalho em simpósios temáticos (SIMPURB) e encontros nacionais da pós-graduação em Geografia;
• a participação nas Conferências Internacionais de Americanistas nos grupos de Sandra Lencioni e Sonia Vidal Koopmann, de Ana Fani Alessandri Carlos e Alicia Lindon.
• a cooperação com outros programas de pós-graduação em Geografia para a definição de formas de melhoria das condições da pós-graduação. Assim como a colaboração ativa com associações nacionais de pesquisa e pós-graduação, implementando a filiação e associação do programa, com a promoção de eventos e fomento à pesquisa. Destaca-se nesse sentido à filiação e atuação ativa do programa e minha junto ao CLACSO(66) , à ANPEGE e à ANPUR, bem como junto à AGB.
Enfim, em termos da projeção externa, enquanto docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia, cabe um item aparte para minha atuação junto à ANPUR, que me obrigou a retomar questões do planejamento urbano e regional. Esse período de certa maneira contribuiu para uma retomada renovada de minhas pesquisas na Geografia, conforme veremos adiante.
INTERMEZZO: ANPUR
Participei da ANPUR desde o seu I Encontro Nacional, com a apresentação de trabalhos e organização de sessões livres, com um breve intervalo entre o IV e o VII Encontro Nacional, em razão da tese de doutorado. Minha participação se torna mais ativa em termos institucionais, após 2005, com a filiação do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFF. Ao final do XIV encontro foi eleita uma chapa para a gestão 2011-2013, com Ana Clara Torres Ribeiro como presidente e eu na qualidade de secretária executiva-nacional, além de cinco outros diretores. Com seu falecimento precoce, em 09 de dezembro de 2011, assumi a presidência da ANPUR até 31 de julho de 2013.
Durante a gestão da ANPUR participei de inúmeros eventos e mesas-redondas no Brasil e no exterior. Organizei com os demais membros da comissão organizadora, durante esse período a editoração e publicação da coleção ANPUR(67) , compreendendo as contribuições das mesas redondas do XIV Encontro Nacional, uma homenagem a Ana Clara Torres Ribeiro, a tese e a dissertação premiadas, a que se somam as contribuições do Simpósio organizado no âmbito da 65ª reunião anual da SBPC(68) em Recife.
Viabilizei com base no trabalho desenvolvido na gestão de Leila Cristina Duarte Dias (2009-2011) a disponibilização online de todo o acervo de anais da ANPUR sob o formato OJS, apoiei e dei suporte à atualização da Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, sob a editoria de Carlos Antônio Brandão (2012-2014).
O período de 2011 a 2013, na ANPUR foi marcado por intensas atividades relacionadas ao ensino, ao fomento e, em especial, à representação e participação em órgãos de governo, em que se destacam a participação na comissão da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional e subsequente participação na mesa de abertura da Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional do Rio de Janeiro, a participação na Comissão de Representantes de Associações Nacionais de Pesquisa e Pós-Graduação criada por Marcio Pochmann no IPEA(69) . Somam-se a estas atividades a interlocução com o Centro Celso Furtado, com o Observatório de Desenvolvimento Regional da UNISC(70) e com a Rede Brasileira de Cidades Médias (RCM) coordenada por Marcos Costa Lima (UFPE).
A gestão da ANPUR foi um período marcado pela retomada da questão regional na pauta de preocupações e de formulação de políticas por parte do governo federal. Nesse sentido o I Seminário de Desenvolvimento Regional, Estado e Sociedade (SEDRES), organizado por Rainer Randolph, abriu um espaço de interlocução das questões regionais entre os programas de pós-graduação e órgãos institucionais de governo, havendo participado de suas duas primeiras edições.
Dentre as muitas atividades associadas à gestão da ANPUR, quatro merecem um olhar especial. A primeira refere-se à organização por mim e pelo secretário-executivo, Benny Schvarsberg junto com um grupo de docentes da UNB, do VI Seminário Nacional de Avaliação do Ensino e da Pesquisa em Estudos Urbanos e Regionais em Brasília, que reuniu representações das áreas de geografia e de planejamento urbano na CAPES e no CNPq, com mesas de debates sobre questões relacionadas ao ensino e à pesquisa em planejamento urbano e regional.
A segunda diz respeito, ao Simpósio ANPUR-SBPC, organizado por mim e Edna Castro (NAEA-UFPA)(71) realizado em Recife, durante a 65ª Reunião Anual da SBPC, que deu origem ao livro “Um novo planejamento para um novo Brasil?”(72) . Esse seminário permitiu reavivar e estreitar os laços da ANPUR com outras entidades científicas, bem como para que a ANPUR alcançasse uma explicitação maior de sua interdisciplinaridade, através da articulação das contribuições dos pesquisadores de diferentes campos do conhecimento que a integram. E, também, facultou aos membros da ANPUR refletir e se posicionar crítica e politicamente frente às jornadas de junho-julho de 2013, o que me levou, então, a alertar para o perigo da radicalização à direita, dada a ausência de vínculos partidários.
A terceira é relativa ao estabelecimento de uma interlocução com outras associações nacionais de pesquisa e de pós-graduação (com destaque para a ANPEGE, ANPOCS(73) , ABEP(74) e ANPARQ(75) ) em torno de questões comuns como as limitações à participação no programa Ciências sem Fronteiras e a demanda por uma Diretoria de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
E, em quarto lugar, merece destaque a projeção internacional da ANPUR, através do apoio ao Programa Atílio no âmbito dos diálogos França-Brasil e da participação nas reuniões do GPEAN realizadas em Lausanne (2012), em Recife (2013) e em Dublin (2013), que possibilitaram trazer para o Rio de Janeiro a realização do IV World Planning Schools Congress em 2016, organizado por uma missão organizadora, da qual fui parte integrante, sob a coordenação do IPPUR-UFRJ.
A gestão da ANPUR além de haver possibilitado um maior contato com os programas da área de Desenvolvimento Regional permitiu-me perceber suas interações com a Geografia, abrindo diversas possibilidades de trabalho conjunto entre os programas de ambas as áreas, além de haver contribuído para ampliar as possibilidades de inserção e de projeção dos docentes e pesquisadores dos programas-membro. As atividades e interações desenvolvidas nesse período tiveram um desdobramento em minha produção acadêmica e atividades de pesquisa como veremos a seguir.
PESQUISAS EXPRESSIVAS QUE MARCARAM O PERFIL ACADÊMICO
A atividade de pesquisa sempre foi, junto com a docência, parte fundante de minha trajetória acadêmica, embora desenvolvida de forma intermitente. Ganha corpo maior após o mestrado e se desenvolve initerruptamente após o doutorado e o ingresso no Departamento de Geografia da UFF.
A atividade de pesquisa inicia-se com estágios diversos(76) e ganha corpo com o Grupo de Políticas Urbanas, bem como com a pesquisa para a dissertação de mestrado, que resultou, também, na colaboração com a revista Espaço e Debates e organização de seu 2º número, onde foi publicado o artigo "Um Subsídio ao Debate sobre a Ação do Estado em Favelas: Rio de Janeiro – 1980”(77) . Esta colaboração estendeu-se do primeiro ao sexto número, de janeiro de 1981 a setembro de 1982.
Merece menção especial, nesse período, uma consultoria realizada com Rainer Randolph, em 1986, para a ANPUR/CNPQ/BNH/ FINEP/CNDU, que se consubstanciou no relatório "Balanço Quantitativo da Produção Técnico-Científica em Planejamento Regional, Urbano e Habitacional”(78) , que contribuiu para delimitar as áreas de interesse da ANPUR e da ANTAC(79). Este balanço foi apresentado(80) na mesa de abertura do 1º Encontro Nacional da ANPUR, em que igualmente participei com Ana Clara Torres Ribeiro como relatora do grupo de trabalho de Planejamento Urbano(81). A esta seguiram-se outras participações como pesquisadora colaboradora em pesquisas já mencionadas, que contribuíram para diferentes olhares e enfoques sobre questões relativas à urbanização(82), à questão urbano-ambiental(83) , que influíram na minha pesquisa de doutoramento (1990-1995) e depois se desdobraram em apresentações de trabalhos, em publicações(84) e em projetos de pesquisa por mim coordenados, a partir de 1997, com fomento do CNPq.
A tese teve por suporte teórico-conceitual a reflexão sobre o espaço, urbano e a urbanização, considerando as limitações impostas pelo desenvolvimento do capitalismo, na fase da acumulação flexível, à reprodução ampliada especializada do capital e do trabalho, que se expressam na distribuição e localização espacial da população e das atividades produtivas e nos esforços para maximizar as respectivas mobilidades espaciais, em diferentes escalas articuladas. A tese aponta para uma tendência crescente à diferenciação e complexificação da rede urbana fluminense, com a especialização dos lugares. Tais processos vieram a confirmar, ainda que parcialmente dada a desatualização dos dados econômicos, que a disseminação no território de relações espaciais e sociais de produção de caráter urbano tendem a conferir ao urbano uma amplitude territorial, que transcende aquilo que percebemos como "perímetro urbano"(85). O urbano poderia, assim, ser considerado não-simultaneamente tanto o lugar da reprodução das relações de produção, referentes aos bens e meios de produção, quanto o lugar da reprodução da força de trabalho. A difusão destas e de novas formas de organização do espaço colocaram "na ordem do dia" a reflexão da constituição de novas formas de regionalização do território e da sociedade, a partir da conformação de distintos níveis de redes de interações entre lugares diversos. E, tornavam perceptível uma modificação no perfil contemporâneo da urbanização brasileira, questão que perpassa o meu universo de preocupações até o presente.
Um olhar retrospectivo às pesquisas que desenvolvi nos últimos vinte e cinco anos, permite distinguir três grandes eixos de preocupação: um primeiro direcionado a reflexão da urbanização, enquanto um processo de estruturação do espaço; um segundo dedicado a uma reflexão teórico-conceitual das obras de Lefebvre, e ao debate em torno da produção social do espaço e do cotidiano; e, um terceiro relacionado à questão socioambiental, para apreender a nova qualidade da urbanização, em razão de sua dispersão, em um esforço para resgatar a visão holística da Geografia a partir da compreensão de que não há mais como tratar da urbanização sem considerar a questão ambiental. A esses eixos, mais recentemente, se soma uma retomada da reflexão sobre o Estado capitalista e o caráter da financeirização do espaço, que se junta ao segundo eixo enquanto base para a reflexão sobre a urbanização e a questão ambiental intrínseca à produção social do espaço. Esses eixos se entrelaçam, se desenvolvem em paralelo, se complementam, se alimentam entre si e ao longo de minha trajetória ganham diferentes ênfases, em que uns permanecem subjacentes aos outros, como explicito a seguir.
No âmbito do primeiro eixo, até 2005, se alternam projetos seja com um enfoque relacionado à dinâmica demográfica, sob a ótica da lógica da reprodução social da força de trabalho, seja com uma abordagem, relacionada à dinâmica econômica sob a lógica da reprodução dos meios de produção e do capital. Nesse eixo concentra-se boa parte de meu esforço de pesquisa e contei com a valiosa interlocução e apoio de Arlete Moysés Rodrigues, Doralice Satyro Maia, Heloisa Costa, Jan Bitoun, Maria da Encarnação Spósito, Sandra Lencioni, entre muitos outros docentes e pesquisadores preeminentes da área.
A reflexão relativa ao 2º eixo se desenvolve em paralelo aos projetos de pesquisa, no âmbito das atividades do Grupo de Estudos Cidade, Espaço e Lugar (GECEL-CNPq); da organização ininterrupta, nos últimos vinte anos, de sessões livres nos Encontros Nacionais da ANPUR, que propiciaram a interlocução e colaboração profícua, direta e indireta, com pesquisadores de diversas instituições, com destaque para Amélia Luísa Damiani, Ana Fani Alessandri Carlos, Geraldo Magela Costa, Ivaldo Lima, Orlando Alves dos Santos Júnior, Rainer Randolph e Roberto Luís Monte-Mór, entre muitos outros. Essa cooperação resultou na produção de artigos, capítulos de livros, bem como na organização de uma coletânea com reflexões sobre as contribuições da obra de Lefebvre(86).
Na tese privilegio o primeiro eixo conjugado ao segundo eixo, enquanto que os projetos de pesquisa subsequentes se consubstanciaram em publicações e deram ênfase ao enfoque econômico, às redes sociais e informacionais e ao papel das tecnologias de informação e comunicação na organização do espaço(87). Esse interesse pelas tecnologias de informação teve por base as proposições de Milton Santos(88) relativas à conformação de novas redes e emergência de novas formas de regionalização em virtude das verticalidades propiciadas pelo meio técnico científico informacional.
A abordagem das tecnologias de informação levou a uma retomada do contato com Susana Finquelievich. E, de 1998 a 2005, realizei diversas missões de intercâmbio, com interações com o Instituto Gino Germani da Universidad de Buenos Aires, com a Universidad de Quilmes, com a rede Montevideo de investigadores e a uma participação na Red de Posgrados sobre Desarollo y Politicas Territoriales y Urbanas de los Países del Cono Sur(89).
Em paralelo, aprofundei as pesquisas relativas à dinâmica econômica do Sul Fluminense. Após 2006, o objeto de referência amplia-se. Passei a considerar, então, outras áreas do estado do Rio de Janeiro(90) , o que contribuiu para confirmar algumas hipóteses relativas à crescente tendência de dispersão espacial da população e das atividades produtivas fora da malha urbana consolidada(91). Entre as atividades desenvolvidas entre 2003 e 2005, destaca-se o Seminário Brasil Século XXI: agentes, processos e escalas, que deu origem a uma coletânea de mesmo nome organizada por mim, Rogério Haesbaert e Ruy Moreira no âmbito do projeto do “Indústria Fluminense, Desigualdade Espacial e Economia Globalizada ”, o qual teve seguimento com o Projeto “Dinâmicas Espaciais e Regionalização no Sudeste Brasileiro”.
Após 2006, começo a efetivamente articular o primeiro e o segundo eixo, com a incorporação, ainda que, de forma subjacente da questão ambiental (3º eixo). No âmbito do 1º eixo tendo por foco a problemática da urbanização e da produção do espaço colaborei, como consultora eventual nos encontros da Rede de Cidades Médias (RECIME), coordenada por Maria da Encarnação Beltrão Spósito, com a Rede Brasileira de Cidades Médias (RBCM) coordenada por Marcos Costa Lima (IFCH-UFPE); havendo participado da pesquisa interinstitucional coordenada por Nestor Goulart Reis Filho (FAUUSP) (2006-2010). Essas cooperações resultaram em diversas apresentações de trabalho, publicações em periódicos e capítulos de livros(92).
A articulação entre as preocupações relativas à urbanização (1º eixo) e a produção social do espaço (2º eixo) resultou em algumas publicações(93) expressivas para mim. Essa reflexão se expressou nas investigações subsequentes relativas a urbanização, a relação urbano-rural, ao papel das grandes corporações e do Estado no processo de urbanização, o que me conduziu à discussão da financeirização do espaço social e as questões relativas à neoliberalização, que me permitiu articular à discussão anterior a reflexão relativa ao terceiro eixo, e ao caráter estratégico que assume a totalidade do espaço para a acumulação de capital na contemporaneidade.
O terceiro eixo desenvolve-se de forma subjacente aos dois primeiros, havendo resultado em uma produção substancial(94) com participações e apresentação de trabalhos em eventos nacionais e internacionais, bem como em publicações em periódicos nacionais e internacionais sobre o controverso tema da sustentabilidade ambiental e às limitações da regulação legal, contando com poucos interlocutores. Nos últimos anos tenho buscado articular este eixo com o primeiro eixo da urbanização, que se explicita em alguns trabalhos(95) relacionados ao impacto da expansão das atividades de turismo receptivo de porte internacional em áreas de preservação permanente e de proteção ambiental, com apresentações de trabalho em eventos nacionais, internacionais e com a publicação de artigos.
Nesse interim, cabe menção ao pós-doutorado em Geografia Humana na Universidad de Barcelona, de 2005 a 2006, que contribuiu para a mudança de tom, de abordagem e de escala de análise e de reflexão. Esse estágio colocou-me em contato com diversos docentes de Geografia Humana da Universidad de Barcelona e de outras universidades catalãs, viabilizando um rico intercâmbio de ideias e de experiências. Durante o pós-doutorado, Horacio Capel me instigou a articular a reflexão teórica com acontecimentos e fatos contemporâneos correntes, bem como a adotar uma escrita mais solta e irreverente. Desse encontro entre dois desconhecidos, proporcionado por Ivaldo Lima um colega do Departamento de Geografia, resultou uma amizade duradoura e uma colaboração continua desde então. Destaca-se, entre os trabalhos publicados no decorrer do pós-doutorado(96) o artigo Paris em Chamas, que conquistou o III Prêmio Milton Santos da ANPUR, e foi publicado no 3º volume dos “Dialogues in Urban and Regional Planning”(97).
A partir de 2006 há uma gradual mudança na escala de abrangência geográfica da reflexão na investigação e produção acadêmica, que se inicia com o interior fluminense e o território do estado do Rio de Janeiro, para após 2009, passar a enfocar o Brasil e pontos selecionados do território fora das áreas metropolitanas, embora, se detenha sobre estas de modo a proceder a uma diferenciação entre áreas metropolitanas e áreas de urbanização dispersa, que tendencialmente conformam arquipélagos urbanos. Para tanto, contribuiu sobremaneira a interlocução com Ana Fani Carlos, Maria da Encarnação Spósito, Sandra Lencioni, Roberto Monte-Mór e Ruy Moreira.
A mudança de escala de abrangência geográfica constituiu mais um passo na construção do objeto de reflexão: a urbanização, enquanto um esforço de compreensão da produção do espaço social. Construção que perpassa as várias fases e projetos de pesquisa, que demandou a aproximação de casos, por assim dizer, paradigmáticos. Essa mudança foi um meio de contornar as limitações impostas pelo estudo de um ou outro caso particular, tomando como referência de análise casos diversificados para gerar um quadro referencial mais complexo. Isso demandou, também, uma mudança da escala de reflexão, uma vez que entram em pauta outros processos mais gerais, que articulam o local ao global, ao mesmo tempo em que o papel do Estado, das corporações e dos grandes atores globais se faz mais presente.
Em consequência, isso me levou a retomar e atualizar a reflexão sobre o Estado capitalista, que permaneceu subjacente, adormecida, desde o final da década de 1980, quando ingressei no doutorado da FAUUSP. Essa retomada da reflexão do Estado, veio acompanhada por uma discussão sobre as teorias do desenvolvimento, sobre o novo desenvolvimentismo e seu papel no planejamento. Resgatei, assim, as contribuições subsequentes ao Estado, o Poder e o Socialismo de Poulantzas, à L’Etat de Lefebvre, a que se somam as leituras das obras de Jessop, Brenner e Peck, entre outros autores.
A retomada do papel do Estado e do planejamento na organização do espaço brasileiro teve por base um intenso acúmulo de leituras desde o mestrado, havendo resultado em publicações e participações em mesas-redondas em eventos nacionais e internacionais(98), que buscam conjugar a interação Estado-planejamento e a produção do espaço social. Esforço em que se insere o grupo de trabalho da ANPEGE Planejamento, Gestão e Produção do Espaço, que conta com Heloisa Costa, Adriana Bernardes, Cesar Simoni Santos, Paola Verri Santana e Tadeu Alencar Arrais.
Essa constelação de fatores contribuiu para a inserção da reflexão do papel do Estado e do planejamento na urbanização, de modo a alcançar uma compreensão e esboçar um quadro inicial das tendências recentes da urbanização brasileira a partir de uma perspectiva crítica. Perspectiva que não se esgota, seja em razão de sua complexidade, seja por unir e possibilitar a convergência dos vários eixos de preocupações de pesquisa assinalados, que se expressam em diferentes momentos de meu percurso acadêmico e intelectual.
A necessidade de rigor teórico e conceitual nesse sentido foi fundamental, ainda mais, considerando que, aparentemente, ao menos ao nível técnico e político-administrativo tudo se tornou metropolitano, sem efetivamente o ser. Soma-se a isso a preocupação com a relação rural-urbano, com as mudanças nas relações de centralidade, seja como elemento diferencial, seja com base no aprofundamento da divisão territorial e social do trabalho. Há que se considerar nas mudanças nas relações de centralidade e na organização territorial do espaço urbano o papel dos rearranjos políticos e espaciais, os quais evidentemente não se dão por si só, mas através das articulações entre diferentes agentes econômicos e o Estado, em particular o BNDES, enquanto agente financiador das ações de diversos agentes corporativos em diferentes escalas na última década e, em particular, das grandes empreiteiras. Isso vai ao encontro da ideia de Ribeiro e Dias(99) que ressaltam a necessidade de se “ (...) reconhecer, em qualquer escala, a existência de campos (ainda que frágeis) de poder, agentes econômicos e atores políticos que contribuem, com mais ou menos intensidade, para estabilizar ou desconstruir a própria escala que sustentou a sua emergência e/ou afirmação”. Salientam ainda que se multiplicam os processos em rede com a composição de “novos contextos de relações societárias” e a construção de arenas políticas, ainda que que efêmeras, que se contrapõem à ideia de uma totalidade homogênea inelutável, em que tudo estaria dado e pré-definido. A questão é que não só o espaço emerge como fator estratégico, mas a escala assume um novo significado. E isto se evidencia em minhas pesquisas, uma vez que os processos analisados apontam para a ação de atores sociais e de agentes econômicos e políticos em diferentes escalas e esferas de reprodução social. E, é nesse contexto, que se insere a preocupação agora com o Estado capitalista, com o planejamento e a organização do espaço, com foco no processo de urbanização.
Voltei, assim, à discussão do Estado, a partir de uma perspectiva, mais complexa, em que se insere a discussão da produção social do espaço e da urbanização, vis a vis ao papel de grandes agentes corporativos. Em uma tentativa de inter-relacionar os três grandes eixos de preocupações assinalados. O esforço de síntese tinha por norte geral e mais amplo procurar compreender de forma mais abrangente as tendências recentes da urbanização brasileira de modos a alcançar elementos que permitissem pensar em novas formas de regular e controlar a ocupação desenfreada do território e seus impactos sobre o meio ambiente(100). Antes de ser concluída a investigação sobre os novos destinos urbanos e o papel das corporações na configuração da urbanização, esta foi, de certa forma, atropelada pelo desenrolar dos acontecimentos e pela mudança da conjuntura política e econômica nacional, que já se desenhava ao fim de 2015, um indicativo de que, aparentemente, me encontrava em um rumo acertado.
A crise política que se abateu, em 2015-2016, sobre o país e envolveu as grandes empreiteiras colocou em um segundo plano as questões relativas à formação de aglomerados urbanos associados a grandes projetos e evidenciou a necessidade de se refletir sobre o caráter do Estado capitalista nesta fase neoliberal, e sobre a natureza da neoliberalização do espaço enquanto uma política de Estado.
O subsequente impedimento da presidente Dilma Roussef e deslanchamento da crise econômica evidenciaram que vivemos um momento de incertezas e de mudanças. Mudanças políticas e econômicas que mexem com as várias dimensões e esferas da vida social. E, que a um só tempo revelaram as fragilidades e puseram em xeque as instituições democráticas, com a destruição de conquistas sociais seculares e a dilapidação dos recursos naturais. Esses acontecimentos revelaram imbricações e articulações espúrias, em diferentes escalas e esferas, que puseram a nu a promiscuidade, que já se desenhava, entre diversos capitais nacionais e internacionais com o aparelho de Estado.
Destarte, ainda na perspectiva de entender a urbanização enquanto um processo de produção estruturante da organização social do espaço, que orientou nossas investigações nos últimos anos, pareceu-me imperativo, em razão das mudanças na conjuntura política e econômica, avançar e ampliar o olhar para pensar as especificidades da produção neoliberal do espaço na contemporaneidade e o papel desempenhado, contraditoriamente, pelo Estado.
Essa segunda década do segundo milênio encerra-se em um momento de inflexão política e econômica, marcado por uma reversão de políticas sociais, mudança das prioridades de investimentos e retomada radical de ideários e postulados neoliberais, que privilegiam as elites, mantém a dominação social dos trabalhadores, com a ampliação da pobreza e crescente redução das possibilidades de mobilidade social. A crise que o país atravessa é reveladora, pois obriga os setores hegemônicos a se rearticular em diferentes escalas, pondo a nu alianças e coalisões entre os setores público e privado. No corolário dessa mudança de rumos, alterou-se a inserção do Brasil no cenário mundial. As relações Norte-Sul passaram a ser priorizadas, com a subordinação dos interesses nacionais às potências hegemônicas, em detrimento das relações Sul-Sul. Essa reflexão, igualmente resultou em publicações sobre a urbanização em escala regional (101) e em ensaios que articulam os três eixos com a inserção de questões relativas ao papel da utopia e a alternativas possíveis, à sustentabilidade, ao comum urbano, a decolonialidade e interculturalidade no âmbito da financeirização do espaço e da perspectiva de construção de uma sociedade mais equânime(102).
E, PARA ENCERRAR: TRILHO CAMINHOS, SEM SABER O DESTINO
Ao finalizar essa memória, percebo a incompletude dos caminhos trilhados até aqui, os quais abrem diversos destinos possíveis. Já dizia Fernando Pessoa: “navegar é preciso, viver, não é preciso”. A vida não é exata, nem precisa, ao contrário da navegação, e sua beleza reside exatamente nessa imprecisão. A inquietação, o desejo de entender e de compreender o que ocorre para pensar, para contribuir com possibilidades de mudança social na perspectiva de construção de uma sociedade mais equânime, de cidades para os cidadãos permanecem vivas.
O impacto civilizatório do capitalismo contribuiu para um aprofundamento das diferenças, para uma cisão em termos de distribuição espacial da riqueza, do saber e das condições de vida da população. Padecemos de uma modernização incompleta, que nos faz parecer a Bélgica e a Índia ao mesmo tempo. Ou como diriam Gil e Caetano em uma de suas músicas, o Haiti é aqui.
Encerro com algumas palavras de Milton Santos “de um ponto de vista das ideias, a questão central reside no encontro do caminho que vai do imediatismo às questões finalísticas. De um ponto de vista da ação, o problema é superar as soluções imediatistas, eleitoreiras, lobistas, e buscar remédios estruturais duradouros”(103).
E, nessa perspectiva cabe buscar conciliar diferentes visões, encontrar novos patamares de entendimento, trilhar novos caminhos com o horizonte de avançar rumo a uma sociedade mais equânime.
NOTAS
1- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
2 - LEFEBVRE, H. O direito à cidade. São Paulo: Documentos, 1969.
3 - ASCHER, F. Los nuevos principios del Urbanismo. Madrid: Alianza, 2007, p. 42.
4 - Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica.
5 - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior.
6 - PIAGET, J. Problemas gerais da investigação interdisciplinar e mecanismos comuns. Lisboa: Bertrand, 1973: e estabelece que a multidisciplinaridade consistiria em adotar a partir de uma disciplina elementos de outras disciplinas, que se mantém estanques entre si; a interdisciplinaridade compreenderia o diálogo, interação e troca de conhecimentos entre diferentes disciplinas, a partir de uma base metodológica comum; ao passo que a transdisciplinaridade consistiria em uma abordagem que atravessa diversos campos disciplinares com foco em um objeto comum e, por vezes, com a formação do que poderia se caracterizar de uma meta-disciplina
7 - Comando de Caça aos Comunistas, organização paramilitar armada de direita.
8 - Palestra “Para pensar a identidade social”, Mesa redonda: “Sujeitos sociais e identidades na Amazônia” no Encontro da Sociedade Brasileira de Sociologia, 2010.
9 - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
10 - União Estadual dos Estudantes.
11 - União Nacional dos Estudantes
12 - Faculdade de Filosofia e Letras Ciências Humanas.
13 - LIMONAD, E. Situação Atual da Habitação Popular no Brasil. São Paulo, Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Mackenzie, 1977.
14 - LIMONAD, E.; ECKSCHMIDT, G. Elementos para a Análise da Intervenção do Estado no Setor de Auto construção. São Paulo, Monografia Especialização. URPLAN PUCSP,1978.
15 - I PND – Plano Nacional de Desenvolvimento implementado durante o governo do presidente general Emilio Médici.
16 - Centro Brasileiro de Análise e Planejamento
17 - LIMONAD, E. A Trajetória da Participação Social, Rio de Janeiro, Dissertação de Mestrado, Programa de Enge¬nharia de Produção / COPPE - UFRJ, 1984 .
18 - Entre outras atividades o grupo de políticas urbanas colaborou para a realização do debate sobre o Anteprojeto de Lei promovido pelo Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro e pelo PUR / UFRJ, realizado em 17/08/82 no Instituto dos Arquitetos do Brasil, Seção Rio de Janeiro; elaborou o artigo "Uma lei para cidades sem pobres", publicado no "Jornal do Comércio" do Rio de Janeiro em 01 e 02 de agosto de 1982 (cópia no Dossiê - vide item 4) e organizou a jornada de política habitacional com a Prof. Lata Chaterjee da Boston University em 16 de agosto de 1982.
19 - LIMONAD, E.; BARBOSA, E.F. (org.) Dossiê - Anteprojeto de Lei do Desenvolvimento Urbano, Rio de Janeiro, Publicações PUR/UFRJ, série documentação no 4,1983.
20 - Ciclo de Palestras sobre Pesquisa Científica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, promovido pela Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ.
21 - O Problemático Relacionamento entre Partidos Políticos e Ativismos de Bairro" de Marcelo José Lopes de Souza, 1988. Ações Integradas de Saúde: Um direito de todos?" de Glória Regina Ma¬noel, 1988. Revolta Popular e Política Habitacional no início do século no Rio de Ja¬neiro" de Marcus Vinicius Gomes Silva, 1988.
22 - Curso de Extensão Universitária " Técnicas Avançadas de Programação de Micro-Computadores em Linguagem Basic" no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na área de Computação.
23 - Essa bolsa se destinou ao desenvolvimento da monografia "Revolta Popular e Política Habitacional no início do século no Rio de Janeiro" de meu orientando Marcus Vinicius Gomes Silva do curso de especialização lato sensu em "Sociologia Urbana" da UERJ.
24 - Instituto de Economia Industrial da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
25 - LIMONAD, E. El Sector Informal y la Calidad de Vida en las MegaCiudades In: Seminario Sector Informal: Cooperacion y Participacion en la Solucion de Problemas Urbanos, 1988, Rio de Janeiro: ENHAP - USAID - IEI- UFRJ, 1988. v.I. p.1 – 29.
26 - RANDOLPH, R. - Impactos de Projetos Turísticos na ilha Grande, Município de Angra dos Reis. Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e IPPUR/UFRJ, 1992.
27 - RANDOLPH, R., LIMONAD, E. Abraão´s Vila Inhabitants Conditions of Life. In: First Symposium Multimedia for Architecture and Urban Design, 1994, São Paulo - SP: FAUUSP, 1994. p.19 – 26.
28 - RANDOLPH, R.; LIMONAD, E. Sustentabilidade dos pequenos produtores em Área de Tombamento (Mata Atlântica - RJ) In: FÓRUM GLOBAL - RIO 92, 1992, Rio de Janeiro. Fórum Global - Rio 92. Rio de Janeiro: Forum das ONGs, 1992. v. I. p.25 – 27.
29 - LACOSTE, Y. La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre. Paris: Maspero, Petite Collection Maspero n° 165, 1982.
30 - LIMONAD, E. Os lugares da urbanização: o caso do interior fluminense. São Paulo. Tese de doutoramento, Universidade de São Paulo, 1996.
31 - Com destaque para HARVEY, D. La Geografia de la acumulacion capitalista: una reconstrucción de la teoría marxista. In GARCIA, M.D. (ed.) La Geografía Regional Anglosajona. Bellaterra: Universidad Antonina de Barcelona, 1978. HARVEY, D. O trabalho, o capital e o conflito de classes em torno do ambiente construído nas sociedades capitalistas avançadas. In Espaço & Debates. ano II, no 6, jun-set (6-35), 1982. HARVEY, D. The Geopolitics of Capitalism. In GREGORY, D. & URRY, J. (ed.), Social Relations and Spatial Structures. London, McMillan, Cambridge, 1985.
32 - SANTOS, M. Espaço e Método. São Paulo, Nobel, 1985. SANTOS, M. Modernidade, meio técnico-científico e urbanização no Brasil. In Cadernos do IPPUR, UFRJ. Rio de Janeiro, IPPUR/UFRJ, ano I, nº 1 (9-22), 1987. SANTOS, M. Involução Metropolitana e Economia Segmentada. In RIBEIRO, A.C.T. e MACHADO, D.P. (org.), Metropolização e Rede Urbana. Rio de Janeiro, UFRJ/IPPUR, 1990. SANTOS, M. Metamorfoses do Espaço Habitado. São Paulo, Hucitec, 1991. SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. São Paulo, Hucitec, 1993. SANTOS, M. Técnica, Espaço, Tempo. São Paulo, Hucitec, 1994.
33 - SOJA, E. Geografias Pós-modernas. Rio de Janeiro: Zahar, 1993.
34 - SOJA (1993) e LEFEBVRE, H. The Production of Space. London. Blackwell, 1991.
35 - Op.cit. várias.
36 - SANTOS, M. A Natureza do Espaço. São Paulo: Loyola, 1996.
37 - MARX, K. O Capital. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975.
38 - HARVEY, D. Para entender o Capital. São Paulo. Boitempo, 2013.
39 - Universidade Federal do Paraná.
40 - Universidade Estadual Paulista – Campus de Presidente Prudente.
41 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
42 - Open Journal System.
43 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Faculdade de Formação de Professores.
44 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
45 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
46 - Universidade Federal de Viçosa.
47 - Universidade Federal do Acre.
48 - Mestrado (Luiz Felipe Oliveira e Letícia Maria Badaró de Carvalho), Doutorado (Luiz Augusto Soares Mendes e Renato Domingues Fialho Martins) e TCC (Juliane dos Santos Lira e Daniel Alves Colaço).
49 - Programa de Doutorado Interinstitucional – fomento CAPES.
50 - Universidade Estadual do Norte Fluminense – Campos, com a inserção de quatro docentes como doutorandos no Programa de Pós-graduação em Geografia.
51 - Universidade Estadual do Norte Fluminense – Campos, com a inserção de quatro docentes como doutorandos no Programa de Pós-graduação em Geografia.
52 - Universidade Federal de Mato Grosso.
53 - Universidade Federal do Pará.
54 - Universidade do Estado do Ceará.
55 - Universidade Estadual de Campinas.
56 - Conselho Regional de Economia do Pará
57 - Geografia da População, Geografia Econômica, Geografia Urbana, Geografia Humana I, Geografia Aplicada ao Planejamento I e II, Geo-História e Planejamento Territorial, Tópicos Especiais de Geografia Regional, Estágio Curricular I, II, III, IV, além de haver criado e ministrado a disciplina optativa Novas Relações de Trabalho e Reestruturação do Espaço. Colaborei dando aulas nas disciplinas de Metodologia Científica, Estudo de Impactos Ambientais, Técnicas de Pesquisa e Geografia do Rio de Janeiro, entre outras.
58 - Ruy Moreira, Rogério Haesbaert, Carlos Walter Porto Gonçalves, Jorge Luiz Barbosa, Jacob Binsztok, Carlos Alberto Franco da Silva e outros.
59 - Aldo Paviani, Ana Fani Carlos, Amélia Damiani, Antônio Robert de Moraes, Arlete Moyses Rodrigues, Armando Correa de Andrade, Bertha Becker, Claudio Egler, Eliseu Spósito, Fany Davidovich, Iná Elias de Castro, Jan Bitoun, José Borzachiello, Leila Christina Dias, Manoel Correia de Andrade, Maria Adélia de Souza, Maria da Encarnação Beltrão Spósito, Maurício de Almeida Abreu, Michel Rochefort, Milton Santos, Odete Seabra, Pedro Geiger, Roberto Lobato Correa, Sandra Lencioni e muitos outros mais.
60 - Horacio Capel, Paul Claval, Derek Gregory, David Harvey, Doreen Massey, Alan Pred, Claude Raffestin, Edward Soja, Neil Smith, Peter Taylor, Pierre Veltz, entre muitos outros.
61 - Com destaque para as obras de Humboldt, Lablache, Ratzel, Reclus, Ritter, e de outros mais recentes como Lacoste, Kayser, George, Dolfuss, entre muitos outros.
62 - O propósito desse projeto era identificar e analisar a distribuição espacial das grandes e médias empresas no Sul Fluminense vis a vis às suas articulações em diversas escalas e suas interpenetrações financeiras, privilegiando atores globais ligados ao projeto do Porto de Sepetiba, com destaque para o setor siderúrgico e de mineração.
63 - HAESBAERT, Rogério, LIMONAD, E. O território em tempos de globalização. Etc (UFF), v.1, p.39 - 52, 2007.
HAESBAERT, R., LIMONAD, E. O território em tempos de globalização. Geo UERJ, v.5, p.7 - 19, 1999.
64 - Associação dos Geógrafos Brasileiros.
65 - Associação Nacional de Pesquisa e Graduação em Geografia
66 - Conselho Latino Americano de Ciências Sociais.
67 - Coleção ANPUR 2011-2013: Por uma Sociologia do Presente, Política Governamental e Ação Social, Desafios ao Planejamento, Leituras da Cidade, A Festa e a Cidade, A parceria público-privada na política urbana recente, Um novo planejamento para um novo Brasil, publicados pela editora Letra Capital.
68 - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
69 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
70 - Universidade de Santa Cruz (Rio Grande do Sul).
71 - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará.
72 - LIMONAD, E. CASTRO, E. (org.) Por um novo planejamento para um novo Brasil? Rio de Janeiro: Letra Capital, 2014.
73 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais.
74 - Associação Brasileira de Estudos Populacionais.
75 - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
76 - Estágios realizados.
- URPLAN, na PUC-SP, onde participei na pesquisa "Modelos de Participação Comunitária “coordenada por Maria da Glória Gohn (1977-1978);
- UNICEF e SMDS-RJ no projeto piloto "Propostas para a Ação nas Favelas Cariocas", implementado na favela da Rocinha, sob a coordenação de Ana Maria Brasileiro e da equipe do UNICEF (1979-1980).
- IUPERJ-RJ onde participei da pesquisa "Clientelismo Político e Associações de Favelas" coordenada por Eli Diniz e pela SMDS-RJ (1980-1981).
77 - LIMONAD, E. Um subsídio ao debate sobre a ação do Estado em favelas: Rio de Janeiro - 1980. Espaço & Debates, v.I, p.157 - 180, 1981.
78 - RANDOLPH, R. LIMONAD, E. Balanço Quantitativo da Produção Técnico-Cientifica em Planejamento Regional, Urbano e Habi¬tacional (1980/86), Friburgo/Rio de Janeiro: ANPUR- CNPQ, FINEP, CNDU, BNH,1986.
79 - Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído.
80 - RANDOLPH, R.; LIMONAD, E. Síntese do Balanço Quantitativo da Produção Técnico-Cientifica em Planejamento Regional, Urbano e Habi¬tacional (1980/86). In: Encontro de Trabalho: Mudanças Sociais no Brasil e a Contribuição da Ciência e Tecnologia para o Planejamento Regional, Urbano e Habitacional, 1986, Nova Friburgo. Anais do I Encontro Nacional da ANPUR. Rio de Janeiro: ANPUR/IPPUR/FINEP/CNPq, 1986. v.I.
81 - RIBEIRO, A. C. T., LIMONAD, E. O Planejamento Urbano In: Encontro de Trabalho: Mudanças Sociais no Brasil e a Contribuição da Ciência e Tecnologia para o Planejamento Regional, Urbano e Habitacional, 1986, Nova Friburgo. Anais do I Encontro Nacional da ANPUR. Rio de Janeiro: ANPUR/IPPUR/FINEP/CNPq, 1986. v.I. p.15 – 18.
82 - Mega Cities Project (1988-1989) do IEI-UFRJ e o PADCT-UFRJ "Utilização de Sistema de Informações Geográficas na Avaliação Tecnológico Ambiental de Processos Produtivos" (1993).
83 - "Impactos de Projetos Turísticos na Ilha Grande, Município de Angra dos Reis" no IPPUR-UFRJ (1992).
84 - LIMONAD, E. Entre a Urbanização e a Sub-Urbanização do Território In: XI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 2005, Salvador. Planejamento, Soberania e Solidariedade: perspectivas para o território e a cidade. Salvador: UFBA/ANPUR, 2005. v.1. p.1 – 18.
LIMONAD, E. Breves considerações sobre a fragmentação da personalidade do espaço urbano em tempos de globalização In: Milton Santos - Cidadania e Globalização. Bauru: AGB /Saraiva, 2000.
LIMONAD, E. Das hierarquias urbanas à cooperação entre lugares In: VIII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 1999, Porto Alegre. Anais do VIII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Porto Alegre: UFRGS, 1999. v.1. p.CD-ROM
LIMONAD, E. Reflexões sobre o espaço, o urbano e a urbanização. GEOgraphia (UFF), v.I, p.71 - 91, 1999.
LIMONAD, E. A urbanização do território: o caso do interior fluminense. Revista Fluminense de Geografia, v.I, p.19 - 27, 1998.
LIMONAD, E. Cidades: do Lugar ao Território In: V Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 1998, Campinas. Campinas - SP: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 1998. p.181 – 182
LIMONAD, E. Hierarquia urbana x multipolaridade de lugares In: Simpósio Multidisciplinar Internacional: O pensamento de Milton Santos e a construção da cidadania, 1997, Bauru.
LIMONAD, E. Novas redes urbanas? In: VII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 1997, Recife. Novos recortes territoriais, novos sujeitos sociais: desafios do planejamento. Recife - PE: ANPUR, 1997. v.3. p.2121 - 2145
85 - LEFEBVRE, H, vários op.cit.
86 - LIMONAD, E., MONTE-MÓR, R. L. M. Por el derecho a la ciudad, entre lo rural y lo urbano. Scripta Nova (Barcelona), v.16, p.25 - , 2012.
LIMONAD, E., MONTE-MÓR, R. L. M. Por el derecho a la ciudad, entre el rural y el urbano In: Colóquio internacional de Geocrítica, 2012, Bogotá. Independencias y construcción de estados nacionales. Barcelona: Geocrítica, 2012. v.XVI.
LIMONAD, E., BARBOSA, J.L. Entre o ideal e o real rumo a sociedade urbana - algumas considerações sobre o Estatuto da Cidade?. Geousp, v.13, p.87 - 106, 2003.
LIMONAD, E., BARBOSA, J.L. Estatuto da cidade: uma lei para cidades sem pobres ? In: X Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 2003, Belo Horizonte. Encruzilhadas do Planejamento: Repensando Teorias e Práticas. Belo Horizonte: IGC-UFMG-ANPUR, 2003. v.I. p.1 - 16
LIMONAD, E., LIMA, I. Entre a Ordem Próxima e a Ordem Distante - contribuições a partir da obra de Henri Lefebvre. Rio de Janeiro : GECEL, 2003, v.1. p.103.
LIMONAD, E., LIMA, I. G. Alguns desdobramentos entre o próximo e o distante In: Entre a Ordem Próxima e a Ordem Distante: contribuições a partir do pensamento de Henri Lefebvre. Niterói : Ester Limonad, 2003, v.1, p. 98-103.
LIMONAD, E., LIMA, I. G. Entre a Ordem Próxima e a Ordem Distante, contribuições a partir do pensamento de Lefebvre In: Entre a Ordem Próxima e a Ordem Distante: contribuições a partir do pensamento de Henri Lerfebvre. Niterói : Ester Limonad, 2003, v.1, p. 15-33.
LIMONAD, E. Espaço e Tempo na Arquitetura e Urbanismo: algumas questões de método In: VII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 2002, Salvador. Historiografia da Cidade e do Urbanismo - Balanço da Produção Recente e Desafios Atuais. Salvador: ANPUR-UFBA, 2002. v.1. p.1 – 25.
RANDOLPH, R., LIMONAD, E. Cidade, lugar e representação: sua crise e apropriação ideológica num mundo de 'urbanização generalizada'. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR), v.5, p.11 - 24, 2001.
LIMONAD, E., RANDOLPH, R. Cidade, Lugar e Representação, sua crise e apropriação ideológica em um mundo de urbanização generalizada In: VI Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 2000 CdRom
87 - LIMONAD, E. Desarrollo local, la cuestión regional, las nuevas tecnologías, algunos puntos para reflexión In: V Coloquio sobre Transformaciones Territoriales, 2004, La Plata - Argentina. Nuevas Visiones en el inicio del Siglo XXI. Montevideo - Uruguay: Asociación de Universidades Grupo Montevideo, 2004. v.1. p.1 – 16.
LIMONAD, E., RANDOLPH, R. port@l.eletrônico.gov: considerações sobre a interação Sociedade-Estado . GEOgraphia (UFF), v.I, p.53 - 42, 2002.
LIMONAD, E., RANDOLPH, R. servicios_ y_ ciudadanía _en_líne@.gov: - una reflexión sobre la interacción Estado - Sociedad a través de la Internet In: .gov - gobierno electrónico en el Mercosur. Barcelona: Quaderns Digitals, 2002. p. 20-67.
LIMONAD, E., RANDOLPH, R. e-governo e digital divide: reflexões sobre o fortalecimento da interação entre sociedade e Estado através das redes telemáticas In: Anais do XIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas). Guatemala: Universidad de San Carlos, 2001. v.1. p.28 - 29.
LIMONAD, E. Towards new kinds of regionalization and urbanization In: Abstracts of the 42nd Annual Conference of the Associate Schools of Planning. Atlanta - Georgia: University of Georgia, 2000. p.68.
LIMONAD, E. Entre Redes e Sistemas In: II Workshop sobre Redes, 2000, Rio de Janeiro. Redes Sociais, Territoriais e Informacionais. Rio de Janeiro: IPPUR-UFRJ e Programa de Pós-Graduação em Geografia - UFF, 2000. v.I. p.8 – 11
LIMONAD, E. Impactos Sócio-Espaciais das Inovações Tecnológicas In: Caderno de Resumos del XXI Congreso de la Asociación Latinoameriacana de Sociologia. La Concepción: ALAS - Universidad de La Concepción, 1999. v.1. p.67 - 67
LIMONAD, E. Nuevas tendencias de la urbanización en tiempos de otra revolucion industrial. Boletin de Riadel, p.9, 1999.
LIMONAD, E. Nuevas tendencias de la urbanizacion en tiempos de otra revolucion industrial In: Seminario de Investigacion Urbana, 1998, Buenos Aires. El Nuevo Milenio y lo Urbano. Buenos Aires - Argentina: Universidad de Buenos Aires, 1998. v.I. p.21.
RANDOLPH, R., LIMONAD, E. Digital Cities: Telecities, Cidades em Redes: Rumo a uma nova co-operação urbana ? In: II Jornadas Internacionales: Ciudad y Redes Informáticas, 1998, Quilmes - Argentina. La ciudad en.Red.ada. Quilmes - Argentina: Universidad Nacional de Quilmes, 1998. v.1. p.12 - 12
LIMONAD, E. Telecommunications and new trends of urbanization in non-metropolitan areas. In: Telecom. & the City conference, 1998.
88 - SANTOS, M. A Natureza do Espaço. São Paulo: Loyola, 1996.
89 - LIMONAD, E., MOREIRA, Ruy, BARBOSA, Jorge Luiz, HAESBAERT, Rogério, Perfil do Programa de Pós-Graduação em Geografia In: III Encuentro de Posgrados sobre Desarollo y Políticas Territoriales y Urbanas de los Países del Cono Sur, 2000, Bahia Blanca. Perfil de los Posgrados sobre Desarollo y Políticas Territoriales y Urbanas de los Países del Cono Sur. Bahia Blanca: Universidad Nacional del Sur, 2000. v.I. p.25 - 35
90 - Essa fase tem relação com o projeto de pesquisa desenvolvido de 2006-2010 Urbanização Dispersa: uma nova forma de desenvolvimento urbano? Estudos de caso no estado do Rio de Janeiro.
91 - LIMONAD, E. Alguns apontamentos sobre a urbanização dispersa no Estado do Rio de Janeiro In: REIS Fº, N.G. e TANAKA, M.S. (org.) Sobre Urbanização Dispersa. São Paulo : Via das Artes, 2009, v.1, p. 114-124.
LIMONAD, E. Rio de Janeiro: uma nova relação capital-interior? In: LIMONAD, E. et al. (org)Brasil Século XX, por uma nova regionalização? agentes, processos e escalas.São Paulo : Max Limonad, 2004, v.1, p. 78-92.
LIMONAD, E. Interiorização x Metropolização - Desenvolvimento do Interior e Involução Metropolitana: o caso do interior do Rio de Janeiro In: A Reestruturação Industrial e Espacial do Estado do Rio de Janeiro. Niterói : PPGEO - UFF GECEL - GERET, 2003, v.1, p. 129-138.
LIMONAD, E. Considerações sobre o novo paradigma do espaço de produção industrial. Ciência Geográfica, v.1, p.1 - 12, 2003.
LIMONAD, E., MONTEIRO, J.C.C.S. Rumo a um novo paradigma da organização do espaço de produção industrial In: XIII Encontro Nacional de Geógrafos, 2002, João Pessoa. Por uma Geografia Nova na Construção do Brasil. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba e Associação dos Geógrafos Brasileiros - Nacional, 2002. v.1. p.207 – 207.
LIMONAD, E. Multipolar urbanisation patterns in south Rio de Janeiro: from competition or cooperation to coopetition In: Polycentric metropolitan regions - new concepts and experiences. Varsóvia : Polish Academy of Sciences - Committee for space economy and regional planning, 2002, v.11, p. 143-158.
LIMONAD, E. Redes Logísticas e Complexos Empresariais no Sul Fluminense In: XII Encontro Nacional da AGB, 2000, Florianópolis. Os outros 500 na formação do território brasileiro. Florianópolis: AGB e UFSC, 2000. v.1. p.125 – 125.
92 - LIMONAD, E. Redes Urbanas, Metropolização e Desenvolvimento Regional no Brasil, 2014. (Conferência II SEDRES).
LIMONAD, E. Recent Trends in Brazilian Urbanization, 2014. (Conferência CEDLA- University of Amsterdam).
BARBOSA, Jorge Luiz, LIMONAD, E. Ordenamento Territorial e Ambiental. Niterói: EDUFF, 2012, v.1.
LIMONAD, E. Brasil! Mostra a tua cara. Breves considerações sobre a urbanização brasileira recente. Revista Internacional de Língua Portuguesa (Pelotas), v.23, p.269 - 283, 2010.
LIMONAD, E. Espaço-Tempo e Urbanização, algumas considerações sobre a urbanização brasileira. Cidades (Presidente Prudente), v.4, p.1 - 15, 2008.
LIMONAD, E. América Latina mais além da urbanização dependente? In: OLIVEIRA, M.P: et al. (org.) Espacialidades Contemporâneas: o Brasil, a América Latina e o Mundo. São Paulo: Lamparina, 2008, v.1, p. 75-93.
LIMONAD, E. Nunca Fomos Tão Metropolitanos! In: REIS, N.G. TANAKAm M.S. (org.) Brasil - Estudos sobre Dispersão Urbana. São Paulo: Via das Artes - FAPESP, 2007, v.1, p. 183-212.
LIMONAD, E. No todo acaba en Los Angeles. ¿Un nuevo paradigma: entre la urbanización concentrada y dispersa?. Biblio 3w (Barcelona), v.XII, p.1 - 18, 2007.
LIMONAD, E. Urbanização dispersa mais uma forma de expansão urbana?. Formação (Presidente Prudente), v.1, p.31 - 45, 2007.
LIMONAD, E. Urbanização e Migrações: contribuições para uma agenda de pesquisas In: 2. Encontro Nacional de Produtores e Consumidores de Informações Sociais Econômicas e Territoriais, 2006, Rio de Janeiro. Anais do 2. Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. v.1.
LIMONAD, E. Nem tudo acaba em Los Angeles In: 52. Congresso Internacional de Americanistas, 2006, Sevilla. Nuevas Dimensiones de la Industria y de lo Urbano en las Metrópolis Latinoamericanas. Universidad de Sevilla, 2006. v.1. p.1 - 21
LIMONAD, E., HAESBAERT, R., MOREIRA, R. Brasil Século XXI, por uma nova regionalização? agentes, processos e escalas. São Paulo: Max Limonad, 2004, v.1. p.212.
LIMONAD, E. Brasil século XXI, regionalizar para que? Para quem? In: LIMONAD, E., HAESBAERT, R., MOREIRA, R. Brasil Século XXI, por uma nova regionalização? agentes, processos e escalas. São Paulo : Max Limonad, 2004, v.1, p. 54-66.
LIMONAD, E. Urbanização e Organização do Espaço na Era dos Fluxos In: Território, territórios.3 ed.Rio de Janeiro : Lamparina, 2007, v.1, p. 15-170.
LIMONAD, E. Urbanização e Organização do Espaço na Era dos Fluxos In: Território, Territórios, ensaios sobre o ordenamento territorial.2 ed.Rio de Janeiro : DP&A, 2006, v.1, p. 147-172.
LIMONAD, E. Urbanização e Organização do Espaço na Era dos Fluxos In: Território territórios.1ª ed.Niterói : Programa de Pós-Graduação em Geografia - UFF e AGB-Niterói, 2002, v.1, p. 69-88.
93 - LIMONAD, E., MONTE-MÓR, R. L. M. Beyond the right to the city: between the rural and the urban. URBIA - Les Cahiers du développement urbain durable, v.17, p.103 - 115, 2015.
LIMONAD, E. COSTA, H. S. M. Cidades excêntricas ou novas periferias? Cidades, v. 12, p. 278-305, 2015.
LIMONAD, E., COSTA, H.S.M. Edgeless and eccentric cities or new peripheries?. Bulletin of Geography. Socio-economic series, v.24, p.117 - 134, 2014.
LIMONAD, E. Uma homenagem a Ana Clara Torres Ribeiro, 2014. (Palestra –UNESP-PP)
LIMONAD, E. Desafios a reflexão sobre a organização do espaço contemporâneo, 2013. (Aula Magna POSGEO-UFPE)
LIMONAD, E., COSTA, H.S.M. Eccentric Centralities: From Center to Periphery and Back. In: AESOP-ACSP Joint Congress, Planning for resilient cities and regions. Dublin: University College of Dublin, 2013.
MONTE-MÓR, R. L. M., LIMONAD, E. O Urbano e o Rural frente à Urbanização da Sociedade In: Expansão metropolitana e transformação das interfaces entre cidade, campo e região na América Latina. São Paulo: Max Limonad, 2011, v.1, p. 202-217.
LIMONAD, E. Regiões Reticulares: algumas considerações metodológicas para a compreensão de novas formas urbanas. Cidades (Presidente Prudente), v.7, p.1 - 15, 2010.
LIMONAD, E., BARBOSA, J.L. Para Além do Rural e do Urbano In: XI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 2005, Salvador. Perspectivas para o território e a cidade. Salvador: ANPUR - UFBA, 2005. v.1. p.1 – 1
94 - LIMONAD, E. A insustentável natureza da sustentabilidade. Cadernos Metrópole (PUCSP), v.15, p.123 - 142, 2013.
LIMONAD, E. A natureza da ambientalização do discurso do planejamento. Scripta Nova (Barcelona), v.14, p.1 - 10, 2010.
LIMONAD, E. A natureza da ambientalização do discurso do planejamento In: Colóquio Internacional de Geocrítica, 2010, Buenos Aires. La planificación territorial y el urbanismo desde el dialogo y la participación, 2010.
LIMONAD, E., ALVES, J. APAS e APPs como instrumento legal de regulação urbano-ambiental? In: IV Encontro Nacional da ANPPAS, 2008, Brasília. Mudanças Ambientais Globais: A contribuição da ANPPAS ao debate. Brasília: ANPPAS, 2008. v.1. p.1 - 20
GARCIA, M. F., LIMONAD, E. Grandes projetos hidrelétricos e desenvolvimento regional - algumas considerações sobre o projeto hidrelétrico do rio Madeira In: IV Encontro Nacional da ANPPAS, 2008, Brasília. Mudanças Ambientais Globais a Contribuição da ANPPAS ao debate. Brasília: ANPPAS, 2008.
LIMONAD, E. Regiões Urbanas e Questão Ambiental In: XVI Encontro Nacional da ABEP, 2008, Caxambu. As Desigualdades Sócio Demográficas e os Direitos Humanos no Brasil. Belo Horizonte: ABEP, 2008.
LIMONAD, E. A natureza da questão ambiental contemporânea. Geografias (UFMG), v.4, p.1 - 25, 2007.
LIMONAD, E. O Fio da Meada: Desafios ao planejamento e à preservação ambiental na Costa dos Coqueiros - Bahia. Scripta Nova (Barcelona), v.10, p.1 - 15, 2007.
LIMONAD, E. O Fio da Meada desafios ao planejamento e à preservação ambiental na Costa dos Coqueiros - Bahia In: IX Colóquio Internacional de Geocrítica, 2007, Porto Alegre.
LIMONAD, E. Questões ambientais e o desenvolvimento local-regional: de volta à Região In: X Encontro de Geógrafos da América Latina, 2005, São Paulo. Por uma Geografia Latino Americana do Labirinto da Solidão ao Espaço da Solidariedade. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2005.
LIMONAD, E., MONTEIRO, J.C.C.S. Reestruturação Produtiva e Desenvolvimento Sustentável In: X Congresso Brasileiro de Geográfos, 2004, GoIânia. Anais do X Congresso Brasileiro de Geógrafos. Goiânia: AGB-Nacional e UFGO, 2004. v.1. p.1 - 11
LIMONAD, E. Questões ambientais contemporâneas, uma contribuição ao debate In: II Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, 2004, Indaiatuba - SP. Anais da II ANPPAS. Campinas: ANPPAS, 2004. v.1. p.1 – 11
LIMONAD, E. Towards an urban environmental planning In: III AESOP-ACSP Joint Congress, 2003, Leuven - Bélgica. The Network Society, the new context for planning. Leuven - Bélgica: University of Leuven, 2003. v.1. p.103 – 103
95 - LIMONAD, E. Na trilha do sol: urbanização e turismo no litoral do Nordeste brasileiro. In: MENDONÇA, J.G; COSTA, H.S.M. (Org.). Estado e capital imobiliário: convergências atuais na produção do espaço urbano brasileiro. Belo Horizonte : C/Arte, 2011, v.1, p. 15-30.
LIMONAD, E. "Você já foi à Bahia, nêga? Não! Então vá! Antes que acabe..." Planejamento, urbanização e turismo no litoral do Nordeste brasileiro. Scripta Nova (Barcelona), v.XII, p.1 - 15, 2008.
LIMONAD, E. "Você já foi a Bahia nêga? Pois então vá! Antes que acabe..." Planejamento, urbanização e turismo no litoral do Nordeste brasileiro, tendências e perspectivas In: X Coloquio Internacional de Geocrítica, 2008, Barcelona. Diez Años de Cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Barcelona: Geocrítica, 2008. v.1. p.1 - 20
LIMONAD, E. Yes, Nós Temos Bananas! Praias, Condomínios Fechados, Resorts e Problemas Sócio-Ambientais. GEOgraphia (UFF), v.8, p.12 - 32, 2007.
LIMONAD, E. Yes, Nós Temos Bananas! Praias, Condomínios Fechados, Resorts e Problemas Sócio-Ambientais In: 12 Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Anais.... Belém: UFPA-ANPUR, 2007. v.1. p.1 – 20.
96 - LIMONAD, E. Identidades na Diferença. Geosul (UFSC), v.21, p.7 - 28, 2006.
LIMONAD, E. Paris em Chamas: Arquitetura ou Revolução. Biblio 3w (Barcelona), v.XI, p.1 - 28, 2006.
LIMONAD, E. Desafios ao Desenvolvimento Local e Regional. GeoInova (Lisboa), v.6, p.12 - 29, 2005.
LIMONAD, E. Desenvolvimento local, a questão regional, as novas tecnologias, alguns pontos para reflexão. Plurais (Anápolis), v.1, p.45 - 58, 2005.
LIMONAD, E. Estranhos no Paraíso de Barcelona. Impressões de uma geógrafa e arquiteta brasileira residente em Barcelona. Biblio 3w (Barcelona), v.X, 2005.
97 - LIMONAD, E. Paris Burns! Architecture or Revolution? In: Tom Harper; Heloisa Soares de Moura Costa, Anthony Yeh. (Org.) Dialogues in Urban and Regional Planning. Florence: Routledge, 2008, v.3
98 - LIMONAD, E. State reform and territorial planning from the military regime towards democracy, 2014. (Palestra University of Leiden)
LIMONAD, E. Planejamento e Políticas Urbanas nos anos 2000 - um aporte crítico, 2014. (Palestra UFSJ)
LIMONAD, E. Brazilian urbanization, the Statute of the City and the right to the city, 2014. (Conferência University of Cardiff).
LIMONAD, E. A falsa transparência do Estado e do planejamento. Workshop: rumo à sociedade urbana. Belo Horizonte: UFMG, 2014 (Comunicação,Apresentação de Trabalho)
LIMONAD, E. Brazil, challenges for a different development, 2014. (Conferência University of Leiden)
LIMONAD, E., CASTRO, E. R. (org.) Um novo planejamento para um novo Brasil?. Rio de Janeiro : Letra Capital, 2014, v.1. p.300.
RIBEIRO, A. C. T., LIMONAD, E., GUSMAO, P. P. (org.) Desafios ao Planejamento. Rio de Janeiro : Letra Capital, 2012, v.1. p.191.
LIMONAD, E. Estado, espaço e escala no Brasil, subsídios para a reflexão. Scripta Nova (Barcelona). v.XVIII, p.1 - 19, 2014.
LIMONAD, E. Em busca do Paraíso: Algumas considerações sobre o desenvolvimento. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR), v.15, p.125 - 138, 2013.
LIMONAD, E., CASTRO, E. R. De uma “Ciência para o Novo Brasil” a “Um novo planejamento para um novo Brasil? In: Ester Limonad; Edna Castro. (Org.) Um novo planejamento para um novo Brasil?. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2014, p. 11-22.
LIMONAD, E. Estado, espaço e escala no Brasil, subsídios para a reflexão In: BONASTRA, Quim; VASCONCELOS JUNIOR, Magno; TAPIA, Maricarmen. (Org.). El control del espacio y los espacios de control. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2014, p. 1-19.
LIMONAD, E. Um novo planejamento ou um novo Estado para um novo Brasil? In: Um novo planejamento para um novo Brasil?. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2014, p. 80-99.
LIMONAD, E. Da política a não política e a ingovernabilidade do território In: Maria Tereza Duarte Paes; Charlei Aparecido da Silva; Lindon Fonseca Matias (org.). Geografias, políticas públicas e dinâmicas territoriais. Dourados : UFGD, 2013, v.1, p. 15-27.
99 - RIIBEIRO, A.C.T.; DIAS, L.C. Escalas de poder e novas formas de gestão urbana e regional. Rio de Janeiro, 9 Encontro Nacional da ANPUR, Anais..., 2001.
100 - Durante esse período participei de eventos, elaborei e retomei trabalhos que se materializaram em diversas publicações relativas aos temas já elencados. a que se somam convites para diversas conferências e cursos nas Universidades de Leiden – Holanda (2014, 2015, 2016, 2017), Universidad Central de Chile (2016), Universidad de Chile (2016), Pontíficia Universidad Católica de Valparaíso (2016), a que se somam convites para participação em eventos em diversas Instituições de Ensino Superior no país.
101 - LIMONAD, E. Una Vez más la Región. Revista Geográfica de Valparaíso v. 54, p. 1-16, 2017.
LIMONAD, E.; BARBOSA, J. L. (Org.). Geografias: Reflexões, Estudos e Leituras. São Paulo: Max Limonad, 2020.
LIMONAD, E. (org.) ETC: espaço, tempo e crítica.... Rio de Janeiro: Letra Capital, 2019.
LIMONAD, E.; MONTE MÓR, R. L. M. O rural e o urbano em uma era de urbanização generalizada. In: MAIA, D. S.; RODRIGUES, A. M.; SILVA, W.R. (Org.). Expansão urbana: despossessão, conflitos, diversidade na produção e consumo do espaço. João Pessoa: Editora da UFPB, 2020, p. 222-253.
LIMONAD, E. Entre as lógicas e as escalas da urbanização. In: LIMONAD, E. (Org.). ETC: espaço, tempo e crítica.... Rio de Janeiro: Letra Capital, 2019, p. 284-306.
LIMONAD, E. Novidades na urbanização brasileira? In: Elias, D.; Pequeno, R. (Org.). Tendências da urbanização brasileira novas dinâmicas de estruturação urbano-regional. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2018, p. 25-58.
LIMONAD, E. Desafios ao Desenvolvimento Local e Regional. In: BARBOSA, J.L.; LIMONAD, E. (Org.). Ordenamento Territorial e Ambiental. 2ed.Rio de Janeiro: Letra Capital, 2016, p. 169-188.
102 - LIMONAD, E. Para pensar a descolonização do cotidiano: desentranhando o desenvolvimento. In: LIMONAD, E.; BARBOSA, J.L. (Org.). Geografias: Reflexões, Estudos e Leituras. São Paulo: Max Limonad, 2020, v. 1, p. 20-40.
LIMONAD, E. Navegar é preciso, viver não é preciso, o que é necessário é criar: Da geopolítica urbana latino-americana aos comuns urbanos, alguns apontamentos. In: BARROS, A.M.L.; ZANOTELLI, C.L.; ALBANI, V. (Org.). Geografia urbana: cidades, revoluções e injustiças entre espaços privados, públicos, direito à cidade e comuns urbanos. Rio de Janeiro: Consequência, 2020, p. 445-464.
LIMONAD, E. Do Político à não-política e a (in)governabilidade do território. Revista Política e Planejamento Regional, v. 7, p. 86-102, 2020.
LIMONAD, E. Que diabos está havendo? Algumas breves considerações sobre a neoliberalização do espaço social. In: CASTRO, E. (Org.). Pensamento crítico latino-americano: reflexões sobre políticas e fronteiras. São Paulo: Annablume, 2019, p. 225-252.
LIMONAD, E. Uma utopia com os pés no chão: algumas considerações sobre práticas espaciais transformadoras. Novos Cadernos Naea, v. 21, p. 79-92, 2018.
LIMONAD, E. Lá se vão trinta anos de ANPUR.... Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 19, p. 219-232, 2017.
LIMONAD, E.; BARBOSA, J. L.? Why don’t we do it in the road? Biblio3w, v. 22, p. 1-22, 2017.
LIMONAD, E. "Amanhã há de ser um outro dia!". Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 18, p. 351-355, 2016.
LIMONAD, E. Crise da Cidade, Crise na Cidade. In: OLIVEIRA, M.P.; GIANELLA, L.C.; MARTINS, F.E. (Org.). Dominação e apropriação na luta por espaço urbano. Rio de Janeiro: Consequência, 2018, p. 1-20.
LIMONAD, E.; MONTE-MÓR, R. L. M.; COSTA, H. S. M. O Brave New World? Considerações sobre experiências presentes para um futuro próximo. In: ZAAR, M.; CAPEL, H. (Org.). Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad post-capitalista. Barcelona: Universidad de Barcelona/Geocrítica, 2018, p. 1-22.
LIMONAD, E. Utopias urbanas, sonhos ou pesadelos? Cortando as cabeças da hidra de Lerna. In: Bencha, N; Zaar, M.H.; Vasconcelos P. Jr, M. (Org.). Las utopías y la construcción de la sociedad del futuro. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2016, p. 1-19.
103 - SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001.
-
 ELISEU SAVERIO SPOSITO
ELISEU SAVERIO SPOSITO AUTOBIOGRAFIA - Eliseu Savério Sposito
Professor Titular aposentado da UNESP, campus de Presidente Prudente (1980-2019)
Professor Visitante na Universidade Federal de Uberlândia, campus do Pontal, Ituiutaba (2019-2020)
NO PRINCÍPIO, PRINCÍPIO ERA
Deixo, neste texto, um depoimento sobre minha vida na Geografia.
Começo buscando algumas lembranças bem distantes no tempo. Antes, bem antes de iniciar minha carreira como geógrafo-docente-pesquisador.
Nasci em uma casa de madeira – que não existe mais – zona rural, próximo ao Córrego Anhumas, no município de Pirapozinho, onde fui batizado, logo depois de 14 de junho de 1950. Os primeiros cinco anos foram soprados, do que me lembro, no km 27 da Estrada Alves de Almeida, naquele tempo coberta de areia e seixos, que liga Pirapozinho e Narandiba. O “27”, como os moradores o chamavam, era um aglomerado rural com uma capela da religião católica, o armazém do “Seu” Prudenciano, uma escola para os quatro primeiros anos letivos, duas ou três casas à beira da estrada e um campo de futebol, mais areia do que gramado, mas lugar de muitos chutes na “bola de capotão”. Minha casa ficava bem na curva da estrada de onde, sentado com meu irmão menor, Élvio, pedia “carona” para os carros que passavam ou mesmo para a “jardineira” (gritando “leva nós!”), hábito abandonado quando um caminhão parou e queria, realmente, dar carona. Imagine o medo que bateu em nós dois, eu com menos de cinco anos de idade.
Na curva da estrada ficava minha casa, que já não existe mais, mas que era ampla o suficiente para abrigar toda a família (já éramos seis) e a professora que lecionava na escola primária local, que também não existe mais (nem ela, nem a professora). Também não existem mais a cancha de bocha e o campo de futebol. O que existe, então, desse tempo? Acredito que apenas lembranças que persistem na memória, já quase apagadas.
Foi nesse lugar em que, saindo para andar no campo arado, a 10 metros de nossa casa, vimos – meu irmão menor e eu – três cachorros virem em nossa direção, crescendo, a gente se sentou na terra fofa, gritando aos prantos, quando um deles abocanhou minha perna direita e dela tirou um pedaço pequeno da carne, que hoje ainda é lembrado pela cicatriz na panturrilha. Ao ouvir os gritos, meu pai saiu correndo, espingarda na mão, dando tiros para espantar os cachorros. A lembrança de três cachorros dando voltas, mais altos que dois pequenos, soltando babas e de dentes arreganhados, ainda volta à lembrança de maneira aterradora.
A área onde estava a casa da família, no Km 27, contavam os mais velhos, foi povoada por bugios, capivaras, jaguatiricas, onças, tamanduás, tatus-galinha... As aves, às vezes, apareciam nas proximidades (algumas, atualmente, ameaçadas de extinção) como jacu, jacutinga, gavião, papagaio, curió, tiê-sangue, sabiá, canário, urutau, corruíra... A riqueza da flora era impressionante: peroba, cabreúva, cedro, ipê (de várias cores), canela... depois de dizimada foi substituída, lentamente, pelo eucalipto. A região era rica em madeira; por isso, ainda há, como testemunha, nas cidades da região de Presidente Prudente, muitas casas com esse material que resistem, de pé, há mais de 70 anos.
Quando fui me alfabetizar, a família mudou-se para Pirapozinho. Isso foi em 1957, quando fui matriculado no primeiro ano do curso primário. Eu tinha seis anos de idade (“primeiro ano, cabeça de pano”). Nossa casa, na rua Rui Barbosa 474, que ficava a 30 metros dos muros da escola, não existe mais, o que possibilitava que minha mãe me levasse o sanduíche (muitas vezes duas fatias de pão caseiro recheadas com açúcar ou com banha de porco) na hora do recreio. Não me lembro da minha primeira professora, mas de uma substituta – Zilda Marafon – porque, nesse ano, as mudanças foram várias. Não tive problemas, mesmo com as mudanças de docentes, em minha alfabetização. Minha professora do terceiro ano, dona Climenes, e o professor do quarto ano (Seu Djalma) ficaram indeléveis na memória. No primeiro e no terceiro anos fiquei com a maior média de toda a classe (no terceiro ano, ganhei um livro com instrumentos musicais de presente) No segundo e no quarto ano, fiquei em segundo lugar. No quarto ano senti-me injustiçado porque eu sabia que tinha “tirado” nota maior, mas a Cristina Mori ficou com os louros.
Comecei o curso ginasial no CELSA (Colégio Estadual Lúcia Silva Assumpção) em 1961. Tinha dez anos de idade. Eu era pequeno perante os “veteranos”, com idades de 12 a 15 anos, que me olhavam de cima para baixo, não me deixavam participar dos jogos de futebol (a não ser como goleiro), mas precisavam de mim para melhorarem suas notas em várias disciplinas.
Dois acontecimentos marcaram minha vida no ginásio. O primeiro foi editar, com os recursos da época, a revista “O Repórter Mirim”, junto com meu amigo, que hoje vive no Japão, Vergílio do Espírito Santo. Foram vários números entre 1962 e 1963. Infelizmente não tenho, aqui, nenhum exemplar para mostrar. Como eu já desenhava bem, fazia todas as ilustrações da revistinha e, com uma velha máquina de escrever Remington, datilografava cuidadosamente as páginas; feita a capa, pintada com lápis de cor, o grampeador dava o acabamento final. O segundo acontecimento que destaco foi a influência de meu professor de geografia, Rodolfo Horle, que me incentivou a fazer o curso de Geografia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente (a FAFI, onde entrei em 1971, que atualmente é o campus de Presidente Prudente da UNESP).
Tive professores fracos de Matemática e Latim, mas professores entusiasmados de História (Dona Ivanice), Francês (Dona Rosário), Desenho (Dona Hilda), Língua Portuguesa (Achelon), além do de Geografia. Fiz muitos desenhos com tinta guache em cartolina nas aulas de desenho, e mais tarde com o Cilinho, desenhista autodidata, que tivera paralisia infantil, mas dominava com maestria o lápis e o pincel.
Vez ou outra podia, depois de pedir insistentemente dinheiro para meu pai, assistir a algum filme no Cine Vera Cruz (1), do Sr. Mourão, que era lembrado com assobios e palavrões toda vez que o filme arrebentava, o que era muito comum. Naquele tempo não se falava em ar condicionado e, mesmo assim, assistir às “matinês” (não sei por que, sempre no período da tarde), para torcer para o mocinho contra o bandido. Roy Rogers era o preferido, mas havia outros cowboys que “faziam a cabeça” da garotada. As lições, no final dos filmes, era de que o bem sempre vence e que o crime não compensa. Depois vieram os documentários de futebol do Canal 100, com jogos das equipes cariocas, enaltecendo o Maracanã e destacando os “arquibaldos e geraldinos” (aqueles que ficavam nas arquibancadas e na geral – parte de baixo dos degraus do estádio onde todos ficavam de pé). O cine Vera Cruz também não existe mais. A esquina está lá, com outra função. A destruição criadora esteve presente na minha vida desde o início.
Nesse tempo, minhas férias eram dias de alegria no sítio do Palope (cognome de meu pai, que mesmo tendo o sobrenome Sposito, ficou com uma corruptela do nome de sua mãe, minha avó, Rosa Palopoli). Foi lá que ouvi muitas histórias, contos e “causos” (contados pelo Baiano ou por meu avô, Quim Bié – de Joaquim Gabriel da Fonseca), foi lá que via o saci girando nos redemoinhos, que chupava manga nos mais altos galhos da árvore, que plantava abacaxis para saciar minha vontade por vitamina C, que trabalhei no arado com o Sereno (cavalo baio e arisco), o Preto (cavalo manso que sabia o caminho de volta para casa) e a Girafa (mula branca e alta, de difícil manejo), que vi muitos “camaradas”, nordestinos ou japoneses, ararem a terra e colherem batata, café e banana. Andava “de pé no chão”, ora na areia quente do meio-dia de janeiro, ora no frio orvalho da manhã em julho, depois de alguma geada qualquer. Meu avô, que na realidade era apenas o companheiro de minha avó (porque o pai de meu pai havia voltado para a Itália e lá falecera, muitos anos antes), gostava de falar de suas andanças por trem pela “Paulista Velha” (estrada de ferro que passava por Jaboticabal, Olímpia, Catanduva etc), desfilando corretamente o “rosário” de cidades, em sua ordem no sentido capital-interior, e falar os números e os nomes do jogo do bicho, que ele entendia muito bem. Antes de dormir, o “programa” era deitar na areia, na frente da casa, ver estrelas e ouvir os “causos” do Baiano, um preto de meia idade, que também não existe mais, que contava, entre muitos, a história do “Reino dos Corpos sem Alma”, e falava de suas andanças pelas cidades da “Paulista Nova”, entre Marília e Flórida Paulista.
Lá pela metade da década de 1960 eu já ouvia Chico Buarque, Beatles, o pessoal da Jovem Guarda ou da Tropicália e muita música sertaneja. Vivi os anos sessenta entre meus dez e vinte anos de idade. Não é preciso ficar repetindo o impacto do golpe militar de 1964 que teve, mesmo no longínquo Oeste Paulista.
Minha avó, em um forno a lenha, cozinhava a comida mais gostosa do mundo, a omelete (fritada, para nós) cujo aroma guardei por muito tempo na memória olfativa, e derretia a banha que depois conservava os alimentos e servia para untar as panelas. A pamonha e o curau, comida obrigatória na época da colheita do milho; as mangas eram de fim de ano; as bananas “davam” o ano inteiro; a jaboticaba pretejava os troncos uma vez por ano, e por aí ia a vida, fluindo sem contar os dias que precisavam correr para as crianças crescerem. As férias no sítio foram obrigatórias, trabalhando ou não, até meus dezoito anos.
Meu pai vendeu o sítio em 1978; minha avó faleceu em 1984, minha mãe em 2007 e meu pai em 2009. Muito do que marcou minha vida pode ser lembrado ou visto em uma ou outra fotografia. Aí me lembro do filme “Avalon”, no qual o principal personagem, ao constatar que suas casas não existiam mais, fica na dúvida se ele mesmo existia ou existira.
De posse de um diploma da Escola Normal de Pirapozinho, tornei-me “professor primário”, disse para meu pai que não trabalharia mais na roça. Assim, em 1969, com meus dezoito anos cumpridos, comecei a lecionar em uma escola rural, que também não existe mais, que tinha as “turmas” em quatro filas, uma para cada um dos anos. Tive que trabalhar com quatro séries ao mesmo tempo. Não sei se hoje teria a habilidade para isso, mas naquele tempo, de idade próxima às dos alunos, pude interagir sem problemas com eles por três meses. Eu ia a pé, da cidade à escola, por três quilômetros, de manhã, por volta de 7h e voltava ao meio dia, muitas vezes com alguma prenda que uma ou outra aluna trazia para o professor. Quinze minutos antes da “hora do recreio” escalava três alunas ou alunos que iam fazer o leite que acompanharia a merenda que a turma tinha trazido de casa. Um barril de leite em pó ficava num pequeno reservado, ao lado da sala de aula, fruto do programa Aliança para o Progresso, forma de investimento na alimentação de alunos das escolas primárias, resultado de acordo entre Brasil e Estados Unidos, na época da guerra fria, cujo intuito era soltar algumas migalhas para que as pessoas não caíssem “no conto do comunismo”. Depois, fui “assinar ponto” no grupo escolar em que me alfabetizei para melhorar minha possibilidade de assumir aulas no ano seguinte. Tinha que ficar na escola das 8h às 10h para uma eventual substituição. Eu era o único homem dos “substitutos”. Não tinha muita conversa porque as colegas, que já tinham televisão em casa, ficavam o tempo todo falando das novelas da TV Tupi (As pupilas do senhor reitor; Nino, o italianinho) ou de um seriado (Penélope). Aproveitei e li o que podia na biblioteca da escola. Aí tomei conhecimento de livros como Moby Dick, A ilha do tesouro, As viagens de Gulliver, As aventuras de Tom Sawyer, Viagem à Lua, entre tantos outros – alguns livros que se tornaram filmes, que eu vi nessa época ou mais tarde. Enfim, grande parte da literatura juvenil passou por meus olhos em 1969. Enquanto eu lia clássicos da literatura juvenil, muitos gibis e fazia meu Curso Normal em Pirapozinho, alguns alunos da antiga FFCLPP (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente) esconderam-se por causa da repressão militar, outros fugiram, e dois ou três simplesmente desapareceram. Aqueles que foram apanhados, apanharam.
Enquanto a repressão militar já mostrava suas garras e seus dentes, eu me formava professor primário (P-I, como se falava na época) no colégio das freiras. Meus professores eram, principalmente, jovens egressos da FFCLPP, dos cursos de Ciências Sociais e Pedagogia. Todos idealistas, entusiastas. Lembro-me de Leny, Nilcéia, Júnia, Neuzinha... e da madre Olga, tão simpática mas tão pequena que quase cabia na palma da mão.
Nesse tempo, participei do TLC (Treinamento de Líderes Cristãos), movimento carismático ligado à Igreja Católica, originário da Espanha, que foi me mostrando, aos poucos, a necessidade que algumas pessoas têm de crescer e aparecer às custas de outras. A canção-símbolo desse movimento, De colores, hoje ecoa em minha cabeça entoada pela belíssima cantora greco-francesa Nana Mouskouri (“De colores / se visten los campos en la primavera / de colores / son los pajaritos que vienen de afuera / de colores es el arco-iris que vemos lucir / y por eso, los grandes amores, de muchos colores / me gustan a mi”). Fiz retiro no seminário de Presidente Prudente, ouvi muitos conselhos (felizmente segui poucos), cantei, com os outros, Na tonga da mironga do kabuletê, Tarde em Itapoã. Havia muito cinismo no ar... Eu já havia me desiludido com a Igreja Católica quatro anos antes quando observei, em Pirapozinho, que os mais fervorosos religiosos eram aqueles cuja moral era questionada na cidade.
Foi nesse tempo que vi Paulo Autran declamar “As mãos de Eurídice” e o Coral Santo Inácio de Loyola encenar “Morte e vida severina” (“esta cova em que estás / com palmos medida / é a terra que querias / ver dividida; não é cova grande / nem larga nem funda / é a parte que te cabe / deste latifúndio...”). A revolta com a repressão, a busca de justiça social, de liberdade individual, já estavam presentes no meu cotidiano escolar.
Fizemos (2) passeata quando quiseram (nem sei mais quem “quiseram”) “tirar” o padre Diógenes do Curso Normal porque ele era adepto e entusiasta da Escola de Summerhill, surgida na Inglaterra (condado de Suffolk) em 1921, que pregava a liberdade total no processo de ensino-aprendizagem em termos democráticos, apoiando-se em pedagogias alternativas segundo as quais a criança deve ter liberdade para escolher e decidir o que aprender de acordo com seu próprio ritmo. O padre, logicamente, foi taxado até de comunista sem, no entanto, acredito, nem saber quem foi Karl Marx.
Alguns adeptos da autoajuda já faziam suas palestras contra a insatisfação crescente, principalmente entre os estudantes, com a repressão que vinha de fora e de dentro das famílias. Os ecos dos anos sessenta estavam, finalmente, chegando na nossa terra e mostrando suas garras, colando-se em algumas pessoas. As canções de protesto continuavam importantes nas nossas rodinhas de domingo à noite, na Praça da Matriz, quando se buscava entender as mensagens, algumas cifradas, que seus compositores queriam “passar” para as pessoas.
O Brasil que se urbanizava foi palco para a criação da bossa nova (o jazz brasileiro, para o resto do mundo), a partir da batida sincopada do samba de João Gilberto, alimentada pelo romantismo de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Na onda do rock’n’roll, a Jovem Guarda, comandada por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderléa cantava a tristeza e a ingenuidade da juventude. Mas essa mesma juventude vai se encantar também com as canções de protesto e com a tropicália. A tropicália, que notabilizou os baianos (Caetano, Gil, Gal e Bethânia), trouxe como novidade a introdução dos metais e do som elétrico à música popular brasileira. Essa prática vai se consolidar com os trios elétricos baianos. Uma outra característica da tropicália foi procurar aproximar, musicalmente, os países latinoamericanos, cantando seus costumes e fragmentos de sua história.
As canções de protesto podem ser identificadas por: 1) ter letras engajadas politicamente, elaboradas por compositores que explicitavam sua posição política, mesmo que não fossem filiados a partidos políticos; 2) tratar dos temas considerados sociais, desde os costumes, a migração, a cidade, a pobreza, a propriedade da terra, a América Latina etc.; 3) ter como alvo, preferencialmente, o regime político vigente (a ditadura militar que governou o Brasil entre 1964 e 1985).
Eu também fui um garoto que amou muito os Beatles, The Ventures, Bob Dylan e Elvis Presley e amou pouco os Rolling Stones. Não tenho nenhuma medalha de guerra no peito (3), mas um coração que bate nos ritmos das canções dessa turma e dos filmes assistidos no Cine Vera Cruz, que se tornou apenas um nome enfraquecido na memória.
Nas horas de inspiração que vinha não sei de onde, motivado pelas canções de protesto, pela Jovem Guarda e pelos Beatles, já compunha algumas canções que foram gravadas somente em 2011, 2018, 2019 ou 2020, nos discos “Cenário”, “Meu canto geral’, “Viver no campo” e “Samba, bossa nova e algo mais,” disponíveis no Spotify.
Todas essas tendências marcaram bastante a minha vida. Hoje, os CDs que tenho e que guardo com carinho, trazem gravadas, junto com minhas lembranças, as canções que eles e elas fizeram para mim.
Voltando ao que falava antes, no ano seguinte, ministrei aulas no período da manhã, na Escola Estadual de Primeiro Grau Maria José Barbosa Castro, para a turma do quarto ano. Naquele tempo, ser professor era uma honra e dependia muito dos méritos de cada um. No horário do recreio, lia quando podia ou conversava com o “servente da escola”, José Tomé Sobrinho, meu amigo por muito tempo, até seu falecimento não sei quando. Pude ver o Brasil tricampeão, com vários primos, no velho sofá de courvin, na TV Colorado, em branco e preto, comprada com meu salário. O percurso para a escola era feito diariamente e eu passava em frente ao CELSA (escola onde fiz o ginasial), quando compus minha canção “Se a memória não me falha” (que está no CD “Cenário”), pois cruzava, todos os dias, com uma moça que nunca mais vi. Para ganhar alguma coisa mais, fiz a seleção e trabalhei na aplicação dos questionários do Censo Demográfico de 1970, na zona rural, ao norte de Pirapozinho, no Bairro do Km 25, na estrada para Presidente Prudente.
Cursar Geografia estava no meu horizonte desde o segundo grau, como já afirmei, quando acompanhava as aulas de Geografia, mesmo que o professor se limitasse aos mapas coloridos, aos fatos mais banais e à descrição dos territórios. Não havia, ainda, em meus sonhos futuros, nada que apontasse para o trabalho na Universidade; a palavra pesquisa ainda não estava escrita em meu glossário do cotidiano nem em minhas aspirações profissionais.
A GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA, COMEÇO DO TEMPO NÃO IMAGINADO
Em 1971 iniciei efetivamente o curso na FFCLPP. Em agosto, fiz concurso para desenhista e fui aprovado. Passei a trabalhar e estudar na mesma faculdade. Trabalhava de manhã e à noite, seguia o curso à tarde. O curso era seriado e se alternava, de ano a ano, entre os períodos da manhã e da tarde. As disciplinas duravam o ano todo. A partir daí, já não viajava os vinte quilômetros que separavam Pirapozinho de Presidente Prudente diariamente, mas mudei-me para a Pensão Portuguesa, na Rua Dr. Gurgel, onde dividia quarto com um outro jovem do qual só me resta vaga lembrança.
Agora já estou falando da faculdade. Durante o curso de Geografia, alguns acontecimentos merecem ser lembrados porque tiveram seu papel em minha vida acadêmica. Participar, desde o primeiro ano, das “excursões” foi uma agradável novidade. Conhecer, ainda em construção, as usinas hidrelétricas Capivara e Ilha Solteira; fazer entrevistas e aplicar questionários em Ribeirão Preto, Piracicaba, Mococa; percorrer os três planaltos do Paraná, desde Londrina até Paranaguá; ter a aula de campo no barranco da SP-270, no município de Maracaí para conhecer os folhelhos; visitar Pedrinhas e outros tantos lugares que se apresentavam como diferentes paisagens para o início da leitura geográfica que, aos poucos, foi se tornando familiar.
As aulas de Cartografia e Topografia, aos sábados, ministradas por Marcos Alegre, com o ambiente da descontração e da prática constante do desenho; as aulas de Geografia Econômica, com as provocações teóricas, já nessa época, do Armen Mamigonian; as aulas eruditas de Antropologia Cultural, com Max Henri Boudin, que aprovava todo mundo com nota máxima e não fazia chamada, mas que, para os poucos que permaneciam, eram momentos especiais para a descoberta de novas palavras; a racionalidade da Idade Média e do Renascimento pelo Dióres Santos Abreu que, lendo seu jornal e não vendo meus colegas “colarem”, sabendo que eu havia obtido a maior nota na primeira prova, na segunda, ao ver minha nota 4,0, apenas comentou que eu “dormira sobre os louros”.
As aulas de campo de Geologia, com o José Martín Suárez (Pepe), sempre com seu “martelito” e escalando vertentes, eram incompreensíveis para todos os que viam naquilo apenas mais uma observação de barrancos; a dureza e seriedade da Ruth Kunzli, na Antropologia Física, medindo nossos crânios e narizes, classificando nosso sangue (desde aquele tempo eu sei que sou O+) e reprovando a maioria da classe; a Climatologia, do Hideo Sudo, e a dificuldade para fazer os exercícios de balanço hídrico; a história da Terra, com o Alvanir de Figueiredo, e o desenho das eras geológicas num rolo de papel higiênico, para mostrar a insignificância do quaternário em apenas um centímetro de papel.
Como desenhista da FFCLPP, pude organizar gráficos e cartogramas das teses de muitos professores. Esse testemunho está presente na bibliografia produzida na faculdade, com as teses de geógrafos como José Ferrari Leite, Márcio Antonio Teixeira, Dióres Santos Abreu, Armando Garms, Hideo Sudo, e de professores de outros cursos como Thereza Marini, Wilson de Faria, Maria de Lourdes Ferreira Lins, José Arana Varela...
Em 1972, quando se realizou em Presidente Prudente o I Encontro Nacional de Geógrafos, elaborei todos os cartogramas do Guia de Excursões publicado pela AGB e fiquei de plantão para as eventualidades do acontecimento, como fazer cartazes, cartogramas e avisos de última hora. Por causa disso, não acompanhei todos os trabalhos que se desenvolveram no Anfiteatro I, mas pude ver que o tema predominante discutido foram os grandes projetos do governo militar (rodovia transamazônica, grandes hidrelétricas), mesmo que estivesse emergindo, claramente, o embate metodológico e ideológico entre a geografia neopositivista e a marxista. Assim, a “administração” estudantil da academia já tinha a minha contribuição.
Enquanto graduando da Geografia, fui presidente do Centro de Estudos Pierre Deffontaines. Durante a gestão, foi importante a realização de cursos de extensão, com as presenças de Juergen Langenbuch, Amália Inés de Lemos, entre outros. Nessas ocasiões, os professores que vinham de fora expunham suas ideias e, aos poucos, os estudantes de Geografia foram vendo que não havia somente uma tendência geográfica ou apenas um centro de referência, que era a Universidade de São Paulo.
Durante o ano de 1974 eu monitorei as aulas práticas de Topografia, quando os alunos, manuseando os velhos teodolitos, faziam as anotações nas suas pranchetas, durante um ano, para completar a poligonal do terreno onde estava a então FAFI. Num sábado de novembro, a Carminha se aborreceu com as colegas que não anotaram os ângulos e a diferença altimétrica da mira (régua graduada que auxiliava nas medições verticais). Como eu era o responsável pelo acompanhamento das aulas, fui, no final daquele sábado, à sua casa para me desculpar por não ter verificado o trabalho das colegas. Ela chegava, com a família, da feira. Depois dessa conversa, combinamos uma saída para o dia 21 de novembro. Aí começou o romance que já dura 46 anos. Durante esse tempo aconteceram tantas coisas boas que a minha memória (humana, e não RAM ou ROM) não conseguiu registrar em sua maioria.
Em 1975, já formado, participei, durante todo o ano, de um curso de especialização intitulado “O Extremo Oeste Paulista”, quando pude ver mais de perto e em detalhes, o território do hoje Pontal do Paranapanema. Ainda não havia os sem-terra. O algodão, que sucedera o café, já havia se esgotado e as pastagens se espalhavam por toda a área. A experiência de colonização da Fazenda Rebojo mostrava sinais de fracasso. A imensidão das quase planas pastagens do município de Sandovalina, a nascente cidade de Rosana, com poucas casas e roças em suas quadras, eram exemplos que ainda hoje têm sua presença na área.
Enquanto desenhista da FFCLPP eu tinha, na sala de trabalho, amplo espaço para, juntamente com outros colegas (lembro do Mauro Bragato, deputado estadual por São Paulo desde 1978, do Macarrão, do Donaton, eles alunos e de professores como Carlos Tartaglia), principalmente das Ciências Sociais, passar algumas noites, ao lado da caneta de nanquim e da máquina de escrever elétrica IBM, com esfera (grande novidade naquele momento), montando os números de Carcará, cujo cognome era pega, mata e come (nome que eu criei), nosso jornal estudantil que, inspirado nos semanários Opinião e Movimento, expunha as nossas versões dos fatos que mais tocavam nossas preocupações.
Essas atividades “clandestinas” quase me custaram o emprego. Fiquei sabendo, muitos anos depois que, em reunião da congregação da FFCLPP, lá pelos idos de 1975, mais ou menos, foi colocada, em pauta, minha demissão “a bem do serviço público”, porque eu fazia jornais estudantis, durante a madrugada, em minha sala de trabalho. Havia, sim, uma pedra no caminho. Felizmente, só vim a saber dessa caça muito tempo mais tarde.
Esse ano foi bem movimentado. Curso de especialização, quase demissão... também foi minha primeira experiência como candidato a uma vaga na faculdade, na área de Cartografia. Recém formado, não tinha qualquer expectativa. Compuseram a banca Gil Sodero de Toledo e Manuel Seabra, da USP, além de Marcos Alegre, “da casa”. Segundo Gil, ambos queriam “apostar” em mim porque eu tinha habilidades com mapas e, com vinte e cinco anos, teria ainda muito tempo para a profissão. A Congregação (naquele tempo não havia o concurso nos moldes atuais, pois era uma entrevista a partir do currículo do candidato que dava as informações para a banca tomar suas decisões) optou por contratar um mestrando da USP, que se constituiu num dos maiores fracassos docentes do Departamento de Geografia.
Nesse ano, houve outro acontecimento importante para a minha vida. Esteve em Prudente, apresentando sua tese, defendida no ano anterior, Armando Corrêa da Silva. Por sugestão de Armen Mamigonian, conversei com ele para ver se eu seria recebido para uma entrevista porque eu pleitearia uma vaga no mestrado da USP. Ele foi atencioso e, mesmo não se lembrando de mim, um ano depois, quando fui me apresentar, selecionou-me com mais outros seis candidatos, entre doze. Daqueles sete mestrandos, apenas eu e Amélia Damiani concluímos a dissertação.
Em 1977, seis meses antes de meu casamento, tive que enfrentar uma encruzilhada tríplice. Teria que me mudar para São Paulo para continuar o mestrado. Solicitara, à FFCLPP, afastamento por dois dias da semana, com horário especial de trabalho. Havia prestado concurso na Caixa Econômica Federal, com mais uns 50.000 candidatos. E havia sido contemplado com uma bolsa da FAPESP. O que fazer? Por qual saída optar? Para desespero de meu futuro sogro, optei pela bolsa da FAPESP. Ele queria que eu optasse pelo emprego na Caixa Federal, mais garantido e com salário equivalente ao dobro do valor da bolsa.
Fui ao prédio da Caixa, na Praça da Sé, assinar minha desistência da vaga para que um outro candidato pudesse usufruir o emprego. É inesquecível o desespero da funcionária que não queria me deixar assinar o papel da demissão, dizendo que eu iria me arrepender, que eu “desse uma voltinha”, “pensasse um pouco mais”... Depois de meia hora perambulando pela praça, eu, que fora para a sede da Caixa com a decisão tomada, ficara indeciso pela atitude de uma outra pessoa. Voltei imediatamente, assinei a demissão, deixando a funcionária ainda de olhos arregalados, dei meia volta, desci as escadas e nunca mais voltei àquele prédio. Junto com aquele papel de desistência, ficou um futuro que eu nunca conheci, do que não me arrependo.
MESTRADO, DOUTORADO
A matriz que todos seguiam, predominantemente, para se elaborar dissertações e teses, era a estrutura das monografias regionais, baseadas na Geografia Regional francesa. Primeiramente, descreviam-se os aspectos físicos da área estudada, em seguida eram abordados os aspectos demográficos para, finalmente, se descrever os aspectos econômicos. Na conclusão, tentava-se, nem sempre se conseguindo, “amarrar” essas três partes, geralmente enfocadas separadamente.
Essa era uma característica da produção do conhecimento geográfico de então. A outra, era escolher um tema da área de origem ou onde habitava o mestrando ou doutorando. Esse problema também a mim se apresentou. E a escolha caiu, claro, em duas pequenas cidades do Oeste de São Paulo, ainda conhecida regionalmente como Alta Sorocabana. As cidades foram Pirapozinho (sede do município onde nasci), situada a vinte quilômetros ao sul, e Álvares Machado, a dez quilômetros a oeste de Presidente Prudente.
O outro problema foi escolher a base teórica. Repetir as descrições da população, do comércio ou da zona rural dos municípios não agradava nem a mim, nem ao orientador. Mas ainda ressoavam os ecos do êxodo rural e a evidenciação, na escala regional, dos trabalhadores boias-frias. Decidiu-se, então, estudar o movimento da população das duas pequenas cidades. Como? Medindo e descrevendo a perda de população? Aí a pergunta se inverteu: ao invés de estudar por que as pessoas migram, resolvemos, eu e o orientador, tomar a decisão de eu estudar por que elas permanecem em suas cidades.
Mais uma pergunta compareceu: quais as teorias que poderiam, inicialmente, direcionar as investigações. A decisão também não foi fácil. Depois de algumas conversas, resolvi investigar como as pessoas percebiam seu espaço e, a partir daí, tentar buscar as explicações do porquê elas se fixavam no seu território, evitando se deslocar temporária ou definitivamente. A opção foi pela teoria de campo de Kurt Lewin, cuja contribuição na Psicologia Gestaltista privilegiava, com seu conceito de espaço vital (4), a posição do indivíduo em relação às formas (residência, bairro, rua, cidade, por exemplo) de seu espaço vivido. Da Geografia da Percepção afastei-me, posteriormente, completamente, por absoluta falta de interlocução com as pessoas que adotaram essa tendência como temática. Por ser, a teoria de campo de Kurt Lewin de caráter estruturalista, ela se adequou, em grande parte, à outra teoria à qual recorri para compreender o espaço urbano de Pirapozinho e Álvares Machado: os dois circuitos da economia urbana que, elaborada por Milton Santos nos anos 1970, havia chegado recentemente ao Brasil, em seu livro “O espaço dividido”, de 1978.
Entre essas decisões e a defesa, casei-me com a Carminha, em 4 de fevereiro de 1978. Na véspera, eu desci do ônibus da Andorinha, na estação rodoviária de Presidente Prudente e contei a ela que havia esquecido num táxi, em São Paulo, minha carteira com os três mil cruzeiros que eu havia recebido pela rescisão de meu contrato (equivalentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) enquanto desenhista da UNESP, que serviriam para os primeiros meses seguintes.
Era carnaval e o nosso casamento foi uma festa só. Desde a cerimônia na Igreja de Santa Rita de Cássia, em Presidente Prudente, até a festa no Centro do Professorado Paulista. Das palavras do padre, não me lembro nada. O registro de tudo foi feito em câmera super 8... Lembro Lupicínio: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa, quando começa a pensar...
À meia noite, nós dois partimos, em um velho ônibus da Andorinha. Em São Paulo, passamos os três dias de lua de mel no Hotel Piratininga, lá perto da Estação Júlio Prestes. Na terça-feira de carnaval fomos buscar a minha carteira na casa do taxista que, felizmente, comunicou-se deixando seu endereço. Estava tudo certinho: documentos e dinheiro. Como agradecimento, demos um terço do dinheiro para o honesto taxista porque sua casa, na Freguesia do Ó, era realmente precária.
Alguns dias depois, tomei um ônibus da Real Expresso para Ijuí, para ministrar aulas concentradas para professores leigos, na FIDENE, atualmente UNIJUÍ, que se tornou importante ponto de apoio para nossas excursões geográficas com alunos de graduação, nos anos seguintes. Nessa universidade trabalhei até 1980, indo duas vezes ao ano, nos períodos de férias. Lá também trabalhavam os amigos Dirce Suertegaray, Helena e Jaeme Callai.
No dia 20 de julho de 1980, fomos contratados, Carminha e eu, pela UNESP, campus de Presidente Prudente, naquele tempo IPEA – Instituto de Planejamento e Estudos Ambientais. No início do ano, depois de um capítulo conturbado (demissão de Armen Mamigonian, transferência de quatro outros professores para a UNESP de Rio Claro), foram abertas cinco vagas para concurso. Com meu currículo, naquele momento mestrando na USP, consegui a primeira colocação, quando também foi escolhida Alice Asari (que depois se transferiu para a UEL, onde se aposentou) e, em seguida, a Carminha. As outras duas vagas foram preenchidas logo depois.
Em 20 de agosto de 1981, nasceu o Caio. Com cara brava. Primogênito. Nasceu por meio de cesariana, por impaciência do pediatra. No berçário, era a alegria dos avós porque foi o primeiro neto do lado dos Beltrão. Caio demorou para falar mas, quando o fez, já articulava bem as frases. Uma característica sua é inesquecível: ele conjugava os verbos como no italiano: eu ‘tavo, eu querio... Quando eu perguntava a ele: “Topas?”, ele respondia: “Topos!” Cabelos loiros, foi chamado por sua primeira professora de “príncipe”. Na França, passou pela escola de estrangeiros, conhecendo jovens de vários países. Aprendeu bem o francês, o que o ajudou no vestibular da UNESP, pois fez Desenho Industrial em Bauru.
Voltando um pouco ao tema da pós-graduação, o resgate da história do Oeste Paulista, a aplicação de questionários e a interpretação dos dados à luz das duas teorias adotadas, foram as atividades predominantes na elaboração da minha dissertação de mestrado, defendida na Universidade de São Paulo, em 19 de maio de 1984.
A defesa que contou, na banca, com os professores Pasquale Petrone e Marcos Alegre (presidida por meu orientador, Armando Corrêa da Silva), transcorreu tranquilamente, se se considerar o que ocorrera nos seis meses anteriores. Em setembro de 1983, a dissertação estava pronta. Nesse mês, o orientador teve um surto e foi internado em um hospital psiquiátrico, onde permaneceu por aproximadamente três meses. Resolvi não entregar a dissertação à Seção de Pós-graduação da FFLCH/USP. Aguardei novidades. Passou-se o Natal, passou-se o réveillon, nas férias de janeiro a situação permaneceu indecisa. Em fevereiro, entreguei os exemplares. Ele havia saído do hospital e reiniciava suas atividades no Departamento de Geografia. A defesa, como já foi anotado, ocorreria somente em maio. A partir de fevereiro, tudo transcorreu bem.
De volta para casa, Armando (a quem presto minha sincera homenagem) me convidou para um café em seu apartamento, onde ele costumava discutir aquilo que eu escrevera, entre 1978 e 1982. Tudo estava destruído (a estante, a TV, a cama, a máquina de escrever...), exceto o piano. Neste momento, imagino estar ouvindo My way, canção de Paul Anka imortalizada por Frank Sinatra, entoada pelos dedos cansados do Armando. Era o seu way of life, era o my way do Armando. A sensação de lembrar desses acontecimentos é estranha e, ao mesmo tempo, agradável. É bom lembrar daquilo que realizamos, daquilo que compartilhamos com as outras pessoas, com suas virtudes e suas limitações. Em nossos encontros de orientação, eu ouvia o Armando falar duas, três horas. Quando ele se cansava, depois de vários cafezinhos, algumas bolachinhas ou mesmo um almoço em algum restaurante da Rua Fradique Coutinho, em São Paulo, ele me ouvia por quinze minutos e aprovava tudo o que eu havia escrito. Às vezes, depois de algumas semanas, chegava uma carta com sugestões de leituras voltadas para a temática da dissertação.
Faz bem para a alma a sensação de lembrar que o Ítalo, com seus 4,200 kg, nasceu no dia 29 de outubro de 1984. Gordíssimo. Alegre. Sorriu com poucos dias de vida fora do útero da mãe. Seu avô Ernesto o chamava de “Maguila”. Nas festas, sempre o mais alegre e o mais animado. Sempre próximo à mesa dos doces. Mais tarde, revelou-se bastante curioso: sempre com uma pergunta sobre um ou outro assunto. Lia e lê bastante. Sua vontade era chegar à altura de 1,90m. Na França, depois de três meses de angústia, adaptou-se muito bem, fez vários amigos, jogou no Saint Mandé F.C., como o Caio. Saiu de lá falando francês sem sotaque, para espanto dos próprios franceses.
Em 1985 fiz uma pesquisa sobre a localização industrial em Presidente Prudente, como parte do plano trienal, que foi publicada, posteriormente, na Revista de Geografia da UNESP.
Foi nesse período que, entusiasmado com as possibilidades de mudanças políticas na política municipal, engajei-me, juntamente com alguns colegas da UNESP (entre eles a Carminha), na investigação direta para a elaboração de políticas de transporte e habitação para a cidade de Presidente Prudente. Como trabalho acadêmico, a experiência foi excelente, mas como resultado prático, de intervenção política, mostrou-se um fiasco pois o poder público local (na figura do prefeito Virgílio Tiezzi) simplesmente “engavetou” todas as propostas (no relatório já estava a proposta de corredor de ônibus, baias para as paradas, linhas e pontos de parada com melhor distribuição etc). Mesmo que a vontade de mostrar as diferentes possibilidades de intervir, politicamente, na solução de certos problemas urbanos, tenha sido grande, a roda viva dos compromissos assumidos pelo então prefeito inviabilizou completamente qualquer tentativa de estabelecer planos para a circulação e, um pouco menos, para a habitação. A frustração foi muito grande!
Voltemos à UNESP. Institucionalmente, exige-se, ligado ao plano trienal de atividades, um trabalho de investigação. Escolhi a localização industrial para verificar como se comportavam os padrões clássicos de localização na área urbana da cidade e se havia alguma evidência específica do lugar, no ano que “separou” a defesa do mestrado e a aprovação na seleção do doutorado na USP.
Nesse período, como presidente da AGB local, organizei uma atividade que merece ser registrada: um curso de extensão universitária ministrado por Carlos Fantinati, da UNESP de Assis, que articulava a literatura brasileira com a descrição das paisagens: Guimarães Rosa, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Mário Palmério, entre outros, tiveram seus escritos “dissecados” para que neles os participantes pudessem ler as paisagens de diferentes áreas do Brasil.
Em 1986, iniciei as disciplinas do doutorado. A orientação, desta vez, cabia ao Ariovaldo Umbelino de Oliveira (que, diga-se de passagem, orientou várias pessoas de Presidente Prudente). Para acompanhar as disciplinas, foi preciso viajar, semanalmente, durante o período letivo, de Presidente Prudente a São Paulo. A cada dia que passava, parecia que os 560 km iam se tornando mais longos. Os nomes das rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco já causavam arrepio nos últimos meses, porque o cansaço, durante um ou dois dias, na USP, dificultava um pouco o acompanhamento das aulas. Depois do lanche no restaurante do português, só sobrava o gramado da FFLCH para repousar. Eis aí um mérito dos estudantes que migravam, diária ou temporariamente, para a USP para realizar o mestrado ou o doutorado: era preciso resistir cada um à sua maneira... a cada um as distâncias de suas cidades, de cada um a resistência possível.
Depois de dois anos de indecisão sobre qual tema estudar no doutorado, optei, depois de algumas conversas com o Ariovaldo, por estudar como se produz e como e quem se apropria da renda fundiária urbana em Presidente Prudente. Nesse momento, não havia nenhuma angústia teórica. Eram os autores marxistas, que já falavam da renda fundiária urbana, alguns estrangeiros como Christian Topalov, Alain Lipietz e Samuel Jaramillo, outros brasileiros, como Ignácio Rangel, Cláudio Egler, João Sayad e o próprio orientador. Lá atrás, na base de todos eles, o velho e eterno Karl Marx.
Tive acesso ao cadastro urbano da Prefeitura Municipal. Essa fonte de dados foi fundamental para a organização e o mapeamento dos proprietários urbanos. Com isso, pude detectar quem eram os grandes especuladores e quais eram as principais áreas de especulação real ou futura. Como a referência era, fundamentalmente, os terrenos vazios, o seu mapeamento, em cor amarela (no cartograma que reside na cópia que tenho da tese), deu um tom melancólico ao cartograma, quebrado apenas com as cores azul, referente aos domicílios realmente ocupados e vermelha, que se referia a comércio e serviços. Como as áreas verdes na cidade se restringem ao Parque do Povo, uma faixa no sentido NW-SE quebrava a monotonia da figura.
Uma das conclusões que mais me agradam, após ter exposto como, quando e por quem é apropriada a renda fundiária urbana, foi a constatação da existência de uma espécie de “muralha” não construída ao redor da cidade, constituída pelas glebas loteáveis que estava à espera do momento para realizar a renda e passá-la ao seu proprietário. Essa “muralha” lembra o caráter “quase medieval” que aparentava a propriedade fundiária em Presidente Prudente, cercando a cidade e definindo seus momentos de expansão horizontal.
Os colóquios com o Ariovaldo corriam diferentemente daqueles que fiz com o Armando. Eram, agora, realizados na USP, em sua sala da FFLCH. A discussão passava, inicialmente, pelo texto da tese para, depois, os assuntos do cotidiano universitário merecerem alguma atenção. Algumas vezes, depois de passar a noite inteira no ônibus, indo de Presidente Prudente para São Paulo, aguardar das nove da manhã até às quatro da tarde para ser atendido, sentado no corredor, tomando cafezinho, lendo alguma coisa, encontrando um ou outro colega pós-graduando... Esse era o ritmo da USP, mas quando a reunião começava, as conversas eram longas e agradáveis, falando-se dos escritos da tese, de leituras por fazer ou da vida universitária.
Na minha defesa, estiveram presentes Jayro Gonçalves Melo, que focalizou o papel do poder público; Roberto Lobato Corrêa, cuja importância na Geografia brasileira dispensou seu inexistente título de doutor, analisou o espaço urbano; Manuel Gonçalves Seabra, que deu uma aula sobre O Capital e alguns desdobramentos da análise marxista da cidade e Armando Corrêa da Silva, que chegou atrasado e não havia lido a tese mas que, no final, informou que faria 27 perguntas, fez 13, das quais eu respondi apenas quatro, que na realidade eram aquelas mais diretamente envolvidas com o tema da tese. Ao encerrar a sessão, Ariovaldo, o orientador, afirmou que estava começando a se desligar das orientações em Geografia Urbana porque iria voltar-se, doravante, a se preocupar mais com as questões agrárias.
Desde as disciplinas do doutorado tenho procurado me pautar, ao realizar investigações empíricas ou discussões teóricas, na dialética como método e no materialismo histórico como doutrina.
Entre o mestrado e o doutorado, mais precisamente em 1986, fiz concurso para professor assistente na FCT/UNESP. Fizeram parte da banca os já citados, neste texto, Pasquale Petrone e Marcos Alegre, aos quais somou-se Olímpio Beleza Martins. A prova didática teve como ponto sorteado a mobilidade da população brasileira que eu enfoquei, historicamente, como continente de força de trabalho, a exemplo do que, muito mais tarde, fui conhecer na obra de Gaudemar, publicada, na França, em 1977. Durante a aula, desenhei na lousa, com giz de diferentes cores, o mapa do Brasil com setas, circunferências e ângulos, para mostrar os fluxos de população em diferentes épocas. No dia seguinte, um apagador eliminou aquele desenho tão bem feito.
Os momentos de maior euforia pelas defesas e concurso foram, para mim, também momentos de grande tristeza. É impressionante o que a reação das pessoas pode provocar na gente. Após cada um desses acontecimentos, eu passava pelos corredores da faculdade e me sentia muito só. Não havia qualquer reconhecimento ou mesmo contentamento, mesmo que forçado, por parte da maioria dos colegas de departamento. A vontade de ir embora, de fazer concurso em outra faculdade, enfim, de buscar algo novo era recorrente, após cada um dos concursos.
Ao lembrar dessas frustrações, vêm à mente as figuras de Armen Mamigonian e de Dióres Santos Abreu, aqueles que realmente incentivaram e sempre cobraram a continuidade da carreira acadêmica. Os outros, alguns mais, outros menos, no cafezinho, no futebol, nas happy hours na padaria do Gilberto, que sempre achava uma maneira de aumentar o número de cervejas consumidas, demonstravam uma ponta de crítica que denotava, inconscientemente, uma forma de arrefecer os ânimos para a pesquisa, para a carreira. Nunca as opiniões eram claramente explicadas; ficava apenas um ar de reprovação pelo “pouco tempo” para fazer a carreira (veja lá, foram seis anos para mestrado e seis anos para doutorado), em bloquear a possibilidade de continuar estudando, com insinuações de a gente sempre querer fazer a “tese do século”.
Lembro-me que nesse momento eu soube, em um dia qualquer que já se perdeu na memória que, numa comparação entre a vida acadêmica no Brasil e nos Estados Unidos, chegou-se à seguinte conclusão: lá, a maior causa do stress é a necessidade de se produzir, incansavelmente, artigos para se publicar; no Brasil, a maior causa é aquilo que se diz e o que não se diz nos corredores da academia. Eu senti isso na pele, no coração, na cabeça, nos olhos...
Fazendo este texto, veio-me mais uma reflexão. O que é a autocensura? Ao fazer este depoimento, será que estou sendo severo com os colegas? Será que tudo não passa de fruto de minha imaginação? Ou será que, inconscientemente, estou minimizando os conflitos psicológicos que ocorrem diariamente nas relações profissionais? Espero estar me distanciando um pouco do autoengano pois procuro, sim, minimizar o que as pessoas fazem, quando o sentido visto em suas ações é negativo. No entanto, não posso esquecer e simplesmente ignorar o que ocorre ou ocorreu. Apenas posso dizer, com tranquilidade que, se a realidade é mais rica que a imaginação, às vezes a imaginação é mais sensível e mais afiada que a faca do churrasco de alguns fins de semana... Podemos perdoar, mas não precisamos esquecer. Não estou fazendo um texto que retrate minha vida como geógrafo? Pois é, vamos, então, avivar, pouco a pouco, a memória. E ela tem que contar, necessariamente, com as lembranças que permaneceram.
Outra reflexão: na medida em que vamos chegando mais próximos do presente, os detalhes das lembranças se ampliam, mas ao mesmo tempo, a preocupação com a sua interpretação também se torna maior. Os acontecimentos ainda estão “quentes” na memória e poderão ter outros desdobramentos, além daqueles que podemos ver com clareza no momento da narrativa.
Uma boa batalha que enfrentei foi quando me tornei diretor da Revista de Geografia da UNESP. Defendi a proposta de tornar a revista mais conhecida, com lay out da capa mais agradável à vista... Aí a reação do Odeibler foi rápida. Procurou me desautorizar na fase de impressão do número dez da revista! Em uma reunião no prédio da Avenida Rio Branco, em São Paulo, onde então funcionava a Editora da UNESP, tive que expor, veementemente, todo o seu autoritarismo para todos os membros da Comissão Editorial, “lavando a alma”. Conclusão: algumas pessoas conseguem, a vida inteira, complicar e atrapalhar o decorrer dos fatos.
Outra experiência interessante foi ser presidente da ADUNESP (Associação dos Docentes da UNESP), seção de Presidente Prudente. O ano de 1988 foi marcado por intensa movimentação sindical por aumento de salário. Acredito que, sempre que reivindico algum cargo (sem qualquer paranoia), surge, do outro lado, uma oposição que persiste em fazer algum teste. Quando me candidatei à presidência da ADUNESP, isso ocorreu, como ocorreria, posteriormente, quando da candidatura à coordenação do Curso de Geografia ou da Pós-graduação.
No Anfiteatro I da Faculdade de Ciências e Tecnologia, em maio de 1988, fui sabatinado, juntamente com outros membros da diretoria, dos quais estava, ao meu lado, na mesa, a Luiza Helena Christov. Qual era o nosso compromisso sindical, qual nossa visão de universidade, qual era não sei mais o quê... Nunca mais, pelo que me lembro, qualquer outro candidato foi sabatinado publicamente.
O mandato de nosso grupo foi bastante movimentado. Uma greve de 75 dias marcou o final do ano de 1988. Eu ficava mais dentro do ônibus, indo e voltando de São Paulo, do que em minha própria casa. As intermináveis reuniões, as “questões de ordem”, a falta de objetividade dos companheiros, eram regadas a café e água. Quantas vezes passamos o dia com apenas um sanduíche! Só no final do dia, lá pelas sete ou oito horas da noite, quando o primeiro “caía”, é que os outros se davam conta de que a resistência física tem limites. Aí, novamente o ônibus de volta para, no dia seguinte, expor, em assembleia, tudo o que havia sido discutido em São Paulo.
A democracia é complexa. Ouvir “as bases” é necessário para dar respaldo às tomadas de decisões nos fóruns das entidades. Por outro lado, ficar ouvindo as bases coloca os representantes da entidade num círculo vicioso que limita qualquer margem de pronunciamento ou negociação. Os limites, muitas vezes, emperravam as discussões por uma, duas semanas. Mas era preciso exercitar, ouvir, ser cobrado pelos colegas, tentar alguma saída. As universidades públicas ainda não tinham sua cota fixa do ICMS (hoje as universidades paulistas têm sua autonomia financeira: sua receita é igual a 9,57% da arrecadação do estado – vitória homologada em janeiro de 1989). Assim, o grande inimigo era o governador do estado.
Uma vez, numa manifestação próxima ao Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, quando o governador era Orestes Quércia, enfrentamos, silenciosamente, a tropa de choque. À direita e à esquerda, os muros; sob os meus pés, o asfalto quente; em frente, o olhar arregalado dos soldados (que eram obrigados a ouvir o grito de guerra “você aí do lado, também é explorado”) com seus cassetetes e escudos, mirando aqueles “vermelhos” que queriam melhores salários. Nesse ir e vir – ora avança a tropa, ora avançam os manifestantes – aparecem os deputados que fazem as negociações (o senador Eduardo Suplicy devia estar por lá, nesse dia...), estabelecem uma pauta para uma próxima reunião com o governador, o pessoal sai aliviado. Os manifestantes que foram de Presidente Prudente entram numa Kombi que eu dirijo, já noite, pela Rodovia Castelo Branco lembrando, aliviado, que a esperança ainda existe, que da próxima vez o governador vai mudar, vai ouvir o sindicato etc.
Uma prática que tivemos, em nosso mandato, que atualmente quase não se vê mais na minha unidade, é a prestação pública das contas da associação, em tabelas que eram fixadas nos murais existentes.
São os anos noventa que agora entram em pauta. Eu já tinha o título de doutor. Candidatei-me para ser coordenador do Curso de Geografia e vi, mais uma vez na minha frente, a oposição cuja base ideológica era mais obstaculizar as propostas de avaliação, de mudanças curriculares, de reorganização dos trabalhos de campo e de cumprimento de horários docentes. Perder faz parte da vida, mas perder para uma chapa que tinha, como cabo eleitoral, alguém chamado Miguel Gomes Vieira, o energúmeno que já trabalhou (será que trabalhou?) no meu departamento, foi realmente frustrante.
Esse acontecimento serviu para acirrar alguns ânimos e criar uma dicotomia do departamento que teve muitas consequências por um bom tempo. Estou lembrando essa situação porque ela foi fundamental para os problemas que tivemos (agora, no plural, porque envolve toda a família) para obter o afastamento para realizar o nosso pós-doutorado na Universidade de Paris I, a Sorbonne-Panthéon, mais precisamente no Institut de Géographie, na Rue Saint-Jacques. Uma dificuldade foi ver quem assumiria as aulas, dentro da perspectiva da divisão mais adequada no departamento, fazendo com que aqueles que, durante anos, se esquivavam das salas de aula, tivessem a hombridade de substituir dois colegas (eu e Carminha) que iriam realizar o terceiro pós-doutorado do departamento.
A outra dificuldade foi a prepotência do professor Antonio Christofoletti que, não tendo mais como atrapalhar meu afastamento, pediu-me, por telefone, para citar as bibliotecas e livrarias que eu poderia visitar na França, como estava declinado em meu projeto entregue ao departamento e enviado ao CNPq que já havia, por sua vez, aprovado minha bolsa. Quando eu lhe pedi para registrar por escrito, em seu parecer, essa absurda exigência, ele simplesmente se calou e, alguns dias mais tarde, meu afastamento foi aprovado pela CPRT (Comissão Permanente de Regime de Trabalho).
A vida tem, por causa das inconsistências das pessoas, suas contradições burocráticas. Nós já tínhamos (Carminha e eu) sido premiado com bolsa do CNPq, já estava com passagem marcada para Paris, mas ainda não tinha a aprovação de meu departamento. Somente quando, espontaneamente e sem nenhuma obrigação, os colegas Bernardo Mançano Fernandes, Sérgio Braz Magaldi e Raul Borges Guimarães comprometeram-se a assumir nosas aulas, o afastamento foi aprovado. Dois minutos depois!
Mas as coisas boas também acontecem. Depois de realizar curso de francês por dois anos com a professora Lilian Coimbra, passamos nos exames da Aliança Francesa, em São Paulo, e fomos contemplados com bolsa da CAPES. Como havíamos, também, solicitado bolsa para a FAPESP, recebemos a sua aprovação. Aí, o dilema era dos melhores: por qual bolsa optar? Somadas e subtraídas todas as vantagens e desvantagens, optamos pela bolsa do CNPq, órgão ao qual eu já estava vinculado, desde 1993, como pesquisador (atualmente 1B).
No dia 18 de outubro de 1994 cheguei em Paris. Carminha, Caio e Ítalo chegaram quinze dias depois, já com apartamento alugado na Rue Jeanne d’Arc, em Saint Mandé, a cem metros do Bois de Vincennes.
Depois de passar uma semana na Maison du Brésil, na Cidade Universitária, acertamos o aluguel com Monsieur Schoenfeld, gastando por volta de R$ 1.500 mensais (naquele ano, por causa do Plano Real, 1 real equivalia a 1 dólar!). A vida é cara em Paris. Se optasse por pagar menos, teria que morar mais distante ou em piores condições. Como não há opção sem perda, preferimos pagar mais para ficar mais perto de Paris e das futuras escolas das crianças do que ficar mais longe, com aluguel mais barato mas com maiores gastos em transportes e perdendo mais tempo para deslocamentos.
A convivência com Jacques Malezieux e André Fischer foi excelente. Embora não tivesse obrigação, acompanhei suas disciplinas no Institut de Géographie durante o semestre letivo de dezembro de 1994 a maio de 1995, participei de aulas de campo pelas áreas de industrialização fordista no norte de Paris e pela Normandia, principalmente Rouen. Pude ajudar alguns alunos franceses em preparar seminários sobre o Nordeste brasileiro, pude falar um pouco sobre o Brasil e suas contradições em uma aula para estudantes de segundo ano de Geografia. Publiquei, na revista do CRIA (Centre de Recherches sur l’Industrie et l’Aménagement), Notes de Recherches, as principais conclusões de minha tese, defendida em 1990, e algumas ideias sobre a industrialização de São Paulo. Esse tema eu expus numa das reuniões do CRIA, quando estiveram presentes alguns amigos que ficaram na França: Thierry Rebour e Jean-Paul Hubert, entre outros. Também aí estava, nesse dia, Georges Benko.
Na École de Hautes Études en Sociologie, cuja biblioteca foi, por mim, “varrida” de ponta a ponta na busca de textos que ajudassem meu projeto de pesquisa intitulado “Fluxos e localização industrial”, acompanhei o curso de Cornelius Castoriadis (que vinha sempre com seu boné marrom, de pele de castor, e seu casaco encardido pelo tempo), que falava durante exatos 110 minutos ao lado de um gravador, e deixava os últimos dez minutos para os debates. Quando completava duas horas de aula, despedia-se, levantava-se e desaparecia pela porta lateral.
Como havíamos vendido nosso velho Del Rey 84 no Brasil, com o dinheiro compramos, na França, um Citroën 85, mais barato. Com esse carro pudemos fazer inúmeras e ótimas viagens pela França, pela Espanha, por Portugal, pela Itália... segundo as contas dos filhos, visitamos, no total, quatorze países. Algumas viagens tiveram, inclusive, objetivos especiais. Fomos visitar a cidade dos ancestrais Parra e Vasquez, da Carminha, o pequeno vilarejo de Rubite, na Andaluzia, com 500 habitantes, onde não chovia havia vinte anos. Fomos visitar, no sul da Itália, mais precisamente na Calábria, a vila de onde veio meu avô Vicenzo Sposito, Cropalati. Na primeira cidadezinha, fomos muito bem recebidos, com alegria, almoço em família, muita conversa. Na segunda, apenas uma senhora, que não era Sposito mas era mulher de um deles, com sua netinha, ofereceu-nos um cafezinho e disse se lembrar, vagamente, que sua mãe falava que alguns parentes tinham ido fare l’América, há mais de quarenta anos.
Durante o período de estágio, participei de vários eventos científicos. Na França, marcou bastante o Festival de Geografia de Saint-Dié-des-Vosges, na Lorena. Nesse festival que, apesar do nome, é um evento científico, premia-se anualmente um geógrafo eminente com o prêmio Vautrin Lud. Se em 1994 havia sido laureado Milton Santos, em 1995 testemunhamos a premiação de David Harvey, cuja palestra, na última noite do evento, num auditório no alto de uma torre de estilo futurista, assistimos. Meninos, eu vi! Por causa desse evento recebi, por vários anos, correspondência da Mairie da cidade dando notícias do festival. Por isso, fiquei sabendo que o geógrafo premiado, em outubro de 2000, foi Yves Lacoste.
O TRABALHO NA GRADUAÇÃO
Ministrar aulas na graduação foi consequência direta de meu contrato com a UNESP, campus de Presidente Prudente, assinado em 20 de julho de 1980 (onde permaneci até 2 de abril de 2019, quando me aposentei, depois de 50 anos de trabalho). A atribuição de disciplinas, no Departamento de Geografia, seguiu critérios diferentes ao longo do tempo. Entre 1980 e 1987 (período aproximado), ela era definida pelos “mais antigos” e comunicada aos “mais novos”. Em outras palavras, o tempo era referência hierárquica entre os professores do departamento, critério definido pelos “mais antigos” que se davam o direito de tomar as decisões que orientavam as atividades letivas de todos. Pode se dizer, ironicamente, que “o tempo definia a posição”. Posteriormente (e resultado de uma proposta que fiz aos colegas do departamento e que foi aperfeiçoada em pouco tempo), foi elaborado um ranking para a atribuição de aulas, privilegiando, por ordem, o trabalho de docência na graduação, as publicações e as atividades de extensão e administração (três últimos anos). As aulas no nível de pós-graduação não contavam porque houve reação de vários colegas que não estavam, ainda, credenciados no Programa de Pós-Graduação em Geografia. O ranking vigeu até meados da década de 2010 quando (na minha avaliação), por força daqueles que não tinham participação na pós-graduação (mais uma vez), ele foi abolido e as aulas passaram a ser atribuídas em reunião departamental (em formato de plenária). Isso gerou algumas distorções, como a sobrecarga de alguns e a quantidade menor de trabalho de outros, voltando ao que citei anteriormente, na década de 1980: uma hierarquização pela titulação e pelo tempo de serviço. Ter critérios claros e baseados na dedicação de cada um, portanto, deixou de ser referência acadêmica.
As disciplinas que ficaram sob minha responsabilidade foram, por ordem de vezes que ministrei, Metodologia Científica em Geografia, Geografia Econômica, Evolução do pensamento geográfico, Geografia Regional do Brasil, Trabalho de campo, Geografia Urbana, Pesquisa em Geografia Humana, Espaço e indústria, e Geografia Social e Política. As disciplinas obrigatórias eram oferecidas em dois períodos (diurno e noturno) e as facultativas eram oferecidas em apenas um período, geralmente o noturno.
A interação com os alunos merece uma rápida avaliação. Quando fui contratado, tinha idade e linguagem próxima dos alunos porque trabalhava do alto de meus trinta e poucos anos. Com o tempo, o distanciamento entre mim e os alunos foi se tornando, aos poucos, maior. Se antes eu estava próximo a eles nas aulas, nos trabalhos de campo, nos churrascos e em algumas reuniões festivas, a partir do início do século XX eu não era mais próximo a eles, mas passei a ser homenageado em Semanas de Geografia. Esse distanciamento foi fator decisivo para minha aposentadoria. Não ministro mais aulas no nível da graduação, apenas da pós-graduação.
O TRABALHO NA PÓS-GRADUAÇÃO
Em 1992, credenciei-me para ministrar disciplina e orientar, no Curso de Pós-graduação em Geografia da FCT/UNESP. A disciplina, Metodologia Científica em Geografia, que ainda hoje assino (estamos em 2020), foi básica, ao longo desses últimos oito anos, para as principais ideias contidas no ensaio que apresentei ao concurso de Livre Docência e que se tornou, em 2004, o livro publicado pela Editora da UNESP, Geografia e Filosofia, meu livro mais consultado entre os que publiquei.
Os primeiros orientandos, bastante polêmicos, como José Gilberto de Souza, hoje na UNESP de Rio Claro e já livre-docente, e Adilson Rodrigues Camacho, na UNIP, em São Paulo, juntamente com o William Rosa Alves (orientando da Carminha), que foi professor na UFMG, formavam um grupo heterogêneo em busca de algum norte (ou sul) para suas dissertações. As suas dúvidas eram, mutatis mutandis, as mesmas que eu tivera quando iniciei o mestrado na USP.
Entre 1992 e 1994 exerci a função de coordenador do Curso de Pós-graduação. Por força da função, participei da CCPG (Comissão Central de Pós-Praduação), que se reunia mensalmente no prédio da UNESP, na Praça da Sé, em São Paulo. Foi uma experiência muito gratificante porque o pró-reitor de então, Antonio Manuel dos Santos Silva, dera um caráter de reflexão à sua equipe, privilegiando mais as ideias que os papéis.
Depois da volta da França, algumas dissertações foram duramente forjadas mas, outras, voltaram a dar a sensação de se ajudar um mestrando a fazer uma leitura científica da realidade. Assim, o estudo do mapa, com forte dosagem piagetiana, da Ângela Katuta, as belas descobertas feitas pela Ana Dundes em sua análise do discurso desenvolvimentista e da industrialização de Presidente Prudente, ou a análise do papel da indústria de cimento no desenvolvimento regional de Mato Grosso do Sul da Márcia Ajala de Almeida, foram excelentes dissertações.
Os orientandos do doutorado também já me deram bastante satisfação, mesmo antes das suas defesas. O trabalho com maquetes, de Mafalda Francischett, buscando uma metodologia para o ensino da Cartografia, contribui para os cursos de graduação. A análise histórica da colonização em Silveira Martins, realizada por Marcos Saquet, que realizou estágio-sanduíche na Itália, mostra a desterritorialização dos italianos de Trento e sua reterritorialização no Rio Grande do Sul. Em 2000, João Márcio Palheta da Silva, que estudou as relações de poder e a gestão do território em Carajás, passou a ser meu orientando.
A lista de orientados está detalhada no meu CV Lattes, acessível a todos na página do CNPq. Mesmo assim, posso agrupar as orientações por temas e por décadas. Na primeira década do século XX, a cidade foi estudada em diferentes recortes. No nível de mestrado, pelo recorte das cidades pequenas, o estudo de Paulo Fernando Jurado da Silva sobre a região de P. Prudente foi base para um livro que escrevemos juntos. O trabalho informal, com Marcelino Andrade Gonçalves; a migração de brasileiros para o Japão, com Denise C. Bomtempo; o ensino de Geografia, com Carolina Busch Pereira e Juliano Ricciardi Floriano Silva; a logística e os transportes, com Roberto França da Silva Junior; o pensamento geográfico, com Flaviana G. Nunes, Túlio Barbosa e Jônatas Cândido; eixos de desenvolvimento, com Cássio A. de Oliveira e Adilson A. Bordo, foram temas abordados. Mas o tema mais estudado foi a indústria, principalmente relacionada com as cidades médias; aí tive os alunos Eliane Carvalho dos Santos (estudo sobre Catanduva), Elaine C. Cícero (calçados em Birigui), Alex Marithetti (polos tecnológicos), Ítalo F. Ribeiro (Vale do Paraíba), Renan E. Borges (Uberlândia), Agda M. da Silva (tecnologia e indústria), Leandro Bruno Santos (multilatinas), Maria Terezinha S. Gomes (cidades médias e indústria), foram alguns destaques. No nível de doutorado houve, também, uma lista grande de temas que podem ser agrupados assim: na Geografia Econômica, de maneira geral, Cláudia Montessoro (trabalho informal em Anápolis), Sandra L. Videira (rede bancária), Ana C. Dundes (região de P. Prudente), Paulo F. Jurado da Silva (tecnologia). Na Geografia Urbana, José M. de Queiroz Neto (Altamira e a usina Belo Monte), Estevan Bartoli (Parintins); na Geografia da População, orientei Lirian Melchior (migração dekassegui), Adriano A. de Sousa (território e mobilidade social) e Xisto Serafim de Souza Jr. (cidade e movimentos sociais), Oscar Benítez González (Puebla, México), Yolima Devia Acosta (Villavicencio, Colômbia). Na Geografia Política, Dayana Marques (eixos de integração na América do Sul). Mas os dois temas mais estudados foram o pensamento geográfico, com Fabrício Bauab (conceito de natureza), Antonio E. Garcia Sobreira e José Vandério Cirqueira (ambos estudando a geografia libertária), Antonio H. Bernardes (tecnologia), José M. Chilaúle Langa (geografia em Moçambique) e Guilherme dos S. Claudino (o pensamento geográfico brasileiro) e, com igual densidade, a indústria: Denise Bomtempo (indústria em Marília), Edilson A. Pereira Júnior (indústria no Ceará), Leandro Bruno Santos (multilatinas), Elaine C. dos Santos (produção flexível no Brasil).
Apesar de ter orientado teses e dissertações em várias temáticas geográficas, foi a indústria e o pensamento geográfico que as orientações foram mais numerosas. Além disso, houve, também, a supervisão de vários pós-doutorados: reestruturação urbana e indústria em São Paulo (Luciano A. Furini e Clerisnaldo R. Carvalho), conceito de território (Lucas L. Fuini), cidades médias e consumo (Cleverson A. Reolon, Wagner B. Batella e Lina P. Giraldo Lozano), pensamento geográfico sobre a cidade (Rosana Salvi) e fragmentação socioespacial (Késia Anastácio Silva e Vanessa Lacerda Teixeira).
Os temas de meus orientados de mestrado e doutorado foram, também, aqueles que pautaram os estudos de iniciação científica, que chegaram ao total de 72 alunos.
O papel de orientador tem suas características específicas. Orientar é, juntamente com o mestrando ou doutorando, fazer uma leitura de um recorte da realidade com olhos e bases diferentes. A linguagem, se é fundamental para a comunicação entre as pessoas e é a mediação mais importante do ser humano com o mundo, contém problemas em suas decodificações. Um texto, ao ser lido por diferentes pessoas, transmitirá diferentes mensagens, mesmo que a intenção do autor tenha sido apenas aquela de expor suas ideias da maneira mais clara possível. No confronto entre interpretações, faz-se o debate. Fazendo-se o debate, surgem as ideias que vão permeando aquilo que chamamos de trabalho científico. Outro aspecto importante do papel do orientador são suas relações diretas com o orientando. Não é preciso se envolver com as particularidades da vida de cada um, mas é preciso fazer, também, a leitura do cotidiano do orientando para que seus problemas e euforias não interfiram na produção intelectual.
Além de orientar e de ministrar disciplinas, o trabalho na pós-graduação também solicita criatividade. Sempre olhando para a frente, em 1998, juntamente com Messias Modesto dos Passos (que adora a poeira vermelha das estradas), reunimos um grupo de 14 alunos para um trabalho de campo (pioneiro) na Europa. Depois de seis sessões de aulas teóricas, cujo tema era o título da disciplina (Globalização e seus impactos: regionalização ou (des)regionalização? que hoje vejo como inadequado para os objetivos pretendidos), partimos para o velho continente, separadamente. Eu permaneci, entre 22 de abril e 12 de maio, como professor visitante da Universidade de Salamanca. Os demais participantes desse trabalho de campo foram diretamente para Coimbra, iniciando por aí as aulas.
Durante minha estada em Salamanca, quando fiquei alojado no Palácio Fonseca, um edifício de estilo medieval que abriga visitantes da universidade, ministrei aulas para a graduação, uma palestra na Universidade de Valladolid e realizei alguns percursos pelo “casco histórico” da cidade e por áreas da província de Castela e Leão. O contato com os professores Valentin Cabero Diéguez, José Luís Sánchez Hernández e José Luís Alonso propiciou discutir o que é desenvolvimento regional, eixos de desenvolvimento e o papel político do intelectual.
As coisas foram se adensando quando os outros participantes da expedição chegaram a Salamanca, de trem, na madrugada do dia nove de maio. Alugamos um ônibus e fomos até Peña de Francia e La Alberca, ao sul de Salamanca e, partindo para a França, passamos pelos vestígios das minas de ouro romanas, pela área dos maragatos, pela cidade de León e percorremos, a pé, vinte quilômetros pelo desfiladeiro de Picos de Europa, nas Astúrias. Aí a companhia de Miguel Luengo Ugidos, com sua pressa geomorfológica, foi importante para a explicação dessa cadeia montanhosa com rochas do cambriano e do terciário.
Na França, onde eu e Messias dirigimos duas vans Renault durante dezessete dias, estivemos em Bordeaux, onde nos recebeu Pierre Laborde, que mostrou as características do aménagement do território na Aquitânia, pelas mudanças no espaço urbano, pela industrialização e pelo turismo na duna du Pilat. Em seguida, estivemos na Bretanha onde, recebidos por Robert Bariou (da Universidade de Rennes) e Françoise Le Henaff, pudemos verificar como se gere a água nas áreas pantanosas da região e a importância do sal de Guérande.
A viagem terminou em Paris, entre primeiro e sete de junho, com a ajuda de André Fischer e Jacques Malezieux, que mostraram os espaços fordistas da periferia norte e as transformações urbanas decorrentes da construção do Estádio de França (onde a nossa seleção canarinha amarelou, na decisão final, com a França, na Copa de 1998), a ville nouvelle de Cergy-Pontoise e os espaços pós-modernos do bairro La Défense.
Rever Paris (ou rêver Paris?) foi, no mínimo, agradável. Andar pelas ruas, fugir correndo da sua persistente chuva, ver o céu nublado, ver a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, utilizar o metrô, revisitar Saint Mandé, o Bosque de Vincennes, o Jardim de Luxemburgo, o silencioso Instituto de Geografia, os restaurantes italianos e chineses do Quartier Latin, a livraria da PUF, foi, mais que reconhecimento de lugares conhecidos, motivos para matar a saudade de três anos que transcorreram entre voltar ao Brasil depois do pós-doutorado e esse momento.
A teimosia continua. Em 1999, motivados por outra disciplina (Dinâmica econômica e novas territorialidades), depois de algumas sessões teóricas, eu e Carminha organizamos uma viagem pela Argentina e pelo Chile. Como ela não pôde ir incorporaram-se, ao grupo de 16 mestrandos e doutorandos, Dióres Santos Abreu e Arthur Magon Whitacker. Partimos de Presidente Prudente no dia 6 de setembro em um ônibus-leito da Viação Garcia, às sete horas da manhã.
Em Buenos Aires fomos recebidos por Horácio Bozzano. Um percurso de quatrocentos quilômetros, em um dia, pela Grande Buenos Aires, mostrou as características e a complexidade do espaço urbano daquela metrópole.
A etapa seguinte foi percorrer mil quilômetros, numa planura pampeana sem igual, entre Buenos Aires e Mendoza. Recebidos por duas geógrafas da Universidade de Cuyo, percorremos um território semiárido e, por isso mesmo, testemunha de uma beleza áspera e empoeirada.
Daí, para Santiago, foi atravessar os Andes. Depois de passar pelos trâmites burocráticos de fronteiras, fomos surpreendidos por uma nevasca e ficamos presos, durante vinte horas, dentro do edifício da alfândega chilena, no Paso de los Libertadores, a 3.900 metros de altitude, numa temperatura de 15 graus negativos. Se foi preocupante, a “aventura”, ao mesmo tempo, foi inusitada e ficou gravada na memória não a ferro e fogo, mas a neve e frio. A descida pelos Caracoles foi inolvidable.
As aulas de campo em Santiago, na descida para tocar as águas do Pacífico, a vista de Valparaíso e as imagens de Viña del Mar foram o ponto de chegada no oeste do cone sul. Durante os quatro dias em Santiago, Oscar Sobarzo (atualmente professor na Universidade Federal de Sergipe) foi incansável em nos acompanhar nas aulas, durante o dia, e nos jantares, durante a noite. Sem ele, a viagem não seria, seguramente, tão organizada como foi. Nesse trabalho de campo conhecemos dois amigos que, ainda hoje, participam da ReCiMe (Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias), da qual participo desde sua fundação, em 2006: Federico Arenas Vásquez e Cristian Enriques.
Tive a oportunidade de passar, três vezes, dois meses fora do Brasil, todas as três vezes com a Carminha, que também foi estudar e trabalhar: em Paris (em 2009) para um tempo de estudos junto à Universidade de Paris – Dauphine, em parceria com Christian Azaïs; em Coimbra (2012), em parceria com Rui Jacinto, dividindo uma casa na Vila Verde (a 20 km de Coimbra), com João Lima Sant’Anna Neto e Eda Góes; e em Lleida, na Universitat de Lleida, na Catalunha, em parceria com Carmen Bellet. Essas atividades me possibilitaram a finalização do livro sobre as cidades pequenas, que dividi com meu ex-orientando Paulo Fernando Jurado da Silva, e obter dados para pesquisa comparativa entre Lleida e Presidente Prudente que resultou em trabalho sobre o comércio e consumo nessas cidades, escrito a seis mãos, com Carmen Bellet e Maria Encarnação Sposito, que foi apresentado no evento City, urbain retail and consumption, realizado em Nápoles, em 2013.
Em algumas ocasiões de minha vida profissional pude proferir palestras e participar de atividades que considero importantes, como a abordagem da industrialização em São Paulo na Universidade de Turim, recebido por Giuseppe Dematteis e Claude Raffestin (Territorio, urbanizzazione, industrializzazione. Ricerche brasiliane e italiane a confronto.Dinamica economica dello Stato di San Paolo. Assi di sviluppo e città intermedie, 2006); a exposição da política sobre a avaliação do livro didático no Brasil para geógrafos da Universidade de Jongköping, na Suécia (Social representations and the transformations of knowledge.The evaluation of the didactic books in the Brazilian Fundamental School, 2007); um debate sobre o método científico na Universidade de Puebla, quando fui recebido por meu ex-orientado de doutorado Oscar Gabriel Giménez Benítez (2009); uma fala sobre o método científico na Universidade de La Habana, a convite de Eduardo San Marful (2011); a exposição da carreira de Milton Santos, na Universidade de Avignon, onde a equipe de Presidente Prudente foi recebida por Loïc Grasland (2010); debates em Coimbra como parte do GEOIDE - Geografia, Investigação e Desenvolvimento, grupo constituído por pesquisadores da Universidade de Coimbra e na UNESP (Estado de São Paulo: eixos de desenvolvimento, reestruturação das cidades e localização industrial, 2012); a parceria com Diana Lan, da Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, no projeto Reestructuración productiva e indústria, 2014); a apresentação dos resultados do projeto temático Lógicas econômicas e práticas espaciais contemporâneas, com a Carminha, na City University of New York, como parte da FAPESP Week (Social inequalities in middle cities: segregation, self-segregation and sociospacial fragmentation, 2018); a participação no 3rd Brazil-Japan Seminar on Cultural Environments Lifetime of urban, regional and natural systems, quando apresentei o trabalho Ther urban system, centralities and the use of urban space in middle cities in Brazil (2018), entre outras. Para registrar, até novembro de 2020, participei de 267 eventos científicos, ora como espectador, ora como convidado (em mesa redonda ou proferindo palestra), ora apresentando trabalhos.
Minhas atividades de orientação sempre foram verticalizadas pois tive orientandos da graduação, nos níveis de iniciação científica e aperfeiçoamento, no mestrado e no doutorado, seja strictu ou lato sensu. A quantificação dessas atividades dá uma noção do que tenho feito ao longo dos vinte anos na universidade.
No nível de graduação, orientei 26 trabalhos de conclusão de curso, 72 em iniciação científica, nove em aperfeiçoamento e 21 em outras atividades. No nível de pós-graduação, meus orientandos somam, até o momento, 37 no mestrado, 29 de doutorado e nove supervisões de pós-doutorado. Alguns deles foram orientados no nível da graduação (iniciação científica ou aperfeiçoamento). Na pós-graduação lato sensu, orientei cinco monografias (5).
Duas teses merecem destaque. Em 2012, a tese de Edilson Alves Pereira Junior – atualmente professor na Universidade Estadual do Ceará (Território e economia política - uma abordagem a partir do novo processo de industrialização do Ceará) recebeu o Prêmio CAPES-TESE. Por essa razão, ele recebeu verba para desenvolver uma pesquisa e eu recebi uma quantia (R$ 3 mil) para participar de evento científico. No ano seguinte, a tese de Leandro Bruno Santos – hoje docente na Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes (Estado, industrialização e os espaços de acumulação das multilatinas) recebeu menção honrosa da CAPES porque eu não poderia (como eu soube confidencialmente) ser contemplado com o mesmo prêmio em dois anos seguidos. Enfim, provincianismos decorrentes de nossa herança social de dividir os louros não levando em consideração o mérito, mas o compadrismo.
No final das contas, foram 190 estudantes (esse número pode variar, ainda) que já receberam, nos diferentes níveis de orientação, minha contribuição para a sua formação, dos quais, vários deles trabalharam em dois níveis, pelo menos. Nesse rol não estão algumas coorientações nem aqueles alunos que, orientados por outro colega, tiveram bolsa em meu nome (a essa situação, chamamos de “barriga de aluguel”).
Sobre essa relação com os alunos, os temas de monografias, estágios, dissertações e teses foram e ainda são diversificados, como já escrevi anteriormente. De maneira mais condensada, três grandes grupos podem ser identificados. Um deles pode ser definido como de ensino de Geografia. O livro didático, a formação do professor de Geografia, pesquisa-ação, metodologia de ensino da Geografia, mapas, percepção do espaço, por exemplo, foram alguns assuntos trabalhados pelos alunos. O outro bloco, com número maior de estudantes, é aquele que, mesmo tratando da indústria ou da regionalização, tem nos aspectos econômicos, sua principal transversalidade. Assim, Distrito Industrial, setor hoteleiro, vazios urbanos, tecnologia, desenvolvimento, transporte urbano, globalização, industrialização, trabalho informal, turismo, expansão urbana, autoconstrução, imigração e território, foram outros temas escolhidos pelos estudantes que pude, com eles, aprender nas práticas de orientação. A esse grupo pode ser associado o projeto temático, financiado pela FAPESP (entre 2006 e 2011), intitulado O novo mapa da indústria no estado de São Paulo, que rendeu várias orientações e um livro publicado pela Editora UNESP.
Um terceiro bloco pode ser identificado com as pesquisas e orientações ligadas à cidade. Esse direcionamento foi motivado pela participação em dois projetos temáticos (também financiados pela FAPESP) coordenados pela Carminha. Seus títulos: Lógicas econômicas e práticas espaciais contemporâneas: cidades médias e consumo (2011-2016) e Fragmentação socioespacial e urbanização brasileira: escalas, vetores, ritmos, formas e conteúdos (FragUrb), com duração prevista entre 2018 e 2023.
Alguns alunos tiveram suas pesquisas ligadas ao GAsPERR (Grupo de Pesquisa Produção do Espaço e Redefinições Regionais) (6), cuja fundação, em dezembro 1993, propiciou, para mim e para os outros colegas do grupo, uma experiência coletiva muito importante porque suas atividades, ao longo dos já transcorridos 27 anos, que teve três seminários de avaliação, oito volumes do boletim Recortes, quatro edições do banco de dados Conjuntura Prudente, dois livros contendo as memórias do grupo (Região, cidade e poder e Dinâmica econômica, poder e novas territorialidades) e três edições do Seminário do Pensamento Geográfico (1991, 1994 e 1997).
Outras atividades que considero importantes também foram desenvolvidas. Atualmente como pesquisador 1B do CNPq, trabalhei (como bolsista, desde 1992) em temas ligados à industrialização e desenvolvimento regional, sempre pautando-se pela referência da cidade e do urbano: A logística industrial, os fluxos e os eixos de desenvolvimento. Um enfoque considerando as cidades de porte médio: Redes urbanas, cidades médias e dinâmicas territoriais. Estudos comparativos entre Brasil e Cuba; Lógicas econômicas e práticas espaciais contemporâneas: cidades médias e consumo; Reestructuración productiva en ciudades medias de Argentina y Brasil; Lógicas econômicas e dinâmicas urbanas: cidades médias e localização de atividades; Commerce alimentaire et polarités urbaines: outils d ‘analyse et méthodes d’interprétation; Estratégias econômicas e dinâmicas espaciais: leitura das cidades médias pela ótica da quarta revolução industrial foram os principais.
Por sete anos e quatro meses fui coordenador da área de Geografia na FAPESP, função na qual substituí o saudoso Antonio Carlos Robert de Moraes. As reuniões semanais para examinar as demandas de bolsas (iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e jovem pesquisador) e auxílios (projeto temático, principalmente) levaram à formação de outro círculo de amigos das universidades no estado de São Paulo, nas áreas (além da Geografia) de História, Sociologia, Direito, Filosofia, Antropologia e Ciência Política. Debater os critérios para a concessão de bolsas e auxílios foi mais um aprendizado na minha vida.
Entre 2005 e 2014 participei, como coordenador da área de Geografia ou como representante desta área junto ao Ministério da Educação, do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Essa função, que resultou na avaliação dos livros comprados pelo governo brasileiro para as escolas públicas do Brasil (de ensino fundamental e médio), foi fundamental para minha carreira como forma de contribuir para uma política pública que se tornou exemplo internacional como forma de qualificação do ensino. Os livros eram avaliados anualmente por uma equipe que era composta considerando critérios que considero básicos para se trabalhar em equipe: conhecimento do temário e das teorias da Geografia, compromisso com a qualidade e com os prazos, saber trabalhar em grupo (ou seja, trabalhar em equipe) e dominar a língua portuguesa e ter noções de informática para utilizar o computador da melhor maneira possível. Esse trabalho rendeu artigos e livros que registraram as principais conclusões dessa atividade.
Fui coordenador de publicações da AGB-nacional (durante quatro anos publiquei números da revista Terra Livre – um deles comemorando os 70 anos da entidade, em 2004); fui secretário (2000-2002) e presidente da ANPEGE (2014-2015), quando organizei o XI ENANPEGE em Presidente Prudente, mais uma função importante que me possibilitou conhecer a pós-graduação em Geografia no Brasil; fui membro do Conselho do Programa de Pós-graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia; sou parecerista ad hoc de CNPq, CAPES, FAPESP, FUNDUNESP e de inúmeras revistas do Brasil e do exterior; e membro do conselho editorial de várias revistas no Brasil....
Em 2019 nasceu a Joana, loirinha, alegre, já querendo falar. Convivemos pouco com ela porque mora em Palmas, Tocantins, onde o Ítalo é professor da Universidade Federal do Tocantins e a Maria Amélia é funcionária do Tribunal de Justiça Estadual.
Fazendo uma rápida avaliação das atividades citadas acima, acho que é preciso repensar e selecionar um pouco mais o que fazer. Senão, vão faltar horas no meu dia e dias na minha semana.
Muitas atividades citadas neste texto, eu as dividi com a Carminha. Muita gente pergunta como é a vida de um casal que trabalha na mesma área e no mesmo departamento (por alguns anos na mesma sala). Não há uma resposta simples, como não é simples o nosso quotidiano. Compartilhar a vida e o trabalho não é difícil. Pelo contrário, é muito bom. Há dias em que eu não me encontro com ela na universidade. Há viagens de trabalho, há viagens de lazer. A troca de ideias é importante, mas mais importante é a elaboração de planos: desde uma mudança na decoração da casa, novas plantas no jardim, a situação de cada um dos filhos, os programas de viagens com os netos (como aquela viagem de motorhome de Blumenau a Gramado, com Otto e Theo, que moram com os pais, Caio e Fabiana, em Curitiba – ainda falta uma viagem com a Joana, que ainda tem um ano e meio), as tendências nas eleições (desde a universidade ao município e ao país – que colocou em cena um personagem negativo que, por 23 anos, não fez absolutamente nada na Câmara Federal, cujo nome não declino neste texto mas que todo mundo sabe de quem se trata), o almoço com os amigos... até o que ia fazer e estou fazendo como aposentado (desde 2 de abril de 2019, quando completei 50 anos de serviços prestados, dos quais 43 dedicados ao ensino), tudo se torna motivo para o diálogo e a continuidade do romance iniciado em 1974...
As viagens com os netos, filhos e noras realizadas foram excelentes, para a Chapada Diamantina (2000), Toscana – Itália – e Provença – França (2017), quase para Portugal (em 2020, cancelada por causa da pandemia covid-19) e outras menores. Caio, Fabiana, Otto e Theo moram em Curitiba, para onde é mais fácil o deslocamento. Ítalo, Maria Amélia e Joana moram em Palmas, no Tocantins, para onde é mais difícil ir.
EM QUALQUER PRIMEIRO DIA DO RESTO DA MINHA VIDA
Olhando para trás, relendo o relato contido neste texto, parece que nossa vida é episódica. São flashes que, como partes de uma totalidade, sobressaem-se no conjunto dos dias e das atividades exercidas no dia-a-dia. Admito, neste momento, uma certa dificuldade em articular os episódios, porque algumas “passagens” são mais valorizadas, mais detalhadas do que as outras. O tempo cronológico adquire, por esta razão, novo ritmo: um ritmo ditado pelas diferentes intensidades definidas pelo que fica mais vivo na memória. Essa diferenciação no tempo da memória define a dimensão do tempo vivido e o diferencia dos tempos cronológico, cósmico e dos outros. E essa velocidade, com diferentes ritmos, se pode ser inferida pelo relato daquilo que ficou gravado com maior intensidade, continuará tendo seus ritmos, também, quando dos acontecimentos futuros.
Mesmo aposentado, continuo trabalhando bastante, orientando nos diferentes níveis, ministrando minha disciplina sobre metodologia tanto na FCT/UNESP quanto como professor visitante na Universidade Federal de Uberlândia, campus de Ituiutaba. Em outras palavras, enquanto o tempo passa, as tarefas continuam: as aulas na pós-graduação; as orientações do mestrado e do doutorado; a produção de textos para expor as ideias (ora individualmente ora em trabalho em grupo com outros geógrafos) e contribuir com o conhecimento geográfico, a participação em eventos científicos.
Qualquer que seja a atividade que vou exercer doravante, quero ter tempo para arrumar minhas poesias, músicas e escrever alguma coisa mais livremente, lembrando de fatos da vida pessoal e de pessoas mais próximas, como faz Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Meu pai sempre contou fatos de sua vida, desde Taiaçu até seus dias como pioneiro no velho “faroeste” paulista. Estórias de imigrantes e filhos de imigrantes, de derrubadores de matas, de agricultores frustrados, de pescadores, de jogadores de futebol, de políticos... Isso já está gerando contos que estou escrevendo.
Já pude produzir e gravar quatro discos (Cenário, Meu canto geral, Viver no campo e Samba, bossa-nova e algo mais, disponíveis em plataformas digitais como Spotify, Youtube, Deezer...), registrando 47 canções que compus ao longo da minha vida. E vou continuar a fazê-lo porque há, ainda, várias músicas para registrar.
Enquanto o tempo passa, professorar é preciso; viver, muito mais ainda. Como eu acredito na transformação da matéria, algumas coisas boas ainda vão acontecer, no futuro: a consciência política das pessoas vai mudar (já estou perdendo a esperança porque o que ocorre, atualmente, no Brasil, é um dos maiores desastres políticos de todos os tempos); os dirigentes do Palmeiras vão ser mais sérios; o metrô de São Paulo terá 15 linhas, ligando todos os pontos possíveis da cidade; a ida para São Paulo será num trem de grande velocidade; as cobras e as baratas estarão extintas do planeta; a Lua ficará mais brilhante e bonita nas noites sem nuvens...
Quero, aí por esse tempo, olhar, serenamente, para filhos e netos, fechar os olhos e sentir os átomos do meu corpo, em estado plasmático, tomando direções diferentes, na velocidade impensável do big crunch, em outra dimensão, sugados pelo buraco negro da eternidade, com a certeza de ter viajado pelo sistema solar em alguns infinitesimais anos dos séculos XX e XXI.
Como Drummond termina seu autopoema, eu também me pergunto: a poesia é necessária, mas o poeta, será?
AS GEOGRAFIAS QUE ME FIZERAM (7)
O momento se mostra propício para o que proponho neste texto: fazer uma releitura de alguns textos que produzi nos momentos que considero pilares na carreira de todos os pesquisadores das universidades públicas brasileiras (tempos do mestrado, do doutorado, da titularidade e, no caso das universidades paulistas, da livre docência). Assim, as Geografias que me fizeram ficam delimitadas às etapas da formação de minha carreira porque, na medida em que foram sendo elaboradas a dissertação de mestrado, a tese de doutorado e a tese de livre docência, os produtos foram conduzidos (sem rigor excessivo) pelos temas desses trabalhos. Desde o primeiro texto apresentado em um evento científico e dois outros publicados em revista departamental, a escolha do que estudar foi pautada pelos assuntos mais candentes nas décadas em que as pesquisas foram realizadas. Nessa linha, os primeiros trabalhos escritos tiveram interface com a Demografia.
Para o mestrado, no final da década de 1970, o tema mais importante, por causa das mudanças estruturais que ocorriam no Brasil rural, era a migração, principalmente no sentido rural-urbano. Como o tema estava bem estudado, a proposta foi inverter a questão: ao invés de estudar a migração, foi escolhido explicar por que as pessoas permaneciam nas cidades pequenas. Para abordar essa questão, foi necessária uma interface com a Psicologia. A dissertação mostrou como a Geografia poderia contribuir com a construção de um conceito: horizonte geográfico.
No doutorado, na década de 1980, em que o viés da grande narrativa por meio da crítica ao modo capitalista de produção dominava os estudos geográficos, o foco foi a cidade de Presidente Prudente e, por intermédio da teoria da renda da terra urbana, estudei e expliquei como se produz, como se apropria, em que momentos e qual o papel do Estado no processo de produção e apropriação da renda fundiária urbana. Aqui, a interface fundamental foi com a Economia.
Observando a simplicidade com que o método, as categorias e os conceitos eram tratados na Geografia, para a livre docência a minha preocupação foi elaborar um estudo que mostrasse a importância desses elementos, fundamentais para a produção do conhecimento científico. A tese de livre docência foi publicada (8), posteriormente, em forma de livro e se tornou um dos livros mais vendidos da Editora UNESP, chegando a ter quatro reimpressões. Neste momento, a interface mais forte foi com a Filosofia.
Depois, para o concurso de titular, o tema da aula foi a relação espaço-tempo. A proposta foi, neste caso, de verticalizar dois conceitos-chave da Geografia, confrontando as diferentes definições elaboradas por vários autores consagrados na ciência. O texto resultante da aula foi publicado, alguns anos depois, na forma de verbete, mas sua extensão e densidade equivale, praticamente, a um artigo (9). Embora a Filosofia tenha fundamentado esse estudo, recorri, também, a uma interface com a Física.
A participação em projetos de pesquisa coletivos, as orientações em diferentes níveis (iniciação científica, mestrado e doutorado), a supervisão de pós-doutorados e a participação em eventos (principalmente quando se tratava de trabalhar um tema em mesa redonda), foram outros meios de realizar estudos sobre diferentes temas, levando a uma interface, mais recentemente, com a Sociologia.
As diferentes interfaces citadas são aquelas que privilegio neste texto.
A INTERFACE COM A DEMOGRAFIA
A Demografia foi a referência principal no início de meus estudos. Dois textos foram produzidos durante a graduação. Depois, em 1975, um estudo sobre a população urbana e rural no Estado de São Paulo levou-me a participar do primeiro evento. já em escala nacional. Foi o 7º. Congresso Nacional de Geografia, realizado em São Paulo. A motivação para ir ao evento foi decorrente dos incentivos do meu primeiro orientador na graduação, Prof. Dr. Marcos Alegre. Como eu era desenhista da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente (conhecida como FAFI), o trabalho de produzir os mapas foi consequência dos estudos na graduação e do trabalho cotidiano. O texto, publicado nos anais do evento (10), evidenciam a cartografia, ainda artesanal, produzida em papel vegetal com tinta nanquim. A descrição dos dados demográficos dos censos de 1940, 1950, 1960 e 1970 levaram às conclusões de que: “A corrida para oeste, iniciada pelo café no século XIX, foi tomando conta de todo o território paulista, evidenciando-se mais a partir de 1940, com a criação de inúmeros municípios e o florescimento de capitais regionais, acompanhando essa corrida, as estradas de ferro, convergentes à capital, sempre seguindo os espigões, num alinhamento forçado pelo traçado dos rios. O espaço ocupado, com o enfraquecimento do solo, da agricultura, deu lugar às pastagens, com as densidades rurais provando o fato, diminuindo a partir de 1980 – apenas, no oeste, as 2 regiões mais novas têm boas densidades (Alta Paulista e Alta Araraquarense) – e o aumento nos arredores da capital, evidenciando-se a grande aglomeração populacional, tnato rural como urbana.
Os pequenos centros estacionam ou regridem, acompanhando a queda da população rural, permanecendo com leve crescimento apenas os núcleos médios e com visível crescimento as capitais regionais, rodeadas de pequenos núcleos que se mantêm graças à sua influência monopolizadora, acrescidas da importância administrativa após a divisão do Estado em 11 regiões para esse fim.
As maiores aglomerações rurais, a partir de 1960, são abafadas pelo maior número de esvaziamentos rurais, sem se considerar o Vale do Ribeira, de ocupação anterior a 1940, cujo crescimento urbano foi pequeno e o rural quase estacionário.
O crescimento sensível das cidades do Vale do Paraíba, permitindo prever uma conurbação polinucleada na ligação Rio – São Paulo, acompanhando o traçado do rio, e consequentemente a via Dutra e a estrada de ferro, consequência da recente industrialização da região, motivada por sua posição estratégica” (p. 377).
(AS FIGURAS E QUADROS CONTIDOS NO TEXTO, PODEM SER VISUALIZADOS NO DOCUMENTO ORIGINAL, ENVIADO PELO AUTOR).
A INTERFACE COM A PSICOLOGIA
A migração, tema recorrente na década de 1970, motivou-me a prestar seleção para o Mestrado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), na USP, sob a
27
orientação do Prof. Dr. Armando Corrêa da Silva. A interface entre Geografia e Demografia era evidente, neste caso.
Uma primeira aproximação foi feita sobre as migrações e as pequenas cidades. Em linhas gerais, as causas das emigrações das pequenas cidades poderiam ser assim expressas:
a) posição do centro na hierarquia urbana;
b) distância do centro maior e diferenciação dessa distância por tipo de estrada ou transporte; e
c) magnitude da oferta de serviços por esse centro maior em relação à cidade pequena considerada.
Eu alertava para o fato de que, partindo de uma revisão bilbiográfica para me aproximar do tema das migrações, alguns cuidados deveriam ser tomados:
“Em primeiro lugar, ressalta a importância que a escala de enfoque tem em qualquer proposta de estudo geográfico, tanto no sentido horizontal, que é o universo de abrangência, quanto no sentido vertical, que é representado pela profundidade e especificidade da abordagem.
Em segundo lugar, o apanhado do conceito de migrações não foi - como não deve sê-lo - procurado apenas geograficamente, mas ajudado pela abordagem de outras ciências, para dar um certo caráter interdisciplinar a este trabalho, para superar a compartimentação científica do conhecimento.
Em terceiro lugar, fica a certeza de uma certa evolução no conceito de migração, não apenas no sentido da escala (...), de abrangências cada vez mais específicas, mas principalmente no sentido dos fatores considerados, que vão desde o sistema econômico até ao indivíduo que a esse sistema econômico pertencente e que dão, desde que respeitados, a conceituação mais ampla de migração: movimento de pessoas, de qualquer classe social no espaço geográfico, considerada a história do indivíduo e de sua sociedade, sua formação e o grupo mais imediata a que pertence e que a eles se condiciona”. (SPOSITO, 1983, p. 41)
Mas insistir em estudar um processo (migratório) que pautava muitas dissertações e teses, não me pareceu convincente. Era preciso pensar em algo diferente. Foi a sagacidade do orientador que, nas primeiras sessões de orientação, sugeriu-me inverter a questão como ela estava posta na universidade: ao invés de estudar por que as pessoas migram, por que não procurar entender por que elas permanecem nas cidades, principalmente nas cidades pequenas? Estava lançado o desafio a partir de um tema novo (e inovador) porque não havia, num tempo imediato, base teórica conhecida nem metodologia adequada.
A utilização da teoria dos dois circuitos da economia urbana, elaborada por Milton Santos foi importante para compreender a dimensão econômica das cidades pequenas que eu estudava naquele momento (Pirapozinho e Álvares Machado, no estado de São Paulo) e as situações de emprego, renda, mobilidade e lazer das pessoas. Por meio da aplicação de 500 questionários nas duas cidades, essas referências, depois de tabuladas, foram importantes para a formação do horizonte geográfico conformado no cotidiano das pessoas. Antes, foi preciso identificar, nas cidades, as características dos dois circuitos da economia urbana. O resultado foram vários mapas, então conhecidos como mapas das funções urbanas. Um deles está representado na figura 3.
A solução foi a interface com a Psicologia. Depois de comparar as possibilidades entre as três grandes correntes da Psicologia (piagetianismo, behaviorismo e gestaltismo) por meio da interlocução com outros profissionais, optei pela corrente da Gestalt porque ela tinha, como referência principal, a forma. E a forma já era uma categoria importante para a Geografia, como mostrou Milton Santos posteriormente (11).
Foi preciso, então, recorrer à Psicologia. Utilizei a teoria de campo de Lewin para analisar a localização do indivíduo. Ela “depende também dos níveis de realidade e irrealidade que se modificam à medida que a idade avança. [...] Esses níveis permitem a movimentação do indivíduo dentro do espaço vital – ou de seu espaço geográfico – cuja posição” determina:
a) a qualidade de seu meio imediato;
b) que tipos de regiões psicológicas são adjacentes à presente região, isto é, que possibilidades o indivíduo tem para seu próximo passo.
c) que passos têm o significado de uma ação em direção ao objetivo e que passos correspondem a uma ação afastando-se do objetivo (LEWIN, 1968, p.279, apud SPOSITO, 1983, p. 76).
fui buscar, de maneira rápida e objetiva, na Wikipedia, algumas características da Psicologia da Gestalt:
“A gestalt, ou psicologia da forma, surgiu no início do século XX e (...) trabalha com dois conceitos: super-soma e transponibilidade. Um dos principais temas trazido por ela é tornar mais explícito o que está implícito, projetando na cena exterior aquilo que ocorre na cena interior, permitindo assim que todos tenham mais consciência da maneira como se comportam aqui e agora, na fronteira de contato com seu meio. Trata-se de seguir o processo em curso, observando atentamente os ‘fenômenos de superfície’ e não mergulhando nas profundezas obscuras e hipotéticas do inconsciente – que só podem ser exploradas com a ajuda da iluminação artificial da interpretação. De acordo com a teoria gestáltica, não se pode ter conhecimento do ‘todo’ por meio de suas partes, pois o todo é outro, que não a soma de suas partes: ‘(...) A+B não é simplesmente (A+B), mas sim, um terceiro elemento C, que possui características próprias’. Segundo o critério da transponibilidade, independentemente dos elementos que compõem determinado objeto, a forma é que sobressai: as letras r, o, s, a não constituem apenas uma palavra em nossas mentes: ‘(...) evocam a imagem da flor, seu cheiro e simbolismo - propriedades não exatamente relacionadas às letras.’" (Wikipedia, 2019, acesso em 19/9/2019).
Sobre o conceito de espaço vital e de lugar, eu já alertara na dissertação:
“Não se deve confundir os conceitos psicológico de espaço vital e geográfico de lugar. O primeiro diz respeito aos impulsos, à história e à reação do indivíduo no espaço geográfico, e o segundo diz respeito ao meio natural e cultural que define a 1oca1ização e por extensão a existência da sociedade. Apesar disso, num espaço da pequena cidade, onde a noção sociológica de comunidade está constantemente presente e constantemente atingida pelos impulsos uniformizadores - diferenciadores do sistema capitalista, quando esse espaço é considerado em si como lugar, abriga a noção de espaço vital como o grande espaço de atuação cotidiana do indivíduo. A separação, então, entre os dois conceitos, estabelecida didaticamente, torna-se pequena e até desaparece em certos casos individuais ou mesmo se distancia mais em outros casos, mas não perde o sentido na análise, pois ela é necessária para o entendimento do dinamismo da população dos centros urbanos estudados”. (cap. III).
Sobre as migrações e seu papel no sistema capitalista, quero destacar um esboço teórico que fiz e que acho, mesmo distante no tempo, ainda atual do ponto de vista do estruturalismo marxsta, inspirado na teoria dos dois circuitos da economia urbana de Milton Santos:
“O sistema capitalista, ao se organizar através desses impulsos, não se organiza num lugar especificamente, mas procura distribuir, de acordo com suas adequações, os indivíduos com as funções do momento por todo o território de atuação, eliminando, em muitos casos, uma rugosidade considerável que divide as partes do território (...).
Voltando um pouco para realimentar a conclusão da discussão, deve-se ter em mente o seguinte: os níveis são definidos pelas atividades dos indivíduos e pelas funções das formas, figurações particulares do movimento. E o indivíduo, como forma, está nos diferentes níveis definidos pelas funções das formas. O indivíduo, no momento em que exerce uma atividade, exerce o movimento e, como a forma é uma figuração particular do movimento, o indivíduo também aparece como forma, pois exerce essa atividade. O indivíduo, neste sentido, não está analisado como antropóide uniforme nem sem os dotes naturais do ser humano, mas como agente, consciente ou inconsciente, do sistema capitalista a que pertence. Daí que as funções são o papel exercido dentro de um sistema pelas formas, traduzidas opostamente na cidade e no campo, que dão a estrutura do espaço. As formas estão no espaço; são, portanto, geográficas, pois são a manifestação da interação do homem com a natureza e dos homens entre si. As funções não são geográficas; no entanto, ao se localizar nas formas, e ao mudar de forma ou de lugar e forma, movimentam-se no espaço e fazem parte do espaço. A função da forma está associada ao indivíduo, ao ser que nela se insere. O movimento da função no espaço, mudando de forma e/ou de lugar, é também sua migração; é a migração do indivíduo. Desta maneira, a migração obedece às necessidades da forma exercer sua função. Essa função é determinada, completando o raciocínio, pela divisão do trabalho dada, inicialmente, pela produção de bens necessários para suprir as necessidades naturais do homem - naturalmente surgidas e posteriormente multiplicadas - depois pela relação de propriedade tanto da natureza como dos valores artificiais criados pelo homem”. (cap. I) Mais tarde, Gaudemar teorizou a migração a partir da pessoa como continente da força de trabalho, o que, mesmo sendo de difernte interpretação, está baseada no fato da força de trablaho ser um atributo do indivíduo.
Essas ideias estão superadas do ponto de vista da interpretação e da escala, mas principalmente porque o “êxodo rural” ou a migração a partir das pequenas cidades não são um fato migratório predominante, mas do ponto de vista do marxismo estruturalista, elas continuam valendo.
A INTERFACE COM A ECONOMIA POLÍTICA
No doutorado, a interface com a Economia Política marcou outro prisma das Geografias que me fizeram.
O foco de estudo seria a cidade de Presidente Prudente que, já enfocada pelas dinâmicas da habitação, dos transportes e da verticalização, passou a ser analisada por meio da segregação urbana e da apropriação da renda fundiária urbana. Autores como Karl Marx, como seria óbvio, mas Christian Topalov, Tom Bottomore, Jean Lojkine, Samuel Jaramillo, José de Souza Martins e Ariovaldo de Oliveira auxiliaram na compreensão dos três tipos de renda que, até o momento, são os esteios da teoria. Mesmo que seja difícil a sua apreensão empiricamente, na atualidade, há outras ferramentas teóricas para esse fim, como é a proposta da renda absoluta diferenciada (proposta por Rebour, 2000).
De Topalov, no que concerne à renda diferencial, temos a seguinte afirmação: “a renda diferencial é um efeito do preço. Quanto ao preço, é um efeito do custo, mais precisamente da configuração dos custos individuais e do processo de sua transformação num único custo social pela concorrência (p. 95).
Por isso, “como a exploração capitalista da cidade tem por base material a produção de edificações (...) segundo a localização dos terrenos, a taxa de lucro interna da operação variará, a preço uniforme de venda do produto, porque os custos localizados de produção do terreno construtível variarão” (TOPALOV, 1984, p. 97)
Estava lançado o desafio: verificar, em Presidente Prudente, a massa de terrenos vazios, localiza-los no território urbano e confrontar seus preços com outras referências, como os estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, e as áreas não loteáveis (parques, áreas públicas, praças etc), além de verificar como se dava, ao redor da cidade, a apropriação das grandes glebas loteáveis, o que levou-me a deduzir que a cidade de Presidente Prudente era cercada por um ”muro” (lembrando as cidades medievais) que a cercava, mas neste caso o ”muro” era constituído pelas glebas apropriadas por poucos proprietários que decidiam, de acordo com suas expectativas de se apropriar da renda da terra, o momento de lotear parcelas das glebas, transformando-as em terra urbana, fazendo com que seu preço aumentasse, nominal e imediatamente, de oito a dez vezes o preço do metro quadrado. A expansão da quantidade de terrenos vazios nas bordas da área loteada da cidade era acompanhada (legalmente) pela modificação do perímetro urbano, instrumento político municipal de regulação do crescimento da cidade que obedece, no caso da cidade citada, às expectativas dos grandes proprietários de glebas loteáveis.
A localização, a construtibilidade (condições geomorfológicas do terreno como declividade, resistência às construções; condições econômicas, como ser de esquina, forma do lote, tamanho) e as externalidades decorrentes de sua localização (processos de parcelamento do solo urbano, densidade de ocupação do bairro, proximidade de grandes centros de compra etc) foram fatores considerados para a explicação da produção da renda fundiária urbana em Presidente Prudente.
Jaramillo (1982) acrescenta alguns fatores importantes para se entender a produção da renda fundiária urbana: 1) processo de consumo do espaço construído da relação com a atividade comercial; 2) segregação sócio-espacial da cidade; 3) custos para apropriação e consumo habitacional; 4) delimitação de zonas industriais” (p. 42). Desse autor, eu trouxe a ideia de renda imobiliária sem desenvolver com mais profundidade. Essa ideia foi, nos últimos anos, “ressuscitada” por algumas pessoas, que não cabe aqui nominar com detalhes, como se fosse uma grande novidade teórica para se compreender a produção imobiliária na cidade, mas visando a metrópole.
A renda absoluta existe porque existe a propriedade da terra. Essa insofismável condição faz com que a terra, limitada na superfície do planeta, seja apropriada por um número pequeno de pessoas que submetem os outros à condição de não-proprietários. Esse aspecto é tão importante que, para verificar como se dá posse da terra urbana em presidente Prudente, busquei, nos jornais, durante uma década, os preços dos terrenos à venda, considerando aqueles proprietários que tinham mais que um terreno. O pressuposto era de que, com um terreno, o proprietário está exercendo seu direito de morar, de existir, e não de especular com a mercadoria solo. Quem tem mais de um terreno, tem aquele necessário para sua sobrevivência na cidade, mas tem, em suas mãos, uma mercadoria que pode auferir renda no ato de compra e venda.
Com esses passos, estavam lançadas as bases teóricas para a verificação empírica da produção e apropriação da renda. Mesmo assim, ainda quero lembrar que, mesmo que a propriedade do solo seja uma condição inata ao modo capitalista de produção, ela apresenta alguns obstáculos ao capital. Fui buscar em Harvey (1980) esses obstáculos:
1. O solo e a mercadoria têm localização fixa. A localização absoluta confere privilégios de monopólio à pessoa que tem os direitos de determinar o uso nessa localização. É atributo importante do espaço físico que duas pessoas ou coisas não possam ocupar exatamente o mesmo lugar, e esse princípio, quando institucionalizado como propriedade privada, tem ramificações muito importantes para a teoria do uso do solo urbano e para o significado do valor de uso e do valor de troca.
2. O solo e as benfeitorias são mercadorias as quais nenhum indivíduo pode dispensar (...). Não posso viver sem moradia de nenhuma espécie.
3. O solo e as benfeitorias mudam de mãos relativamente com pouca frequência.
4. O solo é algo permanente e a probabilidade de vida das benfeitorias é muitas vezes considerável. O solo e as benfeitorias, e os direitos de uso a ela ligados, por isso, propiciam a oportunidade de acumular riqueza.
5. A troca no mercado ocorre em um momento do tempo, mas o uso se estende por um período de tempo.
6. O solo e as benfeitorias têm usos diferentes e numerosos que não são mutuamente exclusivos para o proprietário (p. 135-136).
Com esses atributos, o solo e sua apropriação se, por um lado, são fundamentos básicos do sistema capitalista, por outro lado tornam-se obstáculos para a formação da renda, principalmente no momento em que a renda pode ser auferida, o que depende de uma relação social, que é o ato de compra e venda.
Mais uma vez, a linguagem cartográfica foi necessária. Ainda sem o domínio do computador, que estava entrando como ferramenta nas pesquisas dos geógrafos, tive que esboçar e desenhar todos os mapas utilizando o papel vegetal e a tinta nanquim. Ainda estávamos iniciando a última década do século XX.
Na minha opinião, a contribuição que trouxe, com a tese, foi explicar, baseando-me tanto em dados empíricos quanto da teoria da renda, que a cidade é produzida em um movimento de diástole (eufemismo necessário naquele momento) que ocorria quando os proprietários ou incorporadores decidiam por expandir o número de lotes vazios na cidade. Para isso, algumas áreas tinham maior apelo que outras. No caso de Presidente Prudente, as zonas sul e oeste eram “a bola da vez”. A terra rural, transformada em terra urbana nessas áreas, exprimiam-se me valores muitas vezes maior do que o metro quadrado das glebas em outras áreas da cidade.
Alguns raciocínios foram catalisadores da dinâmica imobiliária (respeitante a mercadoria lote produzido) em Presidente Prudente: 1) “A dinâmica do mercado fundiário e, portanto, o crescimento territorial da cidade faz-se sob a lógica da produção monopolista” (1,35% dos habitantes da cidade tinham, em suas mãos, 56,3% dos lotes vazios na cidade de Presidente Prudente); 2) “o solo urbano (...) emerge, para a classe dos proprietários de solo, como reserva de valor (...). Concomitante e contraditoriamente, o solo é também continente da renda capitalizada que se realiza no ato de compra /venda; 3) monopolização do território baseada na propriedade como reserva de valor (...) forma a estrutura (...) que vai determinar a dinâmica própria da expansão da malha urbana” (SPOSITO, 1990, p. 141).
Destaco, também, a apropriação da renda pelo poder público via IPTU que se realiza pela transferência de ramo da mais-valia social quando se torna salários dos funcionários públicos. Por outro lado, o poder público também pode utilizar essa arrecadação para exercer seu direito de evicção nos processos de desapropriação de áreas urbanas, fazendo com que elas possam “voltar” para a população da cidade.
Eu afirmei, nas conclusões, que “a renda do solo realiza-se em sua forma absoluta, quando a base mais clara é propriamente a garantia da propriedade privada; na forma diferencial, quando se evidenciam suas relações de localização e construtibilidade; e na forma de monopólio, que muitas vezes se confunde com a diferencial, quando a segregação espacial é estimulada e assumida pelo consumidor do espaço urbano” (SPOSITO, 1990, p. 144).
Por outro lado, “se, em sua forma plena, a propriedade privada, pelo fato de ser continente de capital, imobiliza-o, transformando-se em obstáculo para sua reprodução, quando objeto de especulação liberta-o desse caráter de obstáculo, permitindo sua realização crescente”.
Para concluir, a apropriação da renda fundiária ocorre quando: 1) ocorre o loteamento urbano, transformando a terra rural em terra urbana; 2) pelo recolhimento dos tributos municipais, pelos investimentos públicos em áreas selecionadas da cidade; 3) o papel dos investimentos públicos em áreas diferenciadas da cidade; 4) pela transferência de ramo de parte da mais-valia social (SPOSITO, 1990, p. 146). A apropriação da renda se dá em escala individual (quando ocorre a venda do lote), mas no nível da economia urbana, é “posterior ou concomitante aos períodos de expansão da malha urbana” e, considerando o mercado fundiário, é quando “ocorrem mudanças conjunturais na economia em escala nacional” e, em termos de magnitude, é determinada pela transformação da terra rural em terra urbana ou pela diferença de preço entre o momento de produção do solo, dependendo da localização e da taxa de juros vigente no mercado (p. 147).
Acredito que, com esse estudo, lancei bases para a análise, compreensão e explicação da dinâmica fundiária urbana, sugeri uma metodologia adequada para o estudo da cidade e encontrei uma fonte simples, mas eficaz, para a obtenção da informação geográfica necessária e suficiente para esse tipo de estudo. Todos esses elementos (dos três últimos parágrafos) conformam uma teoria da produção e apropriação da renda fundiária urbana.
A CHEGADA NA FILOSOFIA
Desde o tempo das leituras para a tese, alguma coisa me incomodava, tanto nelas quanto nas conversas que ouvia de geógrafos. Os meus mestres não me alertaram para a importância do método, por isso fui observando que havia confusão (ou, no mínimo, despreocupação) com palavras científicas fundamentais, como método, conceito e categoria. Era preciso, ao meu ver, dar atenção a essa questão fundamental na Geografia porque ela se pretendeu, sempre, como conhecimento científico. A Geografia deu uma guinada importante quando, mais do que procurar seu objeto (que permeou toda a produção d “geografia tradicional”
Começando pelo método, depois de apresentar várias definições trazidas por vários filósofos, e considerando aquilo que estava ora implícito, ora explícito em inúmeras obras, cheguei à proposta de mostrar que há três métodos que comportam todas as ciências e por elas podem ser utilizadas porque dão conta da orientação, ao cientista, na construção do conhecimento científico. Não era, portanto, apenas uma questão semântica, mas de clareza e conteúdo.
O método hipotético-dedutivo representa o que decorreu da proposta cartesiana do método científico. Esse método fundamenta-se na formulação de hipóteses, no exercício do trabalho empírico, na formação das explicações (tanto do ponto de vista dedutivo, do geral para o particular, quanto indutivo, do particular para o geral), e na perspectiva da elaboração do conhecimento como utilidade e possibilidades de previsão. Mesmo que nem sempre se encontre correspondência perfeita entre experimentos e observações, por um lado, e deduções, por outro, a importância desse método reside no fato de que ele abriu caminho para a dessacralização da natureza (aí compreendido o corpo humano) e da certeza de que o conhecimento poderia ser cumulativo porque uma das técnicas utilizadas é a anotação da experimentação e a linguagem matemática.
Por isso mesmo, a doutrina que se fortalece com esse método é o positivismo, até início do século XX e, a partir daí, o neopositivismo. A contribuição de Popper, produto do Círculo de Viena, recuperou a discussão de que a ciência tem uma única linguagem, a matemática. As dificuldades em representar o mundo real é uma dificuldade para o cientista social porque depende da experiência. Assim, seria difícil determinar se um enunciado é verdadeiro ou não pois, se não for verdadeiro, não terá nenhum significado, chegando à conclusão de que a indução não existe. Popper, então, afirma que “um sistema como empírico ou científico se ele for passível de comprovação pela experiência”. Seguindo esse raciocínio, eu afirmei que “a verificação das verdades científicas e o dimensionamento do progresso da ciência só poderão ser feitos através do critério de demarcação que ele chama” de “falseabilidade de um sistema”. Por essa razão, “para ser legítimo, um sistema científico terá que ser validado “através do recurso a provas empíricas, em sentido negativo: deve ser possível refutar, pela experiência, um sistema científico empírico” (p. 42) (12). Em resumo, o método hipotético-dedutivo caracteriza-se pela busca da informação por meio do experimento que se torna verdadeiro se não for falseado, permitindo acúmulo do conhecimento e previsibilidade por meio da ciência. Elaborei, para mostrar a importância da técnica (e da linguagem matemática) sobre o pesquisador, a seguinte representação: Sujeito < Objeto, mostrando que o sujeito se torna menos significativo que a abordagem do objeto, que dependia, também, das convenções elaboradas socialmente, como as medidas, as descrições e a forma de apresentação dos resultados.
O método analítico-dialético tem suas raízes na dialética de Aristóteles, que descobriu que o ser humano tem imaginação e que, invertendo as preocupações socráticas e platônicas (debruçados nas formas eternas ou nas ideias, afastando-se do mundo dos sentidos, para quem as ideias eram mais reais que os fenômenos naturais), deu ênfase no conhecimento empírico por meio da especulação da natureza. Seus ensinamentos eram peripatéticos e, ao invés de professar que o conhecimento era inato e seria necessário, por meio da linguagem, que a pessoa falasse para dar à luz seu próprio conhecimento (um dos atributos de sua alma), Aristóteles partia da observação, classificação, comparação e análise para elucidar o que era conhecimento; ele deu força aos sentidos para produzir conhecimento. Como afirmou Gaarder (1995), a realidade é composta, pela ótica aristotélica, “por diferentes coisas que, tomadas separadamente, são elas próprias compostas de forma e de matéria” (p.126-130).
Hegel faz uma releitura de Aristóteles, trazendo para o plano das ideias sua dialética que, mais tarde, tem leitura revertida por Marx e Engels, que a utilizam para explicar o desenvolvimento da sociedade sob a ótica do materialismo histórico. A dialética é retomada com a ideia de confronto de ideias que se interpenetram, fazendo com que as negações não sejam antinomias mas aspectos que se complementam, levando em conta a historicidade do mundo e a possibilidade de, no processo de conhecimento, buscar-se sempre elevar seu patamar de abstração a um nível mais amplo e com maior compreensão. As leis da dialética estão aí expostas de maneira simplificada. Os sentidos são fundamentais para a produção do conhecimento porque todo conhecimento é humano.
Esse embate histórico levou a uma classificação das divergências: Hegel permaneceu com a dialética idealista e os estudos de Marx e Engels e todos aqueles decorrentes de suas proposições, ficaram conhecidos como da dialética materialista (baseada no pressuposto de que a matéria vem antes da ideia porque esta é decorrente daquela e não o oposto, como professava Engels).
Em resumo, repetimos o que afirmou Lencioni (1999): “Karl Marx e Friedrich Engels conceberam o método materialista dialético, que contém os princípios da interação universal, do movimento universal, da unidade dos contraditórios, do desenvolvimento em espiral e da transformação da quantidade em qualidade” (p. 159). O conceito de práxis torna-se fundamental para o entendimento da dialética como método.
A representação que elaborei para representar a relação sujeito e objeto é a seguinte: Sujeito > < objeto. Esta alegoria mostra a relação dialética entre aquele que produz conhecimento e aquilo que é estudado. Nessa relação, sujeito e objeto se transformam mutuamente, no tempo, a partir do momento que interagem no processo de produção do conhecimento.
Mas utilizar o método não é tarefa fácil nem é resultante de um receituário que se encontra na universidade. O uso do método é complexo porque ele ocorre, plenamente, quando se torna o caminho para a investigação científica em toda sua plenitude. Frigotto (1989), por exemplo, enuncia alguns pontos que merecem atenção na pesquisa em ciências sociais no meio universitário: - “há uma tendência de tomar o ‘método’ como um conjunto de estratégias, técnicas, instrumentos; - “a teoria, as categorias de análise, o referencial teórico, por outro lado, aparecem como uma camisa-de-força; - “a falsa contraposição entre qualidade e quantidade” é resultado de “uma leitura empiricista da realidade e a realidade empírica”; - é preciso pensar na dimensão do sentido “necessário” e “prático das investigações que se fazem nas faculdades, centros de mestrado e doutorado” (p. 83).
O terceiro método (não em termos hierárquicos, mas apenas numa sequência aleatória) é o fenomenológico-hermenêutico. Para mim, é o método de mais difícil apreensão pelos pesquisadores porque ele depende, em primeiro lugar, da exposição das ideias elaboradas na pesquisa por meio da linguagem (composta, complexa e compósita) que não é, necessariamente, um meio de fácil transmissão do conhecimento (o senso comum e o conhecimento religioso podem mutilar o conhecimento científico e filosófico, por exemplo). Ele foi proposto, sob a denominação de fenomenologia, por Husserl que fazia a crítica a toda razão especulativa e idealista. Nestas duas denominações, ele criticava o materialismo histórico por sua forte componente ideológica (porque os escritos de Marx e Engels engendraram revoltas e movimentos de reação dos não proprietários do capital contra os proprietários do capital) e o idealismo por ser apenas o respaldo de ideias que não tinham fundamento científico.
Nunes (1989) afirma que “o projeto fenomenológico se define como uma ‘volta às coisas mesmas’, isto é, aos fenômenos, aquilo que aparece à consciência, que se dá como seu objeto intencional”. Neste ponto, destaco um elemento fundamental para o método fenomenológico-hermenêutico: o conceito de intencionalidade. Esse conceito “ocupa um lugar central na fenomenologia, definindo a própria consciência como intencional, como voltada para o mundo” (p. 88).
Então: considerando a intencionalidade do cientista, para Husserl, a fenomenologia seria o meio de superar a oposição entre realismo e idealismo. É o modo de ser do eu-pensante que deveria ser revelado. A observação, a descrição e a organização das ideias tornam-se os passos metodológicos para esse método. Além disso, a realidade se revelava por meio da redução fenomenológica. Essa estratégia metodológica significa incorporar a experiência do sujeito na produção do conhecimento, na sua relação com o objeto, o que se torna autêntico nessa visão. O mundo é o objetivo e a apreensão dele se faz por meio do pensamento, ou seja, na redução fenomenológica. Mesmo assim, ainda, o mundo é uma abstração. Por isso, esse método se torna útil para os estudos de grupos sociais, com estratégias como a vivência do objeto, a pesquisa-ação, do inter-relacionamento entre sujeito e objeto que, cada um a seu modo, são constituídos por sua própria realidade. O cientista apreende a realidade, portanto, pensando alguma coisa. A figura do pesquisador executa a redução do fenômeno para sua abordagem.
Uma crítica que se faz a esse método é a força da explicação científica. Como é por meio da linguagem que se transmite o conhecimento, como se convence um outro de que o que se expõe é realmente científico?
A alegoria a esse método é a seguinte: Sujeito > objeto. Ela significa a redução fenomenológica e a supremacia do sujeito em relação ao objeto porque este é apreendido a partir da abstração daquele.
Em defesa desse método, comecei a ver, há alguns anos, o crescimento do seu uso (mesmo que, em muitos casos, de maneira simplificada e reducionista) na valorização da pesquisa qualitativa. Nos tempos que podem ser classificados de pós-modernos, quando as grandes narrativas perdem força (embora não desapareçam), as miradas às pessoas, com o fortalecimento da Psicologia e da Filosofia em seus aspectos especulativos, fazem com que a proximidade entre sujeito e objeto e os estudos em escalas locais, de grupos sociais, da pessoa em si, das percepções sociais e outras questões postas em pauta, podem ser a explicação para esse fortalecimento.
Talvez eu tenha que, a partir disso, repensar e revisitar o conceito de horizonte geográfico que, na minha dissertação, elaborei na interface com a Psicologia.
Acredito que outra contribuição que eu trouxe para a geografia foi a necessidade de se ter cuidado com a utilização das palavras conceito e categoria. Não foi resultado das leituras geográficas, mas da interface com a Filosofia. Sobre o conceito, embora eu tenha estudado várias contribuições, foi em Deleuze e Guattari (1992) que encontrei a definição suficiente para ele: “não há conceito simples” porque ele contém algumas características: - “todo conceito tem componentes e se define por eles”, - “todo conceito tem um contorno irregular”, - o conceito é questão de articulação, corte e superposição, é um todo, porque totaliza seus componentes, mas um todo fragmentário”. Além de tudo, “todo conceito remete a um problema”, e os problemas exigem “soluções” pois “são decorrentes da pluralidade dos sujeitos, sua relação, de sua apresentação recíproca” (p. 27-28). Aí estava o suficiente para mostrar a importância, a dimensão e a necessidade de se olhar o conceito como ele é cientificamente, diferenciando-o da ideia e da noção. Diferentemente da categoria, o conceito é uma noção abstrata ou ideia geral, resultado do intelecto humano. Em outras palavras, o conceito não é algo que sempre existiu, mas é construção por meio da especulação científica ou filosófica que se torna um elemento explicativo contido em uma teoria.
A categoria, por outro lado, é a essência ideal da realidade. Ela existe independentemente da produção científica. Ela é componente que não depende do pensamento para existir. Ela está na unidade do método e do discurso. Aristóteles elencou dez categorias (sem as quais não se compreenderia a realidade): sujeito (substância ou essência), quantidade, qualidade, relação, tempo, lugar, situação, ação, paixão e possessão.
Kant elaborou um quadro com 16 categorias que se inter-relacionam em todas as direções e sentidos, complementando-se e se negando.
Cheptulin (1982, p. 258) afirma que a dialética tem as seguintes categorias: matéria e consciência, singular, particular e universal, qualidade e quantidade, causa e efeito, necessário e contingente, conteúdo e forma, essência e fenômeno, espaço e tempo. Observe-se que, com exceção da relação entre singular e universal, as categorias aparecem como pares dialéticos. Nesta lista, há quatro categorias “bem geográficas”: espaço e tempo, conteúdo e forma que, como elementos básicos da realidade, conformaram a proposta de método de Milton Santos (1985): o método seria ancorado nas categorias processo e conteúdo, forma e função.
À categoria e ao conceito juntam-se, no debate dos métodos, lei, teoria, doutrina e ideologia. Não vou discorrer sobre esses elementos do método neste texto. Deixo ao leitor a consulta ao livro Geografia e Filosofia (v. referências).
Para completar a análise do método, quero enfatizar uma mudança paradigmática fundamental que ocorreu, grosso modo, na ebulição do Renascimento europeu. A preocupação, quando do domínio da razão religiosa na Idade Média era explicar por que o mundo existe. Sua origem divina, negando a ideia de caos (a primeira divindade) de Hesíodo, cujas bases para entendimento do mundo era a natureza, como ela se apresentava aos sentidos, engessou a capacidade humana de ir além da obediência e da oração. Quando a pergunta se transforma em como (Como o mundo funciona? Qual a mecânica do universo e como ela pode ser apreendida pela razão?), a revolução no pensamento humano e, portanto, o lançamento das bases da ciência moderna estava dado. A dessacralização do corpo humano (estudos de anatomia humana, descoberta da lógica da corrente sanguínea etc.); a descoberta da perspectiva; a elaboração das leis da mecânica celeste; a descoberta da gravidade universal; a invenção da caravela acelerando as navegações para mares nunca dantes navegados; o uso da pólvora, inventada pelos chineses; a invenção da imprensa, que permitiu a divulgação dos escritos em sua forma original para todas as pessoas, diminuindo a importância da transmissão seletiva ou oral do conhecimento, entre tantos outros fenômenos consideráveis, foram fundamentais para revolucionar o pensamento científico, as artes, a educação, enfim, a visão de mundo se transformou radicalmente.
É importante essa constatação: a mudança de uma pergunta (aqui, mostrada de maneira bem simplificada) provocou a mudança de paradigma e isso provocou uma revolução na forma da humanidade pensar e de produzir conhecimento. Esse fenômeno não pode ser negligenciado por aqueles que pensam a ciência, mesmo que pelos prismas da Geografia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não quero concluir com ideias definitivas. Desde o primeiro parágrafo minha intenção foi abrir o diálogo com o leitor para a releitura de um exemplo (ou uma possibilidade) de produção do conhecimento geográfico intermediado pela inter e pela transdisciplinaridade, retirando a Geografia e o método científico de seus grilhões disciplinares. Mesmo assim, ficou claro que, desde o primeiro texto, ainda nos tempos da graduação em Geografia, teve como principal preocupação a cidade. Desde a cidade pequena, objeto no mestrado à cidade média, no doutorado, outros projetos (muitos trabalhados coletivamente) tiveram esse recorte da realidade brasileira como foco principal. Uma vez na interface com a Psicologia, outra com a Economia Política, aspectos da Demografia permeando vários trabalhos, a Filosofia entrando em cena na livre docência e na prova didática do concurso de titular, eis a cidade presente nas minhas preocupações. Ela veio, ficou e ainda continua ali, no horizonte próximo.
Para terminar, quero registrar que, como nosso ambiente de trabalho é a universidade e o laboratório da Geografia é o mundo, a linha interpretativa que segui, neste texto, mostrou a multiplicidade de possibilidades de se produzir ideias, realizar análises, esboçar explicações, propor delineamentos teóricos e, acima de tudo, contribuir com a interpretação do mundo.
REFERÊNCIAS
CHEPTULIN, Alexander. A dialética materialista: categorias e leis da dialética. São Paulo: Alfa-Ômega, 1982.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é Filosofia? São Paulo: 34, 1992.
FRIGOTTO, Gaudêncio. O enfoque da dialética materislista histórica na pesquisa educacional. In: FAZENDA, Ivani (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 1989. p. 69-90.
JARAMILLO, Samuel. El precio del suelo y la naturalez da sus componentes. Bogotá, 1982 (mimeog.).
LEFEBVRE, Henri. Lógica formal/lógica dialética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983.
LEWIN, Kurt. La teoria del campo em la ciencia social. Barcelona: Paidós, 1968.
NUNES, César A. Aprendendo Filosofia. Campinas: Papirus, 1989.
REBOUR, Thiery. La théorie du rachat: Géographie, Économie, Histoire. Paris: Publications de la Sorbonne, 2000.
SANTOS, Milton. Espaço & método. São Paulo: Nobel, 1985.
SPOSITO, Eliseu S. Espaço. In: SPOSITO, Eliseu S. (org.). Glossário de Geografia Humana e Econômica. São Paulo: Editora Unesp, 2018, p.
SPOSITO, Eliseu S. Geografia e Filosofia. São Paulo: Editora Unesp, 2004.
SPOSITO, Eliseu S. Migração e permanência das pessoas nas cidades pequenas. Os casos de Pirapozinho e Álvares Machado na Alta Sorocabana. USP/FFLCH, 1984 (Dissertação de Mestrado).
SPOSITO, Eliseu S. Produção e apropriação da renda fundiária urbana em Presidente Prudente. São Paulo: USP/FFLCH, 1990 (Tese de Doutorado).
TOPALOV, Christian. Le profit, la rente et la ville. Élements de théorie. Paris: Economica, 1984.
NOTAS
1 - Quem viu o filme Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, vai ter uma imagem muito parecida – anos 1960 – àquela que eu vivi em relação ao Cine Vera Cruz.
2 Este texto, em vários trechos, oscila da primeira pessoa do singular para a primeira do plural, dependendo da necessidade de se narrar fatos individuais ou coletivos
3 - Esta frase é referência à melhor música de todos os tempos, para mim, é C’era um ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, de Migliacci e Zambrini, cantada por Gianni Morandi. Em português, foi gravada pelos Incríveis e Engenheiros do Hawai. Ela reúne a revolta com a guerra do Vietnã, o romantismo nômade dos anos 1960 e o sonho de liberdade que moveu a juventude ocidental nessa época.
4 - O conceito de espaço vital de Kurt Lewin não tem nada a ver com o conceito de espaço vital de Friedrich Ratzel.
5 - Inseri, no texto, algumas informações quantitativas que podem ser observadas, com maiores detalhes, em meu CV Lattes, disponível na página do CNPq.
6 - O GAsPERR está cadastrado na Plataforma dos Grupos de Pesquisa do CNPq e na Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UNESP
7 Transcrevo, aqui, texto publicado na revista Entre-Lugares, da UFGD – Dourados. A referência é: SPOSITO, Eliseu S. As Geografias que me fizeram. Revista Entre-Lugar (UFGD. Impresso), v. 10, p. 13-37, 2020. Acredito que o texto mostra, de maneira bem clara, como fui lendo a realidade e utilizando diferentes teorias.
8 SPOSITO, Eliseu S. Geografia e Filosofia. São Paulo: Editora UNESP, 2004.
9 SPOSITO, Eliseu S. Espaço. In: SPOSITO, Eliseu S. Glossário de Geografia Urbana e Econômica. São Paulo: Editora UNESP, 2018, p. 171-186.
10 SPOSITO, Eliseu S. População urbana e rural em São Paulo. Anais. 7º. Congresso Brasileiro de Cartografia. São Paulo, 1975, p. 367-446.
11 SANTOS, Milton. Espaço & método. São Paulo: Nobel, 1985
12 Aqui, utilizo o texto que escrevi com as citações de Popper
-
 DIRCE MARIA ANTUNES SUERTEGARAY
DIRCE MARIA ANTUNES SUERTEGARAY Biografia de Dirce Maria Antunes Suertegaray
1 DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO TEÓRICO
Eu, Dirce Maria Antunes Suertegaray, sou filha primogênita de José Luiz Gorostides Suertegaray e de Clori Antunes Suertegaray (Figura 1), tendo uma irmã, Mara Regina Suertegaray Ardais. Sou divorciada e tenho uma filha, Maíra Suertegaray Rossato, e dois filhos, André Luiz Suertegaray Rossato e Rafael Suertegaray Rossato.
Nasci na região da Campanha do Rio Grande do Sul. O município em que nasci – Quaraí ‒, localiza-se na fronteira com o Uruguai. Sou fronteiriça, nascida nas “barrancas” do rio Quaraí, que faz a fronteira do Rio Grande do Sul com o Departamento de Artigas, no Uruguai (Figuras 2 e 3).
Eu sou filha de um comerciante, ainda que tenha nascido no campo. Meu pai possuía, lá onde nasci, um armazém de secos e de molhados (uma “venda”, no linguajar popular), que comercializava alimentos (arroz, açúcar, farinha, feijão, erva-mate), fumo de corda, cachaça, salame, vinho, doces, tecidos em geral, homeopatias, alparcatas, abajures, armarinhos e muitas outras coisas.
Vivi nesse lugar, até os oito anos. Era o lugar das antigas charqueadas. A região em que nasci, no município de Quaraí, se chama Saladeiro, palavra espanhola que designa charqueada. Ali, existiam dois grandes saladeiros, o São Carlos e o Novo São Carlos. Ambos produziam, da carne, o charque, que era vendido para o Uruguai. Estes saladeiros pararam suas atividades, nos anos 1930. Depois, fomos, minha família (pai, mãe e irmã) e eu, morar na cidade de Quaraí e, passado um tempo, morei dois anos em Artigas, no Uruguai.
Cursei o primário e o ginásio em Quaraí (Figuras 4 e 5); sempre, em escola pública.
No Ensino Médio ‒ considerando que Quaraí é uma cidade bastante pequena, que, hoje, tem em torno de 23 mil habitantes e que está regredindo, em termos de população, segundo o censo do IBGE –, deixei a cidade, com 15 anos, para estudar. Naquela época, poderia escolher entre as modalidades Científico, Clássico e Normal. Optei por cursar a Escola Normal.
Cursei um ano e meio de Escola Normal, em Uruguaiana, na Escola Elisa Ferrari Valls. Como desejava continuar estudando e fazer um curso superior, o único caminho seria ir para outra cidade. Mudei-me para Santa Maria, aos 16 anos, e, lá, conclui a Escola Normal, no Instituto Olavo Bilac (Figura 6).
Em 1969, prestei vestibular para o curso de Geografia da Universidade Federal de Santa Maria. À época, só existia o curso de Licenciatura em Geografia. Formei-me e me dediquei à profissão de professora, e nunca fiz o curso de Bacharelado. Portanto, eu não sou Bacharel em Geografia, mas, sim, professora de Geografia (Figura 7).
Esses foram os anos 1950 e 1960 e o início dos anos 1970. Na década de 1950, vivi praticamente no campo e, nesse tempo, minha vida de criança foi brincar com o que o lugar oferecia, incluindo tomar banhos de rio, montar fazendinhas de gado com ossos, andar de balanço rústico (feito de corda e com assento de pelego) e escalar as ruinas do saladeiro, que compunham o pátio de minha casa, entre outras brincadeiras. Na década de 1960, vivi em Quaraí e, em parte, na cidade de Artigas, no Uruguai. No início dessa década, iniciava o Ginásio e, além de estudar, vivia os inícios da adolescência e da vida política estudantil. Durante os anos 1960, vivi a inauguração de Brasília; a vitória eleitoral de Jânio Quadros (o vassourinha) e de João Goulart, presidente e vice-presidente do Brasil, respectivamente; a renúncia do Jânio Quadros; o impedimento do vice João Goulart de assumir a presidência; o movimento denominado Legalidade (de 1961), cuja liderança foi de Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, que desencadeou uma resistência, garantindo a posse de Jango (João Goulart) na presidência da República; o golpe militar de 1964 e a Ditadura Militar. Em 1969, ingressava na UFSM, sob o Ato Institucional nº 5, aprovado em dezembro de 1968 pelo governo Médici, dando início aos chamados anos de chumbo.
Também nessa década, joguei vôlei, dancei, fiz carnaval, viajei e tive muitos amigos em Quaraí, no Brasil, e em Artigas, no Uruguai. Assisti à peça de teatro Hair, em São Paulo, ouvi os Beatles e os Rollings Stones, ouvi bossa nova, assisti aos surgimentos da MPB e da Tropicália, à luta contra o racismo, ao avanço do feminismo, ao movimento contra a guerra do Vietnã, ao maio de 1968, à chegada do homem à Lua, entre tantos outros acontecimentos.
Os anos 1970 iniciaram sombrios, com projetos de mudanças na universidade, com a implantação dos acordos MEC-Usaid, com a reforma universitária, com a reforma dos ensinos Fundamental e Médio, com perseguições, com prisões, com torturas e com exílios. Havia desaparecidos no Brasil, no Uruguai, na Argentina, e havia o amigo uruguaio, preso, que não voltou...
Mas a década de 1970 também acompanhou minha formatura no curso de Geografia, meu primeiro emprego como professora, no Colégio Santa Maria, meu início de carreira no ensino superior, na FIDENE-Unijuí, meu curso de mestrado, na USP, e meu regresso à Santa Maria, como professora colaboradora da UFSM (1978).
2 A ESCOLHA PELA GEOGRAFIA
No pior período da Ditadura Militar, cursei Geografia na Universidade Federal de Santa Maria. E, lá, nada, absolutamente, se ouvia falar sobre o que vivíamos. O curso de Geografia, no qual me formei, ensinava uma Geografia descritiva, banal, digamos, sem nenhuma discussão, sem construção política e/ou sem engajamento social. No final do meu curso, ao redor de 1972, começaram a emergir algumas discussões, por conta da reorganização dos diretórios acadêmicos, no sentido de revigorar a política. Além disso, participei no MUSM (Movimento Universitário de Santa Maria), em que se discutia política, entremeada pelo cristianismo (os coordenadores eram dois padres católicos, professores universitários do curso de Filosofia). As disciplinas fortes do curso, que nos permitiam ampliar o conhecimento, eram: geomorfologia, geologia, pedologia, climatologia, biogeografia e mineralogia. Ou seja, o “forte” da UFSM era a Geografia Física. Entre elas, meu interesse foi sendo direcionado para a Geomorfologia, ministrada pelo brilhante professor Ivo Lauro Müller Filho, cujas aulas, sem dúvida, estimulavam a todos, a partir de suas atividades de campo, de seu conhecimento e, sobretudo, de suas aulas, ilustradas com desenhos, com croquis, com perfis, que nos permitiam compreender melhor as formas, os processos e as estruturas e suas transformações, no âmbito da Geografia. Seus desenhos expressavam sequencialmente a temporalidade. Nesse contexto, minha opção, sem a menor dúvida, foi pela Geomorfologia.
Entre a escolha pela Geomorfologia e o prosseguimento dos estudos, cabe dizer que, seis meses depois de formada, fui contratada pela atual Unijuí (antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí (FIDENE), para ensinar Cartografia no curso de Geografia. Trabalhei num departamento interdisciplinar (de Ciências Sociais). Nele, trabalhavam o Frei Mathias (Mário Osório Marques), Dinarte Belatto, Helena Callai, Jaime Callai, Danilo Lazarotto, José Miguel Rasia, entre tantos outros nomes. Constituía-se um departamento vinculado à FFLCH, com professores atuantes em várias áreas, como Educação, Filosofia, Economia, Antropologia, História, Geografia, Sociologia, Estatística. Esse grupo era muito jovem, à época, com maioria na faixa dos 22 aos 30 anos. Era um grupo que estudava. Ao chegar lá, eu era uma página em branco, do ponto de vista da discussão dos teóricos das humanidades e da leitura da realidade social.
A instituição tinha uma postura crítica, frente à realidade brasileira, além de um trabalho comunitário como base educacional. Nas reuniões de departamento, os professores selecionavam textos clássicos da Filosofia, da Antropologia, da Sociologia e esses textos eram lidos e discutidos, coletivamente. Este espaço foi a minha segunda universidade. Com estes colegas, li Kant, Conte, Weber, Marx e Engels, entre tantos outros, que começaram a modificar minha maneira de ver o mundo. Na FIDENE, entrei em crise com minha opção pela Geomorfologia.
Já estávamos na metade dos anos 1970 e comecei a me questionar, se deveria prosseguir o meu caminho, anteriormente definido, e vir a ser uma geomorfóloga, ou se deveria abandonar tudo e seguir na Geografia Humana. Isso perdurou pelo tempo em que fiquei na FIDENE. Entretanto, como trabalhava com a Geografia Física, a FIDENE, que tinha uma política de aperfeiçoamento pessoal, possibilitou-me o acesso ao mestrado, mas na área da Geografia Física, que era a demanda da instituição. Assim, retomo meu interesse pela Geomorfologia e me licencio da instituição, para fazer o mestrado. Ainda que a dissertação tenha ficado na gaveta, ou na prateleira, tratava da questão da erosão do solo, em decorrência da ocupação das encostas do planalto Meridional do Rio Grande do Sul, em zonas de pequenas propriedades, de colonização italiana e/ou alemã. Fiz essa leitura, a partir do limite de uma bacia hidrográfica, na escarpa, mais a oeste do planalto, que converge para a Depressão Central ‒ a bacia do rio Toropi. Neste trabalho, já ficava explícito meu interesse pela articulação entre natureza e sociedade. A análise foi pautada pelas formas, com que os colonos trabalhavam a terra, sob forte estímulo de incentivos fiscais, visando à expansão da cultura da soja, processo que promovia, devido às dimensões de suas propriedades e à necessidade de obterem maior renda, o desmatamento de suas pequenas parcelas, cuja localização em lugares íngremes favorecia à erosão.
3 - OS ANOS 1980, 1990 E 2000...
Nos anos 1980, assumo, na UFSM, como professora efetiva, permanecendo, concomitantemente, até 1982, como professora horista, na FIDENE. Concluo o mestrado na USP, em 1981. Casada, nessa época, meu marido cursava Medicina Veterinária na UFSM e, ao se formar, vem trabalhar em Porto Alegre. Em 1983, solicito afastamento da UFSM, para realizar o doutorado na USP e, em 1985, sou transferida para a UFRGS, sob a legislação que facultava o acompanhamento do cônjuge.
Nessa década, intensificam-se minhas atuações profissional e política. Participo da AGB local da secção Porto Alegre, atuando como secretária em uma gestão e como diretora, em outra, e início a participação nas gestões coletivas da AGB nacional. Da mesma forma, participo do movimento docente, junto à ADURGS, enquanto representante do Instituto de Geociências da UFRGS. Penso que estas duas participações, na AGB-POA e na ADURGS, foram fundamentais, para ampliar minha atuação política, fazendo com que, na continuidade, tomasse parte em três diretorias nacionais da AGB (uma, como secretária; outra, como Vice-Presidenta; e uma última, como Presidenta), enquanto, internamente, na UFRGS, estivesse ocupado, entre outros cargos, a Vice-Direção do Instituto de Geociências. Merece ser citado, ainda, o envolvimento com a discussão ambiental em Porto Alegre, emergente, nessa década, sobretudo, na ampliação do debate com a população porto-alegrense, a partir de uma pesquisa construída por mim, em parceria com João Osvaldo R. Nunes (bolsista de Iniciação Científica, à época), e da discussão e dos encaminhamentos, relativos aos cursos de Licenciatura e de Estudos Sociais. Ainda nessa década, em 1988, concluo o curso de doutorado.
Também nos anos 1980, além das atividades profissionais, tive minha filha (em 1978) e meus filhos (em 1981 e em 1985).
Ainda em 1988, fui chamada a compor chapa na eleição da AGB, como segunda secretária, na gestão de Arlete Moysés Rodrigues. A gestão se encerrou, em 1990, no Encontro de Salvador da AGB. Em 1992, fui chamada, já ao final da assembleia, para assumir o cargo de Vice-Diretora na gestão do Zeno Crossetti. Ao finalizar a gestão, em 1994, considerei cumprida a minha missão, junto à AGB.
No início da década de 1990, o casamento se desfaz e, por necessidade familiar, tomei a decisão de me afastar do envolvimento na AGB, ainda que permanecesse com cargos administrativos na UFRGS (na Vice-Direção do Instituto de Geociências, na coordenação da Graduação e na chefia de departamento), além de continuar com participações em fóruns, em câmaras e em comissões internas. Retorno à AGB no Encontro de Florianópolis (2000), pois, nesse momento, estava sem nenhum compromisso/cargo acadêmico e meus filhos já estavam crescidos e iam, gradativamente, tornando-se independentes.
Chamada por Carlos Walter Porto-Gonçalves e por Bernardo Mançano Fernandes para uma reunião política, saio da reunião de Florianópolis como candidata à presidência da AGB-DEN. Eleita, assumo mais dois anos na AGB (2000/2002), agora, como Presidenta.
Ao encerrar a gestão na presidência da AGB, fui convidada pelo colega Maurício de Abreu para compor a comissão de avaliação da CAPES. Num primeiro momento, relutei em aceitar, mas fui convencida por Maurício, quanto à importância de participar em comissões dessas instâncias. Aceito o convite e permaneço atuando na CAPES entre 2002 e 2004, como membro da Comissão, e entre 2005 e 2007, como coordenadora de área, juntamente com o colega Ariovaldo Umbelino de Oliveira, coordenador-adjunto.
Atuando, desde 1985, como professora de Geografia na UFRGS, crio, coletivamente, nos anos de 1990 e de 2000, juntamente com os colegas Álvaro Heidrich, Nelson Rego, Roberto Verdum, Rosa Medeiros, entre outros, o curso noturno de Geografia (1993), o curso de mestrado em Geografia (1998) e o curso de doutorado em Geografia (2004). Do projeto inicial do mestrado participaram os colegas externos Helena Callai, José Vicente Tavares, entre outros. A pesquisa foi se desenvolvendo, sempre, com a participação de alunos da graduação (IC) e de orientandos da pós-graduação e através de projetos, como o do Grupo Arenização/desertificação: questões ambientais, criado e registrado no CNPq, em 1989, a partir de parceria com os colegas Roberto Verdum e Laurindo Antônio Guasselli.
4 APÓS OS ANOS 2010...
Assumo a coordenação do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFRGS, praticamente, ao final de minha carreira ativa na Universidade, ou seja, na véspera de obter minha aposentadoria (2010-2011).
Em 2012, aposento-me, embora permaneça ligada ao POSGea-UFRGS. Nessa década, o Núcleo de Estudos em Geografia e Ambiente (NEGA), criado em 2003, já se constituía num espaço ativo na pesquisa, no ensino e na extensão. Esta experiência permitiu a parceria dos pesquisadores do NEGA, alunos e professores, com os gestores do ICMbio e com os ribeirinhos da Floresta Nacional de Tefé (FLONA de Tefé). O objetivo desta parceria era de produzir mapas básicos da FLONA, o mapa de uso da terra (participativo) e dar acompanhamento às reuniões e ao Conselho, com vistas à elaboração do Plano de Manejo dessa Unidade de Conservação. Esta experiência foi ímpar, por nos aproximar da realidade Amazônica, por permitir produzir conhecimento de forma participativa, por integrar conhecimentos, via discussão interdisciplinar, por promover a troca de saberes entre ribeirinhos e acadêmicos, por terem sido produzidos, além dos mapas previstos, textos com finalidade didática sobre a FLONA, além do Atlas Escolar da FLONA, uma demanda dos ribeirinhos no processo de mapeamento participativo e nas reuniões de encaminhamento de sugestões de continuidade.
Encerrada essa etapa, outra oportunidade se abriu: tratava-se do edital para professor visitante da UFPB (2018). Tendo sido aprovada, passei dois anos vinculada ao PPGG dessa Universidade. O interesse em participar desse edital dizia respeito à possibilidade de me afastar do local de origem, a UFRGS, objetivando viver outras experiências profissionais, sobretudo, no Nordeste brasileiro, para que pudesse conhecer essa região e, em particular, os Cariris e o Sertão, através das atividades de campo e das pesquisas interdisciplinares planejadas para esses dois anos, além de estabelecer parcerias internacionais.
Esta experiência propiciou um conhecimento ampliado do território brasileiro e um aporte de conhecimentos, estabelecido a partir de parcerias com Portugal, através do Centro de Estudos Ibéricos (CEI) e da Universidade de Coimbra (Coimbra e Salamanca), e com Espanha, por meio da Universidade de Sevilha, além de um indescritível acolhimento, por parte dos colegas da UFPB, o que me faz permanecer vinculada ao programa de Geografia da Universidade por mais algum tempo.
As atividades relatadas foram realizadas, graças ao acolhimento dos colegas da Geografia da Paraíba, vinculados ao PPGG da UEPB, da UFRN, entre outros parceiros.
5 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA A GEOGRAFIA BRASILEIRA
5.1 Datas e locais de constituição da carreira na Geografia
Formada no curso de Licenciatura em Geografia da UFSM, em 1972, o início da carreira universitária se deu na faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFI) de Ijuí, da antiga FIDENE (atual Unijuí), vinculada à Ordem dos Capuchinhos e pioneira no ensino superior, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, na qual trabalhei de 1973 a 1982. Concomitante com a FAFI, exerci atividades acadêmicas na UFSM entre 1978 e 1985. Finalmente, transferi-me para a UFRGS, em 1985, onde permaneci, até 2012, quando me aposentei. Ao longo desse período, fiz o mestrado, concluído em 1981, e fiz o doutorado, completado em 1988, ambos na USP.
5.2 A pesquisa
A pesquisa de maior expressão e reconhecimento diz respeito ao tema desenvolvido, durante a tese: o estudo dos areais no sudoeste do RS. À época, estes eram denominados desertos, devido à efervescência da discussão ecológica no estado. Tal tornou-se relevante, pois constituiu a primeira interpretação de maior rigor, em relação à presença desses areais, sobretudo, em relação à explicação geomorfológica e à interface da natureza com a sociedade. No âmbito desta pesquisa, construí o conceito de arenização, como síntese explicativa dos processos que originavam os areais. Tratou-se de um tema inédito e, sobretudo, controverso, uma vez que questionava, a partir de parâmetros climáticos, o uso dos termos deserto e desertificação, relativamente a este processo, além de demonstrar que os areais, na origem, não eram provocados pela “ação antrópica”, como era dito. Entretanto, tratando-se de uma paisagem natural e frágil, tais processos de erosão poderiam ser intensificados. Este tema avançou em diferentes campos disciplinares, a partir da tese, configurando um processo de investigação, que se consolidou, com a criação do Grupo de Pesquisa Arenização/desertificação: questões ambientais - CNPq. Deste grupo participam, além desta pesquisadora, os professores Roberto Verdum e Laurindo Antônio Guasselli, que, através de projetos coletivos do grupo ou de orientações individuais de IC, de mestrado e de doutorado, avançaram na compreensão deste processo e na verticalização de estudos em diferentes campos científicos.
A discussão, relativa aos conceitos de arenização e/ou de desertificação, foi levada à esfera social, seja por entrevistas, como reportagens veiculadas na televisão, seja por debates com os movimentos sociais, sobretudo, com o MST/Mulheres Campesinas (Via Campesina), seja por debates na Assembleia Legislativa do Estado ou junto ao movimento ambientalista, seja por diálogos com os ministérios do Meio Ambiente (MMA) do Brasil e, também, do Uruguai. Enfim, o tema se difunde nos ensinos Fundamental e Médio, pelos livros didáticos, e no Ensino Superior, através da indicação de leituras em disciplinas específicas e de pesquisas feitas em outras universidades brasileiras, balizadas pelo conceito de arenização. É também um tema reconhecido internacionalmente, em diferentes países da América Latina e nos países Ibéricos, além da França.
A pesquisa sobre a arenização e a preocupação central desta pesquisadora, ao buscar uma análise de interface entre natureza e sociedade, em Geografia, vinculadas a sua dedicação ao ensino e à pesquisa no campo da Epistemologia da Geografia, desdobra-se, desde o concurso para Professora Titular na UFRGS, em reflexões teóricas, sobretudo, sobre a natureza, sobre o ambiente e sobre a Geografia. De forma mais ampliada, sob esta ótica, é feita uma reflexão sobre o ensino de Geografia. Tal ponderação é produto da pesquisa, ao longo desses mais de 40 anos envolvida com a Geografia, sobre temas que considero relevantes no contexto científico contemporâneo e que fazem parte de minhas preocupações, até então.
5.3 Parcerias de pesquisa, ao longo da carreira
Falar de parcerias, ao longo da carreira, é algo de extrema complexidade. Desde que inicio as atividades como professora-pesquisadora, em Ijuí, o que fiz foi sempre em parceria, lembrando, aqui, de minha colega e amiga de Ijuí, Helena Callai, e dos demais colegas da FIDENE, aos quais fiz referência, anteriormente.
Incluo nestas parcerias os colegas que, através de diálogo, estiveram presente no mestrado e no doutorado e, sobretudo, a relação com o professor Adilson Avanci de Abreu, durante a construção do doutorado.
Trago, igualmente, aqueles que compõem, comigo, o Grupo de Pesquisa Arenização/Desertificação: questões ambientais, incluindo todos os orientandos, que promoveram pesquisas sobre o tema, além dos colegas já citados.
Lembro do grupo do Mestrado em Sensoriamento Remoto, de cuja constituição inicial eu participei, em 2020, e a partir do qual tudo foi produzido, no âmbito dos mapeamentos e, mesmo, no levantamento de novas hipóteses de investigação, junto ao Centro Estadual de Pesquisa em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM), com a parceria de Laurindo Antônio Guasselli e de vários orientandos.
Na continuidade, cabe fazer referência à expansão da pesquisa em território nacional, produzida com colegas e com orientandos de diferentes estados, como PB, GO, MT, SP, BA, CE, entre outros, seja sobre arenização, seja sobre desertificação.
Destaco outra parceria com alunos da UFRGS (graduandos e pós-graduandos), quando da criação do Núcleo de Estudos de Geografia e Ambiente (NEGA), em 2003. Este núcleo surge com o objetivo de refletir sobre o conceito de ambiente, a partir da Geografia e das proposições e dos novos caminhos analíticos, que vinham sendo construídos. Os temas em pesquisa e em debate neste núcleo foram se desdobrando, na busca da defesa das justiças social e ambiental, a partir de temas, como regularização fundiária, conflitos em Unidades de Conservação, gestão de Unidades de Conservação, comunidades tradicionais, ribeirinhos, pescadores artesanais e territorialidades quilombolas, entre outros.
Neste contexto, faço referência, também, à parceria feita com o ICMbio-Tefé/AM, com o objetivo de elaborar mapas básicos e, sobretudo, o mapa de uso da terra, juntamente com gestores e com ribeirinhos da FLONA de Tefé. Esta atividade foi constituída, a partir de um trabalho coletivo entre gestores da FLONA, ribeirinhos e pesquisadores do NEGA-UFRGS. Três produtos dessa parceria merecem destaque: os mapas participativos e o debate comunitário, que resultou no Plano de Manejo desta Unidade de Conservação; a elaboração de textos (de escrita coletiva) sobre a Floresta Nacional, com finalidade de subsidiar o ensino; e o Atlas Escolar da FLONA de Tefé.
Torna-se difícil, neste espaço, mencionar todas as parcerias feitas, ao longo de todo esse período de vida acadêmica, mas quero frisar que todo o meu trabalho foi, sempre, em parceria, desde a pesquisa ao que foi publicado. Tal prática continua nesses anos pós-aposentadoria, através de atividades desenvolvidas com colegas da UFPB, realizadas em proximidade com Bartolomeu Israel de Souza e demais colegas da UFPB e da mesma forma colegas da UEPB, em parceria com a Universidade de Coimbra, com o Centro de Estudos Ibéricos e com a Universidade de Sevilha, na forma de pesquisas e de publicações em conjunto, merecendo destaque, também, a parceria com a pós-graduação da Universidade de Entre Rios, na Argentina, resultante de pesquisas sobre a temática de interesse comum da Cartografia Social.
5.4 Artigos e livros marcantes da carreira
Em relação aos artigos, foram selecionados aqueles que são referidos com maior frequência, não necessariamente, através de índices internacionais de citações, mas, sobretudo, através de diálogos com alunos e com professores-pesquisadores de diferentes lugares do território nacional, acrescidos de publicações mais atuais sobre os temas, com os quais me envolvo. Da mesma forma, os títulos a seguir foram selecionados, considerando diferentes temas de investigação. São eles:
5.4.1 Artigos
SUERTEGARAY, D. M. A. Arenização: esboço interpretativo. Wiliam Morris Davis Revista de Geomorfologia, v. 1, p. 118-144, 2020.
SUERTEGARAY, D. M. A.; OLIVEIRA, M. G. Arenização, areais e políticas de ordenamento territorial. Cadernos de Geografia, Coimbra, v. 38, p. 69-76, 2018.
PAULA, C. Q. de; SUERTEGARAY, D. M. A. Modernização e pesca artesanal brasileira: a expressão do 'mal limpo'. Revista Terra Livre, v. 1, n. 50, p. 97-130, 2018.
SUERTEGARAY, D. M. A. Debate contemporâneo: Geografia ou Geografias? Fragmentação ou Totalização? GEOgraphia (UFF), v. 1, p. 16-23, 2017.
SCELZA, G. C.; ROSSATO, R. S.; SUERTEGARAY, D. M. A.; OLIVEIRA, M. G. Plano de Manejo da Floresta Nacional de Tefé, a Gente faz junto! Biodiversidade Brasileira, v. 4, p. 69-91, 2014.
SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física e Geografia Humana: Uma questão de método - um ensaio a partir da pesquisa sobre Arenização. GEOgraphia (UFF), v. 12, p. 8-29, 2010.
SUERTEGARAY, D. M. A. Poética do espaço geográfico: em comemoração aos 70 anos da AGB. GEOUSP, São Paulo, v. 18, p. 9-19, 2005.
ROSSATO, M. S.; BASSO, L. A.; SUERTEGARAY, D. M. A. Formação de depósitos Tecnogênicos em Barragens. O caso da Lomba do Sabão, Rio Grande do Sul. Biblio 3w, Barcelona, v. 7, n. 407, 2002.
SUERTEGARAY, D. M. A. Espaço Geográfico Uno e Múltiplo. Scripta Nova, Barcelona, v. 93, 2001.
SUERTEGARAY, D. M. A.; NUNES, J. O. R. A natureza da Geografia Física. Terra Livre, São Paulo, v. 17, n. 16, p. 11-24, 2001.
5.4.2 Livros e capítulos de livros
Os livros selecionados expressam obras construídas como autora e, da mesma forma, como organizadora, normalmente, com parcerias de colegas e/ou de alunos do POSGea-UFRGS. São eles:
SUERTEGARAY, D. M. A.; SILVA, I. A. S. (Org.). Brasil: feições arenosas. 1. ed. Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura, 2020. 158p.
ROSSATO, M. S.; BATISTA, S. C.; RODRIGUES, E. L. S.; PAULA, C. Q. de; OLIVEIRA, M. G.; FONTANA, C.; SUERTEGARAY, D. M. A. Floresta Nacional de Tefé (AM): Atlas Escolar. 1. ed. Porto Alegre: Instituto de Geociências, 2020. 42p.
SUERTEGARAY, D. M. A. (Re) Ligar a Geografia. 1. ed. Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura, 2017. 180p.
SUERTEGARAY, D. M. A.; PIRES, C. L. Z.; PAULA, C. Q. de (Org.). O lugar Onde Moro: Geografia da FLONA de Tefé. 1. ed. Porto Alegre: IGEO/UFRGS, 2016. 124p.
SUERTEGARAY, D. M. A.; PIRES, C. L. Z.; OLIVEIRA, M. G. (Org.). Geografia e Ambiente. 1. ed. Porto Alegre: Imprensa Livre/Compasso Lugar-Cultura, 2015. 249p.
SUERTEGARAY, D. M. A.; ROSSATO, M. S. (Org.). Brasil Feições Ilustradas. 1. ed. Porto Alegre: Imprensa Livre/Compasso Lugar-Cultura, 2014. 120p.
SUERTEGARAY, D. M. A.; GUASSELLI, L. A.; PIRES DA SILVA, L. A. (Org.). Arenização natureza socializada. 1. ed. Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura/Imprensa Livre, 2012. 600p.
SUERTEGARAY, D. M. A.; ROSSATO, M. S.; BELLANCA, E. T.; FACHINELLO, A.; CÂNDIDO, L. A.; SILVA, C. R. da. Terra Feições Ilustradas. 1. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003. 263p.
SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física e Geomorfologia: uma (re)leitura. 1. ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2002. 112p.
SUERTEGARAY, D. M. A.; GUASSELLI, L. A.; VERDUM, R.; BASSO, L. A.; MEDEIROS, R. M. V.; MARTINS, R.; ROSSATO, M. S.; BELLANCA, E. T.; BERTÊ, A. M. A. Atlas da Arenização Sudoeste do Rio Grande do Sul. 1. ed. Porto Alegre: Governo do Estado do RS - Secretaria da Coordenação e Panejamento e Secretaria da Ciência e Tecnologia, 2001. 84p.
SUERTEGARAY, D. M. A. Deserto Grande do Sul: Controvérsias. 2. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1998. 109p.
5.4.3 Capítulos de livros publicados
A seleção de capítulos publicados considerou dois critérios: de um lado, a indicação de livros organizados por outros colegas e/ou por instituições da área de Geografia, com que colaborei; de outro, foram escolhidos capítulos, que abordam a pesquisa sobre Arenização, sobre Epistemologia da Geografia e sobre Educação/Ensino de Geografia, temas que se conectam, desde o início de sua carreira. São eles:
SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física na Educação Básica ou o que ensinar sobre natureza em Geografia. In: Morais, E. M. B.; Alves, A. O.; Roque Ascensão, V. de O. (Org.). Contribuições da Geografia Física para o Ensino de Geografia. 1. ed. Goiânia: C & A Alfa Comunicação, 2018. v. 1. p. 13-32.
FONTANA, C.; PAULA, C. Q. de; SUERTEGARAY, D. M. A. Ribeirinhos, organizações comunitárias e alimentação: FLONA de Tefé - AM, Brasil. In: AZEVEDO, A. F.; REGO, N. (Org.). Geografias e (In)visibilidades: Paisagens, Corpos, Memórias. 1. ed. Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura, 2017. p. 187-216.
SUERTEGARAY, D. M. A. Geomorfologia do Rio Grande do Sul, o saber de Ab'Saber. In: MODENESI-GAUTIERI, M. C.; BARTORELL, A. I.; MANTESSOTO NETO, V.; CARNEIRO, C. dal R.; LISBOA, M. B. de A. L. (Org.). A obra de Aziz Nacib Ab'Saber. 1. ed. São Paulo: Beca BALL edições, 2010. v. 1, p. 334-352.
SUERTEGARAY, D. M. A.; ROSSATO, M. S. Natureza: concepções no ensino fundamental de Geografia. In: BUITONI, M. M. S. (Org.). Geografia Ensino Fundamental. 1. ed. Brasília: Ministério da Educação - Secretaria da Educação Básica, 2010. v. 8. p. 153-168.
SUERTEGARAY, D. M. A.; PIRES, L. A. Tchê Pampa: histórias da natureza gaúcha. In: PILLAR, V. de P.; MÜLLER, S. C.; CASTILHOS, Z. M. de S.; JACQUES, A. V. A. (Org.). Campus Sulinos conservação e uso sustentável da biodiversidade. 1. ed. Brasília: MMA, 2009. v. 1. p. 26-41.
SUERTEGARAY, D. M. A.; VERDUM, R. Desertification in the tropics. In: UNESCO (Org.). Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Paris: UNESCO Plubishing, 2008. p. 1-17.
LIMA, J. R. de; SUERTEGARAY, D. M. A.; SANTANA, M. O. Desertificação e Arenização. In: SANTOS, R. F. dos. (Org.). Vulnerabilidade Ambiental: Desastres naturais ou fenômenos induzidos. 1. ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2007. p. 1-191.
SUERTEGARAY, D. M. A. Questão Ambiental: produção e subordinação da natureza. In: SILVA, J. B. da; LIMA, L. C.; DANTAS, E. W. C. (Org.). Panorama da Geografia Brasileira. 1. ed. São Paulo: Annablume, 2006. v. 2. p. 91-100.
SUERTEGARAY, D. M. A. Ambiência e Pensamento Complexo: Resignifi(ação)da Geografia. In: SILVA, A. A. D. da; GALENO, A. (Org.). Geografia Ciência do Complexus. 1. ed. Porto Alegre: Sulina, 2004. p. 181-208.
REGO, N.; SUERTEGARAY, D. M. A. O Ensino de Geografia como Hermenêutica Instauradora. In: REGO, N.; AIGNER, C.; PIRES, C.; LINDAU, H. (Org.). Um Pouco do Mundo Cabe nas Mãos. 1. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003. p. 1-310.
SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física(?) Geografia Ambiental(?) ou Geografia e ambiente (?). In: MENDONÇA, F.; KOZEL, S. (Org.). Elementos de Epistemologia da Geografia Contemporânea. 1. ed. Curitiba: Ed. UFPR, 2002. p. 111-120.
SUERTEGARAY, D. M. A. Pesquisa e Educação de Professores. In: PONTUSCHKA, N. N.; OLIVEIRA, A. U. (Org.). Geografia em perspectiva. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2002. v. 1. p. 109-114.
SUERTEGARAY, D. M. A. O que ensinar em Geografia (Física)?. In: SUERTEGARAY, D. M. A.; REGO, N.; HEIDRICH, A. (Org.). Geografia e Educação Geração de Ambiências. 1. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2000. p. 97-106.
SUERTEGARAY, D. M. A. Desertificação: Recuperação e Desenvolvimento Sustentável. In: GUERRA, J. A. T.; CUNHA, S. (Org.). Geomorfologia e ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. p. 249-290.
SUERTEGARAY, D. M. A. A Geografia e O Ensino da Natureza. In: CALLAI, H. C. (Org.). O ensino em Estudos Sociais. 1. ed. Ijuí: Unijuí, 1991. p. 104-111.
SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia: Resultado de Uma Reflexão. In: CALLAI, H. C. (Org.). O ensino em Estudos Sociais. 1. ed. Ijuí: Unijuí, 1987. p. 13-19.
6 AVANÇOS TEÓRICOS E CONTROVÉRSIAS E MAIORES CONTRIBUIÇÕES CONCEITUAIS E METODOLÓGICAS REALIZADAS
A construção da análise geográfica que realizo é balizada por uma interpretação clássica e mais recorrente sobre Geografia, ou seja, é aquela que busca promover a conexão/mediação entre natureza e sociedade. Aparentemente, buscar uma construção geográfica, sob esta perspectiva, para muitos, é algo ultrapassado, pelo avanço e pela necessidade do conhecimento especializado.
Independentemente da compartimentação e da posterior e expressiva fragmentação da Geografia, busquei o caminho da unidade. Essa busca se fundamentou no conceito clássico de Geografia, na questão ambiental (que, necessariamente, pressupõe articulação) e nas discussões científicas e filosóficas contemporâneas, que anunciavam, desde os anos 1970, a necessidade de superação da fragmentação, da compartimentação, vigente na ciência moderna, para que se pudesse entender a complexidade do mundo.
Colocado isto e fazendo uma reflexão sobre a minha contribuição, diria que, de forma resumida, meus estudos permitiram reconhecer esses pressupostos na práxis. Ou seja, compreender a evidência de um espaço geográfico produzido de forma amalgamada com a natureza e, ao mesmo tempo, conceber que, neste processo, a natureza deixa de ser natureza-natural (original) para se transformar em segunda natureza.
A continuidade da pesquisa avança na compreensão mais ampliada de segunda natureza, como esta foi demonstrada em Marx, como transformação da natureza em segunda natureza pelo trabalho humano (objetos), para ampliar esta transformação e para entendê-la como transfiguração, sobretudo, uma transfiguração do habitat ou, contemporaneamente, do ambiente humano. Isto se faz em diferentes escalas, gera significativas exploração e degradação dos ambientes de vida e promove formas de organização e de luta pelos territórios originários, tradicionais, periféricos, entre outros, por exemplo.
Com base neste enunciado, cabe sistematizar as contribuições, que expressam o movimento de constituição de meu pensamento:
i. Uma construção metodológica, para o entendimento dos processos de arenização, que articulou lógica formal e lógica dialética, algo reconhecido como incompatível para a minha geração, mas que, de certa forma, ainda prevalece na construção do conhecimento;
ii. Na construção da tese, a explicação construída para a gênese dos areais, explicitada no conceito explicativo de arenização;
iii. Uma reflexão sobre natureza, dando a esta um sentido diferente do conceito de ambiente, comumente entendido como sinônimo daquela.
iv. A discussão sobre compartimentação e fragmentação no contexto geográfico, entre outros temas, a exemplo dos estudos de Geografia Física nos ensinos Fundamental e Médio.
Em relação às principais controvérsias, críticas e embates sobre a produção científica realizada, registro, como uma das primeiras, a não aceitação, pela imprensa e, da mesma forma, por alguns acadêmicos, do conceito de arenização, enquanto explicação para a gênese dos areais, uma vez que esse processo vinha sendo relacionado, no Rio Grande do Sul, à desertificação.
Igualmente, o caminho metodológico, construído ao longo da tese, foi criticado, durante sua apresentação para debate, na realização do doutorado, na qualificação do doutorado, seja pelos geógrafos físicos, seja pelos geógrafos humanos. Na continuidade, fui criticada, pelo meu entendimento dessa construção, enquanto um método eclético.
No campo epistemológico, a grande resistência, a crítica e o embate se deram, em relação às reflexões que faço, expressando minha compreensão sobre a Geografia e, nela, fazendo a negação da Geografia Física, uma vez que considero essa partição da Geografia uma perda do sentido do geográfico e da possível explicação geográfica, conforme meu entendimento.
No campo ambiental, há, também, um embate, uma vez que não utilizo o conceito socioambiental nas investigações ambientais que realizo, bem como não qualifico a Geografia que lida com essa problemática de Geografia Ambiental.
Cabe, ainda, registrar o grande embate ‒ o sistemismo. O sistema foi o conceito que promoveu a busca de compreensão de uma totalidade funcional no campo científico (século XX). Ao aportar na Geografia, este parecia ser o caminho “natural” da Geografia Física e de sua unificação. No entanto, desde o doutorado, neguei o sistemismo, assumindo a totalidade dialética como inspiração metodológica. O embate é interessante, pois, enquanto alguns colegas denominaram como eclético o método que construí, outros colegas defendem, em debates comigo, que a abordagem que adoto é sistêmica.
Esse é o movimento e, assim, vamos construindo o conhecimento. A ciência também necessita de democracia.
7 ELEMENTOS MARCANTES, QUE ENTRELAÇAM MINHAS VIDAS PESSOAL E INTELECTUAL
Há algum tempo, respondi a uma pergunta, que abordava a forma pela qual tinha conciliado a vida familiar, enquanto mulher, e a vida profissional. Minha resposta, naquele momento (dada para a AGB-POA), é resgatada, para expressar os elementos marcantes, que entrelaçaram minhas vidas pessoal e intelectual. No meu entendimento, é preciso resgatar algo que antecede. Como já fiz referência, anteriormente, sou filha primogênita de um casal de comerciantes. Minha mãe sempre trabalhou, desde os anos 1940 (período da II Guerra Mundial), quando as mulheres começaram a ser chamadas, para ocupar determinadas funções, no caso dela, telefonista e, depois, comerciaria. À época, ela tinha apenas 16 anos e sua mãe, viúva, tinha, além dela, mais 10 filhos para criar.
Meu pai, à medida que cresci, me orientou para o trabalho. Não fui educada como mulher, para ser somente esposa e mãe. Ao contrário, para meus pais, o importante era trabalhar, era ter uma profissão. O desejo deles era de que suas duas filhas tivessem formação superior. Meu pai desejava que eu estudasse para ser engenheira ou farmacêutica. Acabou aceitando que eu fosse professora.
Coloco isto, para dizer que cabia a mim trabalhar. Constituir família era importante nos conselhos de minha mãe e ser profissional era prioritário nos conselhos de meu pai. Não tive escolha em ser isto ou aquilo. Casei-me, tive três filhos e trabalhei, e trabalho, o tempo todo. Aprendi que tudo isto deveria fazer parte de minha vida. Nesta trajetória, não sei se houve conciliação harmoniosa. Sempre desenvolvi todas as atividades profissionais e familiares. Não foi fácil. Em determinadas épocas, contava com o auxílio de outras pessoas. Minha mãe e meu pai, por exemplo, cuidaram dos netos muitas vezes (durante o mestrado e o doutorado). Não lutei para ser independente, nem participei de movimento feminista. Precisei ser o que sou. A única certeza que tenho é de que, às vezes, foi sobrecarregado. Meus filhos não conheceram outra mãe e parecem gostar desta. Eu não conheci outra trajetória e acredito que não teria feito, nunca, uma única opção.
Como diz a música, “trabalhar é minha sina”, mas é, também, o meu prazer. Minha escolha foi a de ser professora e segui o desejo de minha mãe, que quis ser professora, mas não conseguiu. Ser engenheiro era o desejo de meu pai; também, um sonho não realizado. Nessa escolha, eu o contrariei, pois não gostava de matemática!!! Mas seu apoio, nas escolhas que fiz, foi sempre incondicional. Pai e mãe trabalhadores se entrelaçaram na minha vida, uma vez que trabalhar se fazia necessário e promovia independência, como os dois me ensinaram.
Contudo, ser professora não foi apenas influência materna. O gosto por ensinar esteve sempre presente, desde a infância. Educar, ensinar, dialogar, conviver e aprender com aqueles com os quais partilhamos a sala de aula é uma experiência ímpar, a despeito de todas e das tantas dificuldades.
Na trajetória da pesquisa, as escolhas temáticas se entrelaçam com as vivências, pois, desde criança, brincava nos areais. Resgatei os areais, nos anos 1980, com o advento das questões ambientais na Porto Alegre da década, para constituir tema de investigação no doutorado e adiante, até os dias de hoje.
E, assim caminhamos, assim caminho.
“Caminante no hay camino se hace camino al andar”...
Antônio Machado
-
 CARLOS WALTER PORTO-GONÇALVES
CARLOS WALTER PORTO-GONÇALVES MEMORIAL
UMA GEOBIOGRAFIA TÉORICO-POLÍTICA: EM BUSCA DE UMA TEORIA SOCIAL CRÍTICA A PARTIR DA GEOGRAFIA
Carlos Walter Porto-Gonçalves
Setembro/2017
INTRODUÇÃO
A circunstância desse concurso proporciona a oportunidade de fazer um Memorial que abarque a trajetória intelectual, enfim, uma biografia. Gostaria de sugerir uma geobiografia. Por força da tradição do pensamento hegemônico de matriz eurocêntrica e seus pares dicotômicos – espírito e matéria, natureza e cultura, sujeito e objeto, espaço e tempo entre tantos - quando se fala de biografia a linha do tempo se impõe. Embora pensada com a sobrevalorização do tempo sobre o espaço, em si mesma problemática, nas diferentes biografias acabam aparecendo os encontros que temos com pessoas e ideias nunca fora de lugares. Afinal, a biografia, como o nome indica – bio+grafia - é a trajetória de nosso corpo e, como sabemos, do espaço não dá para tirar o corpo fora. O corpo não está no espaço, o corpo na sua materialidade é o conjunto de nossas relações com outros corpos através do que constitui o espaço que nos constitui. Tanto naturalmente (somos a água que bebemos, o oxigênio que respiramos, os minerais que comemos) como socioculturalmente (através do que significamos praticamente) somos o que produzimos-extraímos-criamos-transformamos. Além disso, sublinhemos, o componente atomístico individualista que conforma a instituição imaginária da sociedade (Castoriadis) capitalista moderna com sua egosofia tão bem representada na máxima cartesiana “[Eu] penso, logo [eu] existo” que não só privilegia o pensamento antes da existência como ignora que o “eu penso, logo eu existo”, ao ser dito como linguagem já é social pela simples impossibilidade de haver uma língua individual. A linguagem é, sempre, construção de sentidos em comum (comun+icação) e, portanto, social. A abertura que nossos corpos têm – como diria o poeta “a tua presença entra pelos sete buracos da minha cabeça” – dá conta de nossa incompletude tanto natural como social. Assim, uma geobiografia procura dar conta de uma relação que vai mais além do indivíduo que a enuncia. Assim vamos, assim estamos.
Duas advertências preliminares devem ser feitas: a primeira, diz respeito ao fato de que toda memória, embora recorra ao passado é, sempre, o presente que fala. Assim, muitas vezes aparecerão como escolhas racionais coerentes o que, na verdade, foi decidido nas circunstâncias segundo critérios de momento. Ficarão registradas aqui aquelas escolhas que, hoje, me dão o equilíbrio existencial e permitem que me suporte a mim mesmo. A segunda advertência, é que ficarão de fora aquilo que diz respeito à minha vida privada, embora devo, de antemão, agradecer aos familiares os longos períodos longe de casa fruto das muitas viagens, e não foram poucas, além dos momentos que ficamos longe mesmo estando em casa. Enfim, o que temos aqui é uma geobiografia intelectual, aceitando a tese de Walter Mignolo de que as epistemologias estão implicadas com o espaço geográfico (Mignolo in “Espacios Geográficos e Localizaciones Epistemológicas”) onde os homens e mulheres em cada momento histórico operam/criam. Enfim, esse memorial registra os Encontros com pessoas e grupos/classes sociais e as geografias com seus lugares, espaços, regiões, territórios e paisagens com os quais formei meu pensamento, minha trajetória intelectual. O Engenho Novo, bairro da Central do Brasil onde fui criado, no Rio de Janeiro, a cidade onde nasci; o distrito de Ponta Grossa dos Fidalgos, na Lagoa Feia pela experiência seminal; a Amazônia e seus povos; os Cerrados e seus povos; a América Latina e seus povos.
A ORIGEM
Os psicólogos e educadores não se cansam de chamar a atenção para o papel que os grupos de socialização primárias – a família e a comunidade mais próxima – têm na conformação da subjetividade, para a formação do caráter de cada quem. (1) E falar desses grupos é falar dos lugares e dos espaços que constituem e que nos constituem (a casa e o bairro), sobretudo pela escola, pelo lugar que ocupa na geografia do sistema mundo capitalista moderno colonial que nos habita e sua afirmação como estado nacional, com toda colonialidade implicada nessa ideologia. E aqui se juntam a minha condição de filho de família operária e, como tal, o bairro operário onde vivenciei as vicissitudes dessa condição de classe e, nascido em 1949, ter vivido o nacional-desenvolvimentismo dos anos 50’ e 60’, quando a migração rural-urbana vai acompanhada da ideia de inserção social através dos direitos, como a educação. Ainda hoje lembro das primeiras professoras primárias - Terezinha Cardoso e Iracema Guaranis Melo - pela autoridade que gozavam diante dos pais e pela dignidade com que eram respeitadas pela comunidade. Sempre estudei em escolas públicas desde a Escola Sarmiento ao Colégio Pedro II até a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fiz a graduação e a Pós-graduação tanto o Mestrado como o Doutorado. A Escola Sarmiento e o Colégio Pedro II estão localizados no bairro operário onde morava, o Engenho Novo, no ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil, como as camadas populares designavam os bairros do Rio de Janeiro ao longo das estradas de ferro Central do Brasil e o ramal da Leopoldina, antes da cidade ser colonizada pela Zona Sul e pela Rede Globo. Experimentei ali o espírito comunitário organizando as festas juninas – fazer bandeirinhas, preparar a fogueira, os balões, ajudar nas compras e preparo das comidas – os blocos carnavalescos auto-organizados, os times e torneios de futebol, os jogos de botões, de bolas de gude, soltar pipa e balões assim como a convivência de ajuda mútua de tomar emprestado ou emprestar o sal, o açúcar, enfim, o necessário para viver de acordo com as circunstâncias, além de cuidar dos filhos dos vizinhos ou ficar na casa dos vizinhos, as mudanças frequentes de vizinhos, não raro provocadas por despejos judiciais, cenas que acompanhava com tristeza e que me marcaram. Enfim, podemos sair desse lugar, como saímos, mas esse lugar nunca não sai da gente! Sei da força da ideia de que o espaço geográfico é co-formador da nossa subjetividade. Nossos habitus (Bourdieu), nosso habitat. Assim, habitamos o espaço que nos habita.
Do ponto de vista intelectual trago da Escola secundária, do Colégio Pedro II, o gosto pelas Humanidades, haja vista que no que então se chamava Nível Médio, fiz o curso Clássico onde a Literatura, a Filosofia, a História e a Geografia eram ensinadas junto com Latim e Grego. Mais tarde, quando vários interlocutores me alertavam para o fato de eu gostar de brincar com as palavras, o que me deixa aborrecido, pois o que eu faço é justamente o contrário, ou seja, levar as palavras a sério, é que ao tentar entender de onde eu tinha esse interesse pelas palavras e pela língua é que me dei conta de que as palavras tinham história e que as palavras tinham designação diferentes de acordo com o lugar que ocupavam na formação dos sentidos das frases. Foi quando me dei conta de que havia estudado grego e latim, ainda que de modo introdutório no colégio de nível médio. A Geografia, por exemplo, viria mais tarde se tornar verbo, qual seja, o ato, as ações de marcar e dar sentido à vida na terra: geo-grafia.
O ENCONTRO COM A GEOGRAFIA ACADÊMICA
Em 1969 fui aprovado no vestibular de Geografia da UFRJ e passo a frequentar até 1972 o curso no Largo de São Francisco, no Centro do Rio de Janeiro. Fui da última turma antes que o curso fosse transferido para a Ilha do Fundão. Tempos difíceis, tempos do AI-5 e do Artigo 477 com que a ditadura fechara a Congresso Nacional e proibia qualquer atividade política nas universidades. Embora houvesse resistência houve também professores que deduravam seus colegas e ameaçavam estudantes. Lembro bem da sala do Diretório Acadêmico com um mapa geológico do Brasil com pequenos sacos com amostras de minérios sobre as localidades em que havia exploração por empresas estrangeiras. Confesso que foi a primeira emoção com algo chamado Brasil, que deveria ser nosso, como diziam aqueles mapas. Essa ideia, mais tarde, ganhará um sentido mais elaborada intelectualmente e criticamente racionalizada.
De minha formação acadêmica na graduação, além de uma Geografia tradicional descritiva e bastante conservadora e, com exceção de algumas aulas com descrições densas, como as boas aulas de Geografia do Brasil da conservadoríssima Prof.ª. Maria do Carmo Correia Galvão, pouca coisa ficou na memória. Registre-se algum ar de pensamento crítico da, então, iniciante Prof.ª Sonia Bogado à época substituindo professores eventualmente licenciados. Entretanto, me marcariam definitivamente as aulas de Antropologia e duas experiências vividas com a Geografia Física. As aulas de Antropologia com a Prof.ª Luigarde Cavalcanti me ensinaram um valor que levaria para o resto da minha vida, a saber, que a riqueza maior da humanidade é a sua diversidade e, com base nisso, a necessidade da crítica ao etnocentrismo e ao racismo. E ela bem sabia disso por sua nordestinidade alagoana vivendo o mundo acadêmico entre o Rio de Janeiro e São Paulo.
Com relação à Geografia Física me marcou a amplitude de conhecimento e a generosidade do Professor de Pedologia, o agrônomo Waldemar Mendes, de quem fui bolsista de Iniciação Científica. Sua visão estratégica do estudo dos solos para o desenvolvimento da sociedade brasileira – ele que fora responsável pela Comissão de Solos do Ministério da Agricultura de 1947 a 1967 - me convenceria também para o resto da minha vida da relevância do estudo das condições naturais para que se tenha uma sociedade mais justa e generosa. Esta visão estava associada ao fato do Professor Waldemar Mendes ser comunista, como me confessara certo dia quando a universidade estava “sendo convidada” a cerrar suas portas para garantir a segurança do então ditador de Portugal, o Sr. Marcelo Caetano, em visita ao Brasil e que circulava pelo Centro da cidade do Rio de Janeiro onde ficava o Departamento de Geografia, no Largo de São Francisco. O Prof. Waldemar Mendes, para minha surpresa, me dissera naquele momento que a única ditadura passível de ser aceita era a ditadura do proletariado porque se propunha a acabar coma exploração do homem pelo homem. Independentemente do que isso significava para mim naquele momento entendi o que movia aquele homem admirado pelos alunos por sua generosidade e dedicação, sobretudo nos trabalhos de campo, ou seja, que o conhecimento das ciências naturais, no caso dos solos, era fundamental para uma sociedade mais justa, sem exploradores e explorados. Outra experiência com a Geografia Física que haveria de me marcar definitivamente se deu como bolsista de Iniciação Científica em Geomorfologia Costeira durante 2 anos sob a coordenação do Prof. Dieter Muehe. A experiência de recolher amostras em campo com uso do trado, na então pouco urbanizada Barra da Tijuca, para depois analisar em laboratório sua granulometria e fazer estratigrafias, me levou ao domínio das diferentes fases da pesquisa científica, do planejamento da malha de recolhimento das amostras, das técnicas de recolhimento à formulação de hipóteses a partir de cotejamento teórico com a literatura. Essa experiência, embora não tivesse guiada pelas mesmas motivações éticas e políticas que eu aprendera com o Professor Waldemar Mendes teria, por outras razões, implicações inesperadas na minha trajetória intelectual enquanto geógrafo dedicado a temas sociais sempre de modo ambientalmente ancorado. Registre-se que as duas experiências me levaram a respeitar as metodologias e técnicas da pesquisa em Ciências Naturais, o que só seria fortalecido por outros encontros que a vida me proporcionaria, particularmente para minha formação como geógrafo.
O Início de Uma Visão Crítica - Em 1970 tive a oportunidade de estagiar por um curto período de tempo no IBGE, experiência que, por razões alheias à instituição, haveria de ter consequências definitivas em minha formação científica e política. Embora estagiando numa seção de demografia sob a responsabilidade de um geógrafo que se enamorava pela geografia quantitativa, como o Sr. Espiridião Faissol, acabei me tornando amigo e discípulo de outro geógrafo, o Professor Orlando Valverde, que trabalhava nas antípodas teóricas e políticas de meu chefe imediato com quem, aliás, pouco convivi. Foi o Prof. Orlando Valverde que me levou à paixão pela Amazônia e pela questão agrária. A convite dele passei a frequentar as atividades promovidas pela CNDDA – Campanha Nacional de Defesa e pelo Desenvolvimento da Amazônia – apesar de meu desconforto com certos militares nacionalistas que também faziam parte daquela Campanha. O nacionalismo valverdeano estava atravessado pela visão anti-imperialista de sua formação comunista, ele que fora expulso ainda cadete da Escola Militar, para quem a Amazônia haveria de ser a verdadeira “hipótese de guerra”, aliás como nos anos 1980 se tornaria. Foi o Prof. Orlando Valverde que me indicou insistentemente o primeiro livro marxista que li atentamente, a saber, A Questão Agrária, de Karl Kautsky. Com isso, começava a firmar meu interesse por teoria e, como se vê, por fora da academia tive a fortuna de conhecer esse que foi um dos mais importantes geógrafos brasileiros. A paixão pelo marxismo foi se consolidando por influência desses grandes mestres, como Orlando Valverde e Irene Garrido, sua inseparável companheira de trabalho no IBGE e também ativista da CNDDA. Daí meu interesse em me aproximar de grupos de esquerda clandestina (2)Recém-formado na universidade vivi uma dessas experiências definitivas e, mais uma vez, com o Prof. Orlando Valverde em um trabalho de campo. Convidado pelo Mestre fomos a campo, na região da Zona da Mata Mineira, para um trabalho de geografia agrária. Naquele “mar de morros” característico da região, como bem caracteriza a região o geógrafo Aziz A’ Saber, amigo do Prof. Valverde, em determinado momento no alto de um vale, numa posição privilegiada para observar a paisagem e o mosaico de pequenos estabelecimentos onde se praticava uma agricultura de autosustentação, o Prof. Valverde, para minha surpresa e até mesmo desconfiança, começara a dissertar sobre o sistema de uso da terra, no caso, sobre o sistema de rotação de culturas que ali se que foi a minha verdadeira escola de formação teórica, onde aprendi os fundamentos do materialismo histórico. Assim como vários dos amigos e amigas do que viria a ser uma das vertentes da Geografia Crítica, a marxista, não foi na academia que nos formamos cientificamente. Buscávamos uma ciência transformadora que fosse contrária à Geografia conservadora que aprendemos nas universidades, de forte cunho funcionalista ou positivista. Só depois saberíamos que movimentos semelhantes se passavam na Europa – Revista Hèrodote - e nos Estados Unidos – Antipode, a radical journey of Geography - com uma renovação da Geografia comprometida com a transformação social, movimento que renovava a Geografia de modo diferente de tanta renovação com que esse campo sempre se reivindica tal como Il Gattopardo de Giuseppe Lampedusa.
AS FONTES, CONSTRUINDO UM PENSAMENTO PRÓPRIO
Recém-formado na universidade vivi uma dessas experiências definitivas e, mais uma vez, com o Prof. Orlando Valverde em um trabalho de campo. Convidado pelo Mestre fomos a campo, na região da Zona da Mata Mineira, para um trabalho de geografia agrária. Naquele “mar de morros” característico da região, como bem caracteriza a região o geógrafo Aziz A’ Saber, amigo do Prof. Valverde, em determinado momento no alto de um vale, numa posição privilegiada para observar a paisagem e o mosaico de pequenos estabelecimentos onde se praticava uma agricultura de autosustentação, o Prof. Valverde, para minha surpresa e até mesmo desconfiança, começara a dissertar sobre o sistema de uso da terra, no caso, sobre o sistema de rotação de culturas que ali se praticava. A chave daquela leitura, nos explicara mais tarde, eram os diferentes estágios de capoeira que ele vislumbrara e que permitia ler os passos que aquelas famílias deram com seu uso da terra. Seus muitos anos de trabalho de campo autorizavam a interpretação. Mas não ficamos por aí: baixamos ao fundo do vale e fomos entrevistar os agricultores. Em meio a um diálogo, que eu observava e anotava atentamente, o Prof. Valverde pergunta ao agricultor camponês qual era a extensão da terra que cultivava. A resposta do camponês foi de que a terra que trabalhava era de tantos litros, não me lembro bem do número. O fato de que a terra se media em litros simplesmente me deixara desconcertado e mais desconcertado ainda fiquei com o fato de a resposta não ter gerado nenhum estranhamento ao Professor Valverde. Confesso que acreditei me encontrar diante de outra língua, que não entendia: medir a área em litros me deixara sem rumo. Ao final do dia, depois de um bom banho e de um bom jantar, como sempre recomendava o Professor, nos sentávamos para avaliar o dia, nossas principais observações e dúvidas. Aproveitei para falar que não conseguira acompanhar mais a conversa do Professor com o Camponês depois daquela unidade de medida de área estranha, o litro. Foi quando o Professor me esclareceu dizendo que era comum em várias regiões do país (e do mundo, viria saber depois) o fato dos camponeses medirem a terra que cultivam pela quantidade de litros de sementes que conseguem cultivar e, assim, essa unidade de medida tem a ver com o sistema de uso da terra, com as técnicas e práticas culturais de cada grupo, com os modos como criam diante das condições de possibilidade que o meio oferece. E também como era sentido o meio ecogeográfico, para usar um conceito-chave de Jean Tricart, de quem o Professor Orlando Valverde era amigo e discípulo. E a expressão “como o meio era sentido” tem aqui um sentido forte, pois o relevo, o clima, o solo e a umidade são sentidos e experimentados (3) e, a partir, daí são elaborados criativamente também através das trocas de conhecimentos tradicionalmente experimentados e transmitidos. Mais tarde viria encontrar no historiador marxista E. P. Thompson a riqueza do conceito de experiência, de que aqui me vali para superar certo marxismo estrutural-funcionalista que tanto mal viria fazer à Geografia e que subestima a importância da experiência e da cultura, vistas como superestrutura. Enfim, começavam a ganhar sentido de modo mais concreto para mim as aulas de Antropologia da Professora Luitgarde Cavalcanti, agora com forte sentido geográfico e social, pois mergulhavam no mundo camponês com as feições sociogeográficas da Zona da Mata Mineira à época.
Na segunda metade dos anos 1970, um encontro fortuito me aguçaria uma perspectiva propriamente geográfica das contradições da sociedade brasileira quando conheci um dos fundadores do Partido Comunista brasileiro, o Sr. Otavio Brandão. Por fortuna da vida o conheci como vizinho no conjunto Equitativa, em Santa Tereza onde morávamos. Otávio Brandão vivera no ostracismo no final de sua vida quando o conheci. Com ele aprendi que, em 1928, o PCB ainda na clandestinidade lançara o primeiro operário como candidato à Presidência da República pelo Bloco Operário-Camponês, o marmorista de Magé Minervino de Oliveira. De Otavio Brandão me ficou a firme convicção de que é preciso conhecer por dentro a diversidade sociogeográfica do país, como insistira em me dizer que o jornal A Classe Operária, que fundara em 1925 junto com Astrogildo Pereira, deveria manter correspondentes nos seringais da Amazônia, nos cacauais da Bahia, nos canaviais do Nordeste, para ficar com os exemplos que guardo na memória explicitamente citados por ele. Posso afirmar que a convivência com Otávio Brandão me trouxe um conhecimento decisivo da importância (1) do estudo da formação social (4) do capitalismo no Brasil e reforçara (2) a convicção da importância do estudo das condições naturais para os processos emancipatórios, haja vista Otavio Brandão ser farmacêutico e ter grande interesse em História Natural, como não se cansara de me afirmar. E pode ser constatado em seu livro Canais e Lagoas, onde registra pela primeira vez a existência de petróleo no Brasil, o que lhe valeu uma polêmica com Monteiro Lobato a quem é atribuído o descobrimento do petróleo no Brasil. Registre-se que Monteiro Lobato reconheceria, mais trade, o mérito de Otavio Brandão, como o próprio Otavio Brandão se orgulhava em dizer.
O ano de 1976 me permitiu reunir condições mais propícias para a minha formação propriamente como um profissional de geografia e, com isso, forjar uma perspectiva teórica que pouco a pouco ganharia seus contornos próprios. Para isso muito contribuíram três experiências vividas em três lugares distintos, a saber: (1) ter ingressado como professor num departamento de Geografia, no caso, na PUC-RJ onde permaneceria até 1987; (2) ter fundado com filósofos, sociólogos, politólogos e historiadores o SOCII – Pesquisadores Associados em Ciências Sociais – e; (3) ter vivenciado uma experiência de forte conteúdo social e de enormes consequências em minha formação teórico-política em Campos dos Goitacazes, município do norte do estado do Rio de Janeiro onde ministrava aulas de Geografia na Faculdade de Filosofia de Campos. Vejamos cada um desses fatos em seu momento-lugar.
A convivência com professores-pesquisadores no departamento de Geografia da PUC-RJ me permitiu um mergulho mais profundo e sistemático no campo da Geografia, o que me permitiu ousar escrever, em 1978, o artigo A Geografia está em Crise. Viva a Geografia, ao qual voltarei mais adiante. A convivência na PUC-RJ me proporcionou a oportunidade de produzir de modo mais sistemático enquanto profissional de Geografia, haja vista estar num departamento de Geografia com toda responsabilidade de formar profissionais no campo. Ali, a convivência com o Prof. Orlando Valverde e com o Professor Ruy Moreira, me levaram à convicção da importância de desenvolvermos uma Geografia Crítica implicada com a busca de um espaço mais generoso, mais igualitário, mais democrático.
No entanto, dessa vivência na PUC-RJ não posso deixar de registrar, pelas implicações que trariam à minha trajetória intelectual, que é o que aqui nesse Memorial cabe destacar, a influência de um aluno, José Augusto Pádua, hoje Doutor em História e responsável por protagonizar no Brasil um novo campo de conhecimento de enorme interesse para a Geografia, qual seja a História Ambiental. Foi esse brilhante aluno que me apresentara uma nova literatura acerca de um campo que hoje chamaríamos Ecologia Política. Isso, com certeza, fortaleceu minhas convicções acerca da importância de sempre considerarmos a inscrição metabólica da sociedade, o que fortalecia certa perspectiva teórica dentro da Geografia, mas com fortes implicações políticas, sociais e geoecológicas, para ficar com os termos de Carl Troll (1899-1975), ou ecogeográficas, para ficarmos com os termos de Jean Tricart (1920-2003). Foi esse aluno, por exemplo, que me apresentou um Josué de Castro que desconhecia, profundamente implicado com a questão ambiental sem deixar de vê-la profundamente implicada com a questão social, do modo próprio como J. de Castro a via sempre mediada pela questão da fome e do subdesenvolvimento, a ponto de afirmar o “subdesenvolvimento: causa primeira da poluição”, título de sua apresentação no Colóquio sobre o Meio durante a Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, em junho de 1972. Assim, através de José Augusto Pádua esse aluno-professor, reforçava minhas afinidades com os temas agrário e ambiental, com uma Geografia Crítica preocupada com as relações sociais com a natureza.
A experiência no SOCII – Pesquisadores Associados em Ciências Sociais – onde convivi com cientistas sociais de diferentes formações acadêmicas e de posições teórico-políticas variadas mas que também se reivindicavam como pensamento crítico, me permitiu não só um maior domínio da complexidade do social que nossa formação de geógrafos tende a ignorar com a visão dominante de um homem genérico (“ação antrópica”, “ação humana”, argh!!!!), como também a ver a amplitude do pensamento crítico, mais amplo que o marxismo que abraçava. (5) Entre as minhas atividades no SOCII, merece destaque o fato de, por cerca de 8 anos, ter ministrado um curso de “Leitura de Marx”, inicialmente sob a direção intelectual do sociólogo Michel Misse. Ali, coletivamente lemos desde “As Diferenças entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro”, que Marx escrevera ainda muito jovem, até as cartas à Vera Zasulich que Marx escrevera já em 1882. Essas leituras, que não deixaram de passar por O Capital: Contribuição à Crítica da Economia Política e pelo Capítulo Inédito, me levaram à firme convicção do caráter abarcador do capitalismo na conformação do sistema mundo que vivemos e da necessidade de sua superação para podermos pensar uma sociedade mais justa e também ecologicamente responsável, já começava a dizer à época, o que já me colocava numa posição estranha ao marxismo estrutural funcionalista e de forte inspiração na economia política. Minha abertura à diversidade cultural, em grande parte derivada de minhas aulas de Antropologia, mas que, de modo próprio, acompanha a história da geografia como insistiam meus professores na graduação de inspiração hartshorneana – a geografia como estudo de diferenciação de áreas – ou de inspiração lablacheana – com seus gêneros de vida –, além da convivência com múltiplas visões que se reivindicam do campo do pensamento crítico nas Ciências Sociais, me levaram, confesso, a prestar mais atenção ao subtítulo de O Capital - Contribuição à Crítica da Economia Política - do que ao título propriamente dito. Fui formando a convicção, que hoje tenho como segura, de que Karl Marx (1818-1883) foi, na verdade, o primeiro grande antropólogo da sociedade capitalista moderna e industrial ao nos revelar como uma determinada sociedade institui relações sociais e de poder que põem a economia no centro do imaginário e das suas práticas. Daí que O Capital mais que um livro de Economia Política ser uma contribuição à crítica da economia política o que tem sérias implicações epistêmicas e políticas, entre outras, a de que a luta para superar o capitalismo não é uma luta para, simplesmente, instaurar um outro modo de produção, como se fosse a produção que devesse comandar todo processo de instituição social.
Mas antes que essa ideia ganhasse a convicção que hoje tenho a respeito da questão, embora com certeza foi nesse momento que ela começava a fazer sentido para mim, foi a emergência das lutas sociais no Brasil de finais dos anos 1970, que me levaram a buscar e encontrar novos caminhos de investigação científica. Comecei a entender que embora conhecesse razoavelmente bem o que no jargão marxista chamamos “lógica do capital”, eu conhecia muito pouco a lógica dos que resistiam ao capital, se é que cabe essa expressão aqui. E não era qualquer coisa, pois o movimento operário que começava a mostrar sua força no ABCD paulista, vinha acompanhado de movimentos de bairro, de movimentos contra a carestia, de movimentos de mulheres, enfim, de uma série de outros movimentos sociais, como o movimento ecológico, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento gay, como inicialmente se afirmaram grupos sociais com outra opções de gênero, e que mereceu uma fina análise em uma tese que viria a ser livro com o belo título “Quando Novos Personagens entram em Cena”, de Eder Sader. (6)
Desde então, percebi que compreender a lógica do capital (7), embora necessária, não era suficiente, o que implicava buscar entender melhor a luta dos grupos/classes sociais que lutam para afirmar o que consideram uma vida digna e justa. Que há lutas contra o capital mais além das lutas de classes, até mesmo “lutas de classes sem classe” como afirmaria o historiador marxista E.P. Thompson com quem cada vez mais me afinava. E também uma aproximação com um sociólogo não-marxista, como Pierre Bourdieu, que afirmara certa vez não gostar de teoria teórica, o que me chamou muito atenção até porque a frase é densa, pois não se trata de não gostar de teoria, mas sim de não gostar daquelas teorias que abandonam o mundo e caminham, no pior sentido que a palavra teoria muitas vezes adquire, qual seja, de se desligar do mundo mundano, do mundo sublunar. Enfim, isso me levou a um interesse direto em estudar as lutas sociais, em termos mais precisos conceitualmente, investigar movimentos e conflitos sociais, temas que, a rigor, não fazem parte da tradição da Geografia. Confesso que ao longo dos anos 1980 isso se constituiu num verdadeiro dilema para mim, enfim, como trabalhar geografia e movimentos sociais? Esse dilema só começou a ser resolvido em finais dos anos 1980, mas tem uma relação direta, e que só mais tarde perceberia, com a experiência vivida em 1976 no município de Campos dos Goitacazes. Revisitemo-la. Mais uma vez, agora em Campos dos Goitacazes, os estudantes tiveram papel decisivo na minha educação. Afinal, foram eles que me envolveram numa experiência que se tornaria decisiva em minha formação. O município de Campos, tradicionalmente produtor de cana de açúcar, é dominado politicamente por uma poderosa e quincentenária oligarquia latifundiária. (8) Pois bem, naquele momento, as oligarquias latifundiárias da cana viviam um novo momento de sua afirmação e, mais uma vez, com um projeto de grande interesse político, como acontecera no período da invasão/conquista colonial, agora se apresentando como protagonista de um novo projeto de interesse nacional, o Proálcool. À época, o país passava por um grave problema de abastecimento de combustíveis em função da dependência das importações de petróleo e que tinha graves implicações no balanço de pagamentos pelo elevado custo de importação de petróleo, agravado pelo primeiro choque do petróleo de 1973. A solução técnica de produzir etanol a partir da biomassa de cana resolvia, em parte, a crise do país e, assim, os latifundiários da cana resolviam seus problemas de acumulação de capital e, mais uma vez, se tornavam heróis (9) de projetos políticos estatais. Essas ligações atávicas patrimonialistas, hoje rebatizadas como parceria público-privada, sempre estiveram presentes em nossa formação social desde as sesmarias (os latifúndios que ainda nos comandam) até as concessões dos espaços das ondas magnéticas de transmissão de rádio e televisão (os latifúndios do ar). Afinal, os “homens de cabedal” foram atraídos para investir no Brasil com o favor dos Reis de Portugal que lhes concederam sesmarias que seriam devolutas caso não conseguissem ocupar o território, objetivo maior do Estado colonial. Assim, os “homens de cabedal”, os filhos de alguém (fi’d’algo), amigos do rei recebiam sesmarias e, caso conseguissem ganhar dinheiro explorando o Brasil na empreitada, afirmavam o interesse do Estado português de conquistar o território. Como se vê as lógicas capitalista e territorialista se complementam. (10) E observemos que, desde os primeiros momentos de nossa formação dependente e colonial que “os donos do poder” (Raimundo Faoro) se forjaram com íntimas relações entre o público e o privado, o nosso estado patrimonialista e cartorial. E não só isso, o fizeram tanto no século XVI, desde 1532, como no século XX a partir de 1974 (Proálcool), sempre com o mais sofisticado desenvolvimento tecnológico de cada época, haja vista não haver, na Europa, no século XVI, engenhos de açúcar vocacionados para exportar para o mercado mundial (já commoditties?), como havia em Campos e em Pernambuco (e também em Cuba e na Ilha de São Domingos, Haiti incluído). Enfim, nos anos 1970 a modernização conservadora se atualiza com a produção de energia a partir de biomassa de cana com o Proálcool. Nada mais moderno, e colonial, do que o latifúndio monocultor de exportação, suas tecnologias modernas e injustiça social com a super-exploração da natureza e do trabalho, inclusive com o renascimento do trabalho escravo. O agrobusiness tem 500 anos!
Como sempre ocorrera com esses projetos de acumulação e conquista territorial não foram poucos os conflitos e não foram poucas as tensões de territorialidades como, mais tarde, eu haveria de nomear essas conflitividades. Meus alunos da disciplina de Geografia Humana no curso de História da Faculdade de Filosofia de Campos, onde eu trabalhava naqueles idos de 1976, vieram me buscar para que eu fizesse um relatório que ajudasse a defesa dos camponeses - agricultores e pescadores – do distrito de Ponta Grossa dos Fidalgos, cujos principais líderes estavam, naquele momento, presos por lutarem contra uma obra que aprofundava o canal de Barra do Furado que comunicava a Lagoa Feia com o mar. O aprofundamento desse canal fazia com que a água da Lagoa Feia vazasse e, assim, diminuía a área da lagoa e ampliava a área disponível para o cultivo de cana de açúcar que se expandia estimulada pelo Proálcool. Os agricultores-pescadores que antes tinham acesso à lagoa nas imediações de suas casas passavam a ter que percorrer distâncias cada vez maiores para acessar seus barcos e poder pescar.
Meus estudos para tal relatório acerca daquela lagoa revelaram, através de fotografias aéreas que, em apenas 8 anos, entre 1968 e 1976, a área da Lagoa Feia diminuíra de 350 Km² para 172 Km², ou seja, a lagoa perdera mais de 50% de sua área. Registre-se que à época vivíamos sob uma ditadura empresarial-militar e que um dos maiores latifundiários da região, o Sr. Alair Ferreira, era também dono da empresa Cobráulica – Companhia Brasileira de Obras Hidráulicas – além de ser Presidente da Arena, partido oficial da ditadura e, ainda, dono dos principais meios de comunicação do município. Ali me vi implicado, pela primeira vez, diretamente num conflito na condição de profissional de Geografia. Enfim, a questão da relação entre geografia e conflito social começava a entrar na minha vida, embora ainda não entrasse em minhas formulações teóricas de Geografia. Aliás, essa desconexão entre estar implicado com a luta social e a teoria geográfica propriamente dita, me acompanharia alguns anos, com se poderá ver mais adiante. Enfim, em Campos me vi entrando na Lagoa, acompanhando agricultores-pescadores, para tentar entender o que se passava e argumentar tecnicamente sobre a situação que, hoje, chamamos conflito socioambiental ou conflito territorial. Confesso, que o que mais me chamou a atenção naquele momento e que já, desde ali, me marcaria do ponto de vista teórico-político foi ver que aqueles camponeses, a partir de outros recursos cognitivos, tinham um refinado conhecimento da dinâmica lagunar. Ali, também, me sentira muito à vontade pelo domínio que eu tinha da dinâmica lagunar em geral por todo o aprendizado que tivera nas pesquisas de Geomorfologia Costeira com o professor Dieter Muehe. Aquela convicção que a dinâmica ecogeográfica ou geoecológica é fundamental para o devir social ganhava ali um conteúdo empírico-concreto com enormes implicações epistêmicas e políticas para mim. Enfim, formei a convicção que há muitas matrizes de racionalidade distintas e, assim, múltiplas epistemes desenvolvidas por diferentes povos/comunidades/etnias/grupos/classes sociais. Aqui se juntavam meus múltiplos encontros (1) com meus professores como Luitgarde Cavalcanti, Dieter Muehe, Waldemar Mendes, Orlando Valverde e Otávio Brandão que, embora muito diferentes entre si, me inspiraram a ser como sou do ponto de vista teórico e político; (2) com meus amigos do SOCII que tanto me deram em termos de compreender a complexidade do social e a abertura teórico-política e, porque não dizer, ideológica, ainda que não abrindo mão do marxismo e (3) com o diálogo de saberes advindo da cultura popular.
O primeiro esboço de afirmação desses princípios enquanto geógrafo se deu com meu artigo A Geografia Está em Crise. Viva a Geografia! apresentado no Encontro Nacional de Geógrafos em Fortaleza, em 1978. Esse artigo e essa participação no encontro da AGB associariam definitivamente minha trajetória intelectual com a AGB, com a Geografia Crítica e com a história recente da Geografia brasileira. Ali já esboçara a ideia que não se pode entender a crise da ciência geográfica ignorando a geografia da crise da sociedade em que ela está inserida. Essa ideia que ali começara a germinar ganharia consistência com minha aproximação com outro intelectual marxista, Cornelius Castoriadis, que fundara o Grupo Socialismo ou Barbárie. Desde então, passei a entender que não basta buscar outros paradigmas para substituir os paradigmas existentes, mas a entender que os paradigmas não caem dos céus. Ao contrário, são instituídos no terreno movediço da história – a geografia – por grupos/classes sociais que os instituem através de processos determinados que, eles mesmos, de alguma forma constituem e por eles são constituídos. Enfim, reforçava-se a tese que as ideias sobre o mundo são ideias do mundo e nascem em geografias determinadas situadas em tempos determinados. O que só reforçava a ideia de estudar cada vez os movimentos sociais. Começo a vislumbrar um possível caminho teórico onde vejo que as lutas sociais e os conflitos são momentos/lugares privilegiados do ponto de vista epistemológico. Afinal, num conflito determinado existem, pelo menos, duas visões de um determinado problema que está sendo posto como questão por aqueles e aquelas diretamente interessados/as. Assim, a contradição deixa de ser uma lógica (dialética?) abstrata e passa a ser entendida como contradição em estado prático e, desse modo, aberta às vicissitudes históricas e geográficas por meio das quais os grupos/classes sociais se forjam. Assim, os grupos/classes sociais não se forjam antes, seja em termos lógicos ou cronológicos, às relações sociais e de poder que contraditoriamente engendram e que os/as engendra. Como diria E. P. Thompson, na expressão luta de classes o termo forte é luta e não classe, cito de memória, pois é no conflito que os lados se conformam, que as identidades se forjam. O velho e bom antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira já afirmara, nos anos 1960, que toda identidade é contrastiva. Enfim, a ideia de uma geografia dos conflitos estava latente e viria a ganhar sentido em finais dos anos 1980.
Não poderia deixar de registrar esse meu primeiro momento de reflexão teórica com relação à Geografia pelo significado do momento de inflexão na geografia brasileira que, por fortuna, me vi diretamente envolvido em 1978, no III Encontro Nacional de Geógrafos da AGB, em Fortaleza. Registre-se que minha presença naquele evento se deu por insistência do Professor Roberto Lobato Correa por minha interpretação gramsciana dos vários artigos que ele havia indicado em sua disciplina sobre teoria e método em Geografia. Entretanto, seu reconhecimento de que o paper final que eu apresentara à sua disciplina e que ele insistira para que eu apresentasse no encontro da AGB não me deixava seguro para o que, no fundo, me preocupava, ou seja, a consistência para a formulação de uma teoria social crítica ao capitalismo. Com todo o respeito que eu tinha, e tenho, pelo Prof. Lobato Correa, levei o texto para um refinamento crítico junto aos meus colegas do Socii. Reitera-se aqui, como se vê, a ambiguidade que me acompanhava entre ser profissional de geografia e um ativista implicado com as lutas sociais anticapitalistas. Todavia, registro que o aval do Prof. Lobato Correa foi decisivo para me indicar que esse caminho era, de algum modo, possível. Ver assistindo minha exposição no III ENG em Fortaleza a figura de meu mestre Orlando Valverde ao lado de Caio Prado Jr. e de Milton Santos foi tão inspirador como conhecer outros geógrafos que buscavam uma geografia crítica com inspiração marxista, como Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Armén Mamigonian e Armando Correia da Silva para não dizer do sopro de entusiasmo trazido pela protagônica participação dos estudantes naquele histórico encontro da AGB de 1978. Por fortuna, o título de meu artigo seria uma boa epígrafe para o que ali se sucedia: A Geografia está em Crise. Viva a Geografia!
Mais uma vez, a AGB se tornaria um verdadeiro território livre para a formação de geógrafos por fora dos controles acadêmicos, território esse que, por exemplo, proporcionou que talentos como Orlando Valverde e Milton Santos, entre outros, se afirmassem junto à comunidade geográfica. Milton Santos, por exemplo, começara a frequentar as assembleias da AGB na condição de professor de ginásio e, por seu talento reconhecido por professores como Manoel Correia de Andrade, Orlando Valverde e Pasquale Petrone, passara a receber convites para continuar participando das reuniões da AGB. Mais tarde, no ano 2000, na condição de Presidente da AGB tive a honra de assistir à última participação do Professor Milton Santos no XII Encontro Nacional de Geógrafos, em Florianópolis, cuja participação, registre-se, se deu em condições limite de seu estado de saúde e por insistência dele. Sua gratidão para com a AGB está registrada não só pelo documento O Papel Ativo da Geografia: Um Manifesto que ali lançaria como também pelo convite que faz em seu artigo na Folha de São Paulo no dia 16/07/2000, dia da abertura do encontro da AGB, para que a sociedade brasileira prestasse a atenção ao que os geógrafos debateriam naquele encontro. Enfim, como se pode ver minha trajetória intelectual teórico-política estaria definitivamente marcada por esse território aberto que contraditoriamente tem sido a AGB. E não se pode dissociar todo esse processo de invenção de um pensamento crítico na Geografia brasileira ao momento de luta contra a ditadura empresarial-militar (1964-1985) que, fechando espaços de participação política, fez com que a sociedade investisse em espaços não abertamente políticos, como a AGB e a SBPC, como fóruns de debate político. Afinal, como a crítica é inerente ao campo científico e filosófico, pelo menos naqueles fóruns era possível pensar criticamente o Brasil e o mundo.
Enfim, desde os finais dos anos 1970 e sobretudo na década de 1980, num contexto de renovação crítica da Geografia e de luta da sociedade brasileira e latino-americana contra ditaduras civil-militares, começo a participar da formulação de uma teoria social crítica a partir da Geografia onde têm um lugar central (1) a dinâmica sociometabólica(11) e (2) a dinâmica contraditória das relações sociais e de poder com seus conflitos e movimentos sociais que vão geografando o mundo.
Minha contribuição junto com intelectuais da antropologia, direito e sociologia implicados com o movimento dos seringueiros na criação das Reservas Extrativistas talvez seja a principal consolidação desses muitos encontros. Identifico esse momento como um aprofundamento do que assinalei no conflito envolvendo camponeses-pescadores em Ponta Grossa dos Fidalgos na Lagoa Feia no município de Campos em 1976. Agora, em finais dos anos 1980, o conflito e o movimento social começam a ganhar estatuto de uma teoria crítica em Geografia de modo explícito e aquela Geografia implicada no sociometabolismo aprendida com O. Valverde e, por sua influência em J. Tricart e Aziz Ab’Saber, se afirma em definitivo e, mais, vinda dos seringais a que tanto se referia Otávio Brandão.
Aquela ambiguidade já assinalada várias vezes entre o cidadão ativista preocupado com a transformação social e o geógrafo sem uma teoria crítica que apontasse na mesma direção começa a se dissipar em finais dos anos 1980. Confesso que não foram muitas as companhias que encontrei na geografia brasileira para isso, posto que, à época, ela estava muito influenciada por uma marxismo estrutural-funcionalista prisioneiro de uma economia política onde a economia era determinante em primeira instância. O espaço chegou mesmo a ser considerado uma instância. Entre as influências mais positivas estão Regina Sader, Ariovaldo Umbelino de Oliveira e, já na época, o jovem Marcelo Lopes de Sousa nos oferecia um dos melhores ensaios já produzidos entre geógrafos brasileiros – Espaciologia, uma objeção - e que tomei a iniciativa de recomendar com ênfase à Revista Terra Livre para que o publicasse. O foucaultiano Claude Raffestin e o marxista italiano Massimo Quaini me serviram de referência na formulação de uma teoria social crítica em Geografia. No plano mais amplo das ciências sociais e da filosofia fui buscar referência em E.P. Thompson, Cornelius Castoriadis e Pierre Bourdieu.
Esse esforço de reflexão teórica teve uma forte inspiração fora da academia por meu envolvimento, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 1980, com os grupos/classes sociais a partir (1) dos varadouros, dos igarapés, dos furos e dos paranás da Amazônia, e (2) das chapadas e das veredas dos cerrados a princípio a partir do Norte de Minas Gerais com experiências com técnicos, agrônomos e camponeses com práticas agroecológicas e com a América Latina. Enfim, esses encontros marcariam minhas reflexões teórico-políticas emprestando-lhes um maior rigor não só com relação ao campo ambiental, mas também enquanto geógrafo, sobretudo pela relevância que nela tem a problemática sociometabólica.
Nessa construção de uma teoria social crítica a partir da Geografia, os grupos/classes sociais em situação de subalternização em luta por justiça territorial e ambiental tiveram uma grande influência nessa formulação, sobretudo nas três regiões acima referidas com as quais venho mantendo uma relação intensa, a saber, no Brasil, os Cerrados e a Amazônia, e, ainda, a América Latina. Nesse encontro com essas regiões e essa gente, houve um intenso diálogo com seus intelectuais tanto os da academia como os de fora dela, como Chico Mendes.
EM BUSCA DE UMA TEORIA SOCIAL CRÍTICA A PARTIR DA GEOGRAFIA
1. DESDE A AMAZÔNIA COM SEUS POVOS
Devo à Prof.ª Lia Osório, minha orientadora no Doutorado, uma fina observação que me chamou a atenção para o lugar de enunciação, de certa forma afortunado, de minha relação com a Amazônia. Normalmente o debate acerca da Amazônia é mais um debate sobre a Amazônia e que ignora a perspectiva própria dos amazônidas. A Prof.ª Lia Osório me chamou a atenção que eu dominava o discurso sobre a Amazônia e, por minha vivência com os movimentos sociais da região, eu tinha acesso também à visão dos amazônidas e, assim, eu experimentara essa dupla perspectiva, de dentro e de fora. E entre os de dentro da região ganha destaque minha vivência com os grupos sociais em situação de subalternização em luta para superar essa condição, no caso com os seringueiros.
Essa observação de Lia Osório havia sido densamente experimentada junto com meu Mestre Orlando Valverde com quem participara, em 1991, da Audiência Pública em Laranjal do Jarí em que se debateu o RIMA para construção da estrada AP-157 que ligava Macapá a Laranjal do Jari e que atravessa a Reserva Extrativista do Cajari (AP). Assessorando o CNS – Conselho Nacional de Seringueiros – lá pudemos experimentar as vicissitudes dos conflitos na Amazônia em que a audiência pública se fez com a proteção da Polícia Federal já que na véspera da audiência a principal liderança camponesa e dirigente do CNS, o Sr. Pedro Ramos, sofrera um atentado. Ali pudemos experimentar como a visão dos de fora combinada com a visão dos de dentro era capaz de potencializar a luta em defesa da Amazônia através de seus povos.
Entretanto, foi em minha tese de doutorado defendida junto ao Programa de Pós-graduação em Geografia da UFRJ, em 1998, que de modo mais sistemático expus a relação entre a geografia, conflito e movimentos sociais onde a geografia é declinada em um tempo verbal em movimento como revela o próprio título da tese Geografando nos varadouros do mundo: da territorialidade seringalista (o seringal) à territorialidade seringueira (a reserva extrativista).
Registre-se, aqui, a ruptura do paradigma que separa natureza e sociedade haja vista que a RESEX implica o reconhecimento do notório saber das populações acerca das condições materiais de produção-reprodução da vida. Através das RESEXs se politizava a natureza e a cultura através das relações sociais e de poder na apropriação e controle do espaço, enfim, tensão de territorialidades conforme registra o título da tese. Com isso se ratificava o que havia aprendido com os camponeses-agricultores-pescadores de Ponta Grossa dos Fidalgos, em Campos dos Goitacazes, em 1976, em situação de conflito. Mas aqui uma nova luz se abriu para que eu começasse a superar a ambiguidade entre o ativista e o geógrafo.
Logo depois do assassinato de Chico Mendes, em 22 de dezembro de 1988, fui convocado pelos seringueiros para assessorá-los num trabalho específico para fazer o memorial descritivo de uma área que pretendiam reivindicar como RESEX, no caso para a área que viria a ser a maior RESEX demarcada, a Reserva Extrativista Chico Mendes envolvendo vários municípios tendo Xapuri como centro, numa área de mais de 1 milhão de hectares. Tal trabalho tinha caráter sigiloso para que as oligarquias acreanas não se antecipassem para impedir a reivindicação. Preparei um mosaico de oito imagens de satélite adquiridas junto ao INPE na escala 1:100.000 e sugeri, no que fui acatado, que tal reunião não tivesse somente as lideranças político-sindicais, mas também as figuras que eles reconhecessem como verdadeiros conhecedores da floresta, como os mateiros, por exemplo. Montado o mosaico de imagens para os cerca de 15 participantes da reunião, esclareci onde estava a cidade de Xapuri, o rio Acre, a BR-317 estrada que liga Rio Branco a Xapuri numa imagem de floresta fechada com marcas de desmatamento ao longo da estrada. Num primeiro momento houve estranhamento entre os participantes, haja vista que eles nunca haviam se visto de cima. Aquela perspectiva não era a deles, mas sim daqueles que veem o espaço do alto, de longe, à distância (seria esse o sentido de sensoriamento remoto?). No momento subsequente comecei a observar que eles moviam seus corpos e identificavam cercas manchas sutis de verde que, pouco a pouco, passaram a ser identificadas por eles como sendo suas “colocações”. Aqui a “colocação” do Assis, ali a “colocação” do Duda, acolá a “colocação” do Raimundão, me refiro à “colocação” de alguns seringueiros que estavam na reunião e que viam, além disso, os varadouros e as varações que as interligavam, marcas essas que, confesso, não reconhecia. A partir de um terceiro momento, se é que assim posso me referir, me dei conta de que eu era o que menos conhecia aquela geografia, haja vista os detalhes com que se referiam àquele espaço rigorosamente sob análise para fazer o memorial descritivo, etapa preliminar de um processo jurídico de demarcação de terra. Num quarto momento cognitivo me dei conta, pela primeira vez, que estava ajudando não só a demarcar a terra, mas a grafar a terra, a geografar. Que era possível grafar a terra a partir de outro lugar que não o Estado, conforme a tradição da Geografia por suas relações íntimas com o Estado que nos pariu. Começara a ficar claro para mim a relação entre movimento e conflito social, de um lado, e uma teoria social crítica a partir da Geografia. A Geografia, o espaço geográfico, mais que um substantivo é também verbo. E, junto com o movimento dos seringueiros, começava a vislumbrar que o conceito de território, naturalizado como base do Estado, estava sendo desnaturalizado posto que num mesmo território de um determinado estado haviam múltiplas territorialidades em disputa.
O final dos anos 1980 e sobretudo os anos 1990 consagrariam a perspectiva de uma formulação teórico-política crítica como geógrafo advinda, sobretudo, da aproximação que os movimentos sociais de grupos/classes sociais em situação de subalternização me proporcionaram a partir de uma região periférica de países periféricos de um subcontinente periférico, a Amazônia, que me levariam a aprofundar minhas relações com duas regiões onde pude aprimorar a busca de uma teoria social crítica a partir da Geografia, a saber, os Cerrados e a América Latina. Afinal, a partir do movimento dos seringueiros do Acre ampliei minha relação com outras áreas da Amazônia brasileira, como os Cerrados em seus povos e também com a América Latina, nesse caso a partir dos camponeses de Pando e Beni na Bolívia.
2. EM BUSCA DE UMA TEORIA SOCIAL CRÍTICA DESDE A GEOGRAFIA: A AMÉRICA LATINA
Muito embora minha geração tenha vivido um período histórico com as marcas da Revolução Cubana, das guerrilhas, da Aliança para as Américas, das ditaduras de direita (Brasil 1964, Pinochet 1973, ...) e dos governos nacionalistas revolucionários (Velasco Alvarado, no Peru, p.ex.) e, assim, tivesse ouvido Tarancón, Raíces de América(12), Mercedes Sosa, Victor Jara e outros artistas latino-americanos, foi a partir do movimento dos seringueiros que comecei a adentrar com os próprios pés (e mente) a América Latina. A partir desse lugar contraditoriamente privilegiado, Amazônia, pude viver o clima de emergência de um outro léxico teórico-político que só mais tarde viria ter ideia de sua profundidade. Afinal, foi de Trinidad, no Beni, que partiu em direção a La Paz a Iª Marcha por la Vida, la Dignidad y el Territorio. Mais tarde viria saber que da Amazônia equatoriana partira em direção a Quito outra marcha com a mesma consigna por la Vida, la Dignidad y el Territorio. Foi o que pude aprender de perto tanto assessorando movimentos sociais na Amazônia brasileira e boliviana como também nos preparativos da Aliança dos Povos da Floresta para a CNUMAD, a Rio 92. Ali, esses grupos/classes sociais explicitaram os “outros 500”, como se dizia à época, ao associarem o 1992 a 1492. Enfim, a Amazônia e seu indigenato(13) (Darci Ribeiro) ou campesíndios (Armando Bartra) e seus múltiplos povos/etnias/nacionalidades nos traziam ao debate um tempo ancestral, uma história de larga duração diria F. Braudel. Afinal, o que se debatia na CNUMAD era o destino da humanidade que, acreditava-se, estava ameaçado pelo desmatamento da Amazônia e todo um conjunto de questões que já indicavam a gravidade do tema ambiental. E aqueles grupos/classes sociais reivindicavam um lugar próprio nesse debate pelos conhecimentos que detém derivados de um tempo ancestral de convivência e não só na Amazônia, como o Fórum Paralelo à CNUMAD realizado no Aterro do Flamengo haveria de demonstrar com a presença de movimentos sociais do mundo inteiro. O debate ambiental ganhava uma dimensão para além dos gabinetes burocráticos e da academia.
Para um geógrafo preocupado com uma geografia com centralidade nos processos sociometabólicos e com protagonismo dos grupos/classes sociais em situação de subalternização em busca de um espaço (um mundo) relativamente mais justo e relativamente mais democrático, para me apropriar de expressão consagrada por I. Wallerstein, o contexto não poderia ser mais alvissareiro. E a tese reivindicada por Milton Santos de que o espaço é acumulação desigual de tempos que nos traz a mesma inspiração de Marc Bloch da “contemporaneidade do não coetâneo” se fazia presente com os campesíndios/indigenatos com esses outros tempos falando através desses lugares marginais.
Foi inspirado pelas demandas desses grupos/classes sociais que pude emprestar um sentido político às pesquisas de Azis Ab’ Saber ao correlacioná-las às pesquisas de Darell Posey e William Balée, Ana Roosevelt e Carlos Castaño-Uribe que nos falam da presença humana na região desde 19.500 anos na Formação Cultural Chiribiquete, na atual Amazônia colombiana (Castaño-Uribe e Van der Hammen, 2005)(14) , a 11.200 anos no Sítio de Pedra Pintada, em Monte Alegre, no Pará, (Ana Roosevelt).
Ou seja, na Amazônia há ocupação humana antes mesmo da formação dessa imensa floresta equatorial que se formou de 12000 anos aos nossos dias, o que mereceu a caracterização de “floresta tropical cultural úmida” conferida por Darell Posey. A tese de Chico Mendes - “Não há defesa da floresta sem os povos da floresta” - seria materializada na proposta das RESEXs, haja vista que o notório saber daqueles grupos/classes sociais é que lhes conferia autoridade para pleitear a demarcação de seus territórios. Afinal, ninguém vive tanto tempo numa área sem saber coletar, saber caçar, saber pescar, saber se proteger das intempéries (uma arquitetura), sem saber curar-se (uma medicina), enfim sem saber, permitam-me a ênfase e a repetição necessária do saber diante de tanto olvido, como se no fazer não houvesse, sempre, um saber.
Aquela ideia surgida em 1976 no conflito de Ponta Grossa dos Fidalgos, na Lagoa Feia, no município de Campos ganhava consistência e, mais uma vez, através de um conflito social, esse lugar privilegiado do ponto de vista epistemológico. Afinal, diferentes matrizes de racionalidade, mais uma vez, eram convocadas a um diálogo intercultural de saberes a partir de grupos/classes sociais em busca do que consideram uma vida digna. Enfim, a consigna Pela Vida, Pela Dignidade e Pelo Território nos indicava que um outro léxico teórico-político estava se colocando no horizonte.
Aquela ideia surgida em 1976 no conflito de Ponta Grossa dos Fidalgos, na Lagoa Feia, no município de Campos ganhava consistência e, mais uma vez, através de um conflito social, esse lugar privilegiado do ponto de vista epistemológico. Afinal, diferentes matrizes de racionalidade, mais uma vez, eram convocadas a um diálogo intercultural de saberes a partir de grupos/classes sociais em busca do que consideram uma vida digna. Enfim, a consigna Pela Vida, Pela Dignidade e Pelo Território nos indicava que um outro léxico teórico-político estava se colocando no horizonte.
Essa entrada pela Amazônia Profunda/América Profunda ganharia ainda maiores implicações com a aproximação com todo um campo de investigações como o Pensamento Ambiental Latino-americano, como chamaria Enrique Leff, e a Ecologia Política, onde a investigação científica se faz com fortes implicações com os grupos/classes sociais em luta por uma vida digna (ou buen vivir, ou vida plena, ou suma qamaña, ou sumak kausay ...), expressão que ganha centralidade nesse campo.
Em 1997 tive a oportunidade de, pela primeira vez, experimentar a América Profunda fora da Amazônia brasileira e boliviana a convite de Enrique Leff para participar do Foro de Ajusco, na UNAM na cidade do México, para proferir uma conferência sobre a luta por território do movimento dos seringueiros. Ali fui convidado por um membro do movimento zapatista para visitar a Serra de Lacandona, em Chiapas, para que falasse diretamente aos campesíndios sobre a luta dos seringueiros. Lá pude conhecer a comunidade de Nuevo Paraíso onde ministrei uma palestra sob uma tenda coberta de palha para mais de 40 membros da comunidade, depois de caminhar mais de 10 Km sob a selva subindo e descendo a montanha. Para minha surpresa, nenhum dos campesíndios presentes me indagou, após a minha exposição, sobre a luta dos seringueiros, ao que eu dera tanta ênfase. Só me perguntavam, e com insistência, sobre o preparo da farinha de mandioca que eu expusera com fotos sobre o modo de vida dos seringueiros. E no meio da conversa é que me dei conta de que, para eles, o fato de o trabalho de preparo da farinha de mandioca implicar um trabalho coletivo durante todo o processo que vai do descascar, do ralar, do colocar no forno de lenha para torrar, tudo isso reunindo gente conversando e cantando, como expus, tinha para eles uma importância que, até ali, não era devidamente considerada por mim. Segundo eles, a mandioca produzia comunidade tanto quanto a comunidade produzia mandioca e farinha. Ou seja, havia uma dimensão para além da econômica, na produção de mandioca, ou melhor, na produção da comunidade. Mais uma vez, o diálogo de diferentes matrizes de racionalidade ampliava o conhecimento. Minhas aulas de antropologia com a Profa. Luitgarde, minhas conversas com o Prof. Orlando Valverde a partir de suas conversas com os camponeses de Barbacena, meu diálogo com os agricultores-pescadores de Ponta Grossa dos Fidalgos, ganhavam consistência com esse encontro com os campesíndios da Serra de Lacandona onde cheguei pelas mãos da ecologia política e do pensamento ambiental latino-americano, especialmente pelas mãos de Enrique Leff mas, sobretudo por meu envolvimento com o movimento dos seringueiros e pelas implicações que a Amazônia passara a ter com sua proposta da Aliança dos Povos da Floresta – “Não há defesa da floresta sem os povos da floresta” -, haja vista a tradição colonial de ver a região como natureza e como vazio demográfico. Talvez aqui se possa ver a importância que atribuo ao título de minha tese de doutorado: Geografando nos varadouros do mundo; da territorialidade seringalista (o seringal) à territorialidade seringueira (a reserva extrativista). Enfim, a geografia se torna verbo e o território, conceito até então naturalizado - território como base natural do estado - é desnaturalizado e, assim, esses movimentos nos mostram que há, sempre, uma tríade conceitual território-territorialidade-territorialização, enfim, tensões territoriais.
3. EM BUSCA DE UMA TEORIA SOCIAL CRÍTICA A PARTIR DA GEOGRAFIA - DESDE OS CERRADOS
Desde finais dos anos 1980 passei a ser convidado por jovens agrônomos e técnicos de agronomia que protagonizavam uma ampla luta por uma agricultura alternativa, como se chamava à época, e que mediam forças contra o avanço das grandes monoculturas com amplo uso de agrotóxicos. Quem me abriu esse caminho nos cerrados foi Carlos Eduardo Mazzetto Silva, engenheiro agrônomo que viria, depois, se tornar geógrafo. (15) A princípio não os conhecia pessoalmente e o que nos teria aproximado foi o fato de terem lido meus escritos sobre a problemática ambiental para além de uma perspectiva ecológica, enfim, com minha preocupação com a transformação social necessária para que tenhamos outra relação com a natureza. Nossas afinidades eram muitas, mas talvez a principal fosse a premissa da importância do diálogo entre o saber técnico-científico convencional produzido nas universidades e o conhecimento vernacular de camponeses, indígenas e quilombolas.
A partir desse encontro pude sentir de perto e conhecer por dentro as chapadas e as veredas dos cerrados, a princípio a partir do Norte de Minas Gerais. Concretamente foi a partir desse encontro/diálogo que percebi que, além do conhecimento científico e do conhecimento popular, a arte é uma poderosa fonte de produção de conhecimento. Foi a partir desses encontros que descobri a importância da obra de Graciliano Ramos, em particular Grandes Sertões, Veredas. Ali, pude entender que, no próprio título dessa obra, Graciliano Rosa consagrava as duas grandes unidades da passagem, tal como os povos do cerrado marcam a terra: os “grandes sertões” são onde “o mundo carece de fechos”, pois as chapadas são “Geraes”, terra comum a todos (Geral) e onde não há cercas, onde “a água sorveta feito azeitim entrador”, pois infiltra e, diz-nos Rosa, são uma caixa d’ água; e as “veredas” são os lugares onde se planta, o fundo dos vales. Ali pude entender que o diplomata sensível haveria de fazer com que o saber dos geraizeiros se tornasse universal nos mostrando as múltiplas universalidades possíveis no mundo (pluriversalidades?), já que sua obra haveria de ser traduzida para tantas línguas para tantos lugares e culturas. Afinal, qual seria o interesse de um alemão ler Grande Sertão, veredas não houvesse algo comum com os geraizeiros? Novamente minha professora de Antropologia Luitgarde Cavalcanti e meus mestres Orlando Valverde e Otávio Brandão se mostravam inspiração.
Ali, a partir do Norte de Minas pude me conectar com todo um movimento de agricultura alternativa, de agroecologia e de tecnologia alternativa que estava sendo posto em prática em várias localidades do país e que tinha na FASE e na Rede AS-PTA uma das suas principais redes de apoio. Ali pude colaborar com o CAA-NM, desde finais dos anos 1980, e com o CEDAC já nos inícios dos anos 2000. Toda a pesquisa que desenvolvi acerca dos cerrados na universidade foi feita com um profundo diálogo com esses saberes dos povos dos cerrados e para fortalecer a afirmação desses grupos/classes sociais.
Mais uma vez meus alunos e o movimento social haveriam de aprofundar meus conhecimentos e a firmar a convicção de que o conflito social é um fenômeno privilegiado do ponto de vista epistemológico, pois, no mínimo, nos oferece duas perspectivas diferentes sobre um determinado problema/questão.
Desde 1996 comecei a supervisionar a implantação de um curso de formação de professores de Geografia na região do Médio Araguaia, com base no município de Luciara-MT, na UNEMAT, onde também ministrava disciplinas, como a de Formação Territorial do Brasil. Ali tive a fortuna de poder contar com um indígena, Samuel Karajá, também formado em Direito, para ministrar uma aula magna sobre a Formação Territorial do Brasil desde a perspectiva de um indígena(16) deslocando toda a turma para dentro da sua aldeia. A ideia de conflito ou tensão de territorialidade se mostraria com toda força e, anos depois, ouviria de um doutorando, Emerson Guerra, que “o processo de ordenamento territorial do estado é, ao mesmo tempo, um processo de desordenamento territorial”. Emerson Guerra formulara essa ideia a partir do seu trabalho com povos indígenas e saber/experimentar que o ordenamento territorial do Estado é, do ponto de vista indígena, desordenamento territorial. Quem ouvira Samuel Karajá falando da formação territorial do Brasil não poderia deixar passar sem espanto – primeiro ato de reflexão filosófica – a afirmação de Emerson Guerra.
A região do Médio Araguaia vem sendo alvo de sucessivos avanços/invasões desde os finais dos anos 1950, sobretudo desde a construção de Brasília e das rodovias de acesso à Amazônia, com todo um movimento de antecipação no confisco/grilagem de terras por parte das oligarquias latifundiárias tradicionais do Mato Grosso pela posse de informações privilegiadas e do controle do aparelho de Estado, processo esse movido com muita violência. Esse processo ganha um novo fôlego na segunda metade dos anos 1990 com a nova ofensiva do agrobusiness através de grandes obras de infraestrutura de arranjo espacial (D. Harvey) para o capital.
Na região do Médio Araguaia a obra que se anunciava naquele momento era a Hidrovia do Araguaia para a navegação e transporte, sobretudo de soja e gado. As condições geomorfológicas específicas da região, comandada pelo caráter da ampla planície inundável do rio Araguaia, a segunda maior área continental alagada do planeta com cerca de 2 milhões de hectares, provavelmente traria enormes consequências para os camponeses ribeirinhos e indígenas. Junto com o professor Alexandre Régio da Silva e meus alunos no curso de Geografia fizemos a análise crítica do EIA-RIMA podendo lançar mão dos conhecimentos que os alunos/professores tinham da região já que, em sua quase totalidade, eram filhos de camponeses ribeirinhos e indígenas. O título do documento que produzimos, depois publicado pela Revista Terra Livre da AGB, dá conta das tensões de territorialidades em curso na região – “Navegar é preciso, ... viver não é preciso: estudo sobre o Projeto de Perenização da Hidrovia dos Rios das Mortes, Araguaia e Tocantins” (Terra Livre, 15, ano 2000). O título do estudo/artigo dialogava criticamente com a apropriação que as elites locais faziam em defesa do projeto se apropriando de um verso do poeta Fernando Pessoa que diz que “Navegar é preciso”, conforme panfleto que circulava na região. Depois de analisarmos o EIA-RIMA e revisitarmos Fernando Pessoa vimos a sutileza do poeta que nos ensinava que navegar é coisa do mundo da precisão, do mundo das técnicas – “Navegar é preciso”. Já o viver não se reduz às técnicas, o viver não é do mundo da precisão, daí Pessoa nos dizer: “Viver não é preciso”. Ciência, conflito/movimento social e arte voltavam a se encontrar.
Durante esse trabalho junto com alunos do Médio Araguaia muito aprendi com os saberes dessas populações, particularmente com os retireiros, grupo social que vem se constituindo a partir da luta para afirmar a posse comum dessas imensas áreas alagadas da planície do rio Araguaia. Retireiro é um nome que deriva de retiro, pequeno apartado que os vaqueiros destinam para tratar do gado quando precisa de algum cuidado, uma vacina, um curativo, um parto. Na região, é comum que esses vaqueiros trabalhem para fazendeiros e recebam a “quarta”, ou seja, de cada quatro reses a mais do rebanho que cuidam num tempo determinado uma rês é destinada à paga do vaqueiro pelo fazendeiro. Não possuindo terras, os vaqueiros costumam criar seu pequeno rebanho à solta nas terras alagadas do Araguaia enquanto uso comum das terras/águas. Num momento como aquele em que vivíamos na segunda metade dos anos 1990, em que se anunciavam grandes obras que davam acesso àquelas terras, a especulação sobre elas se exacerbava. Eis uma conclusão a que chegamos e que deu origem à luta dos vaqueiros/retireiros em defesa das terras comuns, inicialmente com a proposta de uma RESEX.
Não é difícil ver como minha presença nos Cerrados do Médio Araguaia se fazia também com a inspiração amazônica dos seringueiros. Assim, certas práticas sociais que, a princípio, parecem ser locais se mostram passíveis de serem generalizadas e, nesses casos, o papel mediador dos intelectuais se mostra importante. Essa luta desencadeada por esses grupos/classes sociais na região do Araguaia seria responsável mais tarde pela maior arrecadação de terras por parte do Serviço de Patrimônio da União, ou seja, o SPU reivindica como terra pública uma área de um milhão e setecentos mil hectares, em suma, praticamente toda a área alagada do rio Araguaia!
Registre-se, ainda, o trabalho que deu origem à demanda por uma UC, inicialmente uma RESEX, com os laudos biológico e socioeconômico necessários para a compreensão da territorialidade e a definição dos limites territoriais, nos proporcionou um intenso diálogo com os saberes/fazeres daqueles grupos/classes sociais. Nessas andanças pelos cerrados e pelos varjões, como os retireiros chamam as áreas sazonalmente alagadas do Araguaia, não era difícil nos ver acompanhados pelos Manoelzões locais, como Rubem Taverny um desses vaqueiros/retireiros.
Todo esse mergulho nas chapadas e veredas dos cerrados me valeria um convite para que assessorasse a Articulação dos Povos dos Cerrados que, a partir de inícios dos anos 2000, várias entidades camponesas, quilombolas, indígenas, de pescadores e de técnicos de agronomia e agrônomos preocupados com a agroecologia passaram a conformar em defesa dos cerrados e seus povos. Dezenas de viagens e reuniões pelos cerrados de todos os estados dominados por essa formação biogeográfica foram realizadas onde pude aprender com não menos de 50/60 lideranças comunitárias por vez que traziam dos fundos das veredas ou das chapadas um enorme acervo de conhecimentos que se constituía num importante suporte para a defesa de seus territórios. A tese de Chico Mendes de que “não há defesa da floresta sem os povos da floresta” se generalizava sendo amplamente recriada como “Não há defesa dos cerrados sem os povos dos cerrados”. Ponta Grossa dos Fidalgos se mostrava um fio condutor e o Brasil dos seringais, dos canaviais, dos cacauais de Otávio Brandão energia também dos Cerrados.
Do ponto de vista propriamente científico talvez seja relevante destacar a tese que emanou desse encontro de saberes, a saber, que os cerrados não correspondem somente à área de aproximadamente 22% do território brasileiro, como a ciência convencional vem salientando. O mapa de Aziz Ab’Saber reproduzido acima nos faz ver que a maior parte do território hoje ocupado pelo Brasil era dominada pelos cerrados, inclusive grande parte da Amazônia, há 12.000 anos antes do presente. Desde o Holoceno, quando as condições macroclimáticas do planeta passaram a conformar o período atual, que as formações florestais começam a ampliar sua área, como a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica e a Mata de Araucária. Nessa expansão das formações florestais sobre áreas de cerrados se conformam ecótonos, áreas de tensão ecológica, que abrangem entre 12% a 14 % do território brasileiro, o que nos mostra que à core-area dos cerrados devemos acrescentar de 12% a 14% de áreas de tensão, o que implica dizer que essa formação biogeográfica estaria presente em cerca de 34% a 36% do território brasileiro. O domínio biogeográfico dos cerrados é o único que mantém contato com as três grandes formações biográficas florestais do país, e ainda com a Caatinga. Entre essas áreas de tensão ecológica se incluem não só as duas maiores áreas continentais sazonalmente alagadas do planeta – O Pantanal e o Araguaia – como também duas áreas de altíssima complexidade ecológica como o são a Zona dos Cocais e o próprio Pantanal. E, mais, pela complexidade implicada nessas áreas de tensão ecológica, o conhecimento de detalhe, o conhecimento local, é imprescindível e essa é, talvez, a principal virtude do conhecimento camponês e dos povos que ocupam ancestralmente esses espaços. Sendo, assim, para a compreensão e conhecimento dessas áreas esses povos, com seus saberes/fazeres, são imprescindíveis.
Como se pode ver, uma teoria social crítica a partir da Geografia vai sendo forjada a partir dos conflitos e dos movimentos sociais.
QUANDO A MEMÓRIA ATUA, É ATUAL
Dois outros encontros ocorridos nos anos 2000 vieram dar os contornos atuais dessa trajetória até aqui memorializada que, em termos acadêmicos, estou chamando de construção de uma teoria social crítica desde a Geografia: 1º: o encontro com o pensamento decolonial que se inscreve como parte do rico acervo do pensamento crítico latino-americano e; 2º: o encontro com a Comissão Pastoral da Terra. Comecemos pelo encontro com a CPT até porque eles se encontrarão mais adiante, como veremos.
Minha trajetória pessoal se encontra com a da CPT em 2003 embora a criação dessa pastoral, em 1976, tenha se dado em função da intensificação dos conflitos por terra na Amazônia brasileira. Não deixa de ser uma fortuna esse encontro não pelas implicações religiosas que envolvem a CPT, mas por seu compromisso com a luta pela terra junto com os grupos/classes sociais. A CPT tem presença em todos os estados brasileiros e desde 1985 reúne o que, hoje, pode ser considerado o maior acervo de dados sobre conflitos por terra no país, com mais de 30.000 conflitos registrados. Em 2003 fui convidado para contribuir na análise dos dados consolidados dos conflitos para o Caderno de Conflitos no Campo publicação anual da CPT. Desde então, o conflito, conceito que já vinha marcando minha construção teórica, passa a ganhar cada vez maior destaque, como já registrado nesse Memorial em várias passagens anteriores. Insisto que esse encontro tenha sido uma verdadeira fortuna, pois dificilmente um pesquisador isoladamente conseguiria tanta informação qualificada sobre conflito por terra, inclusive por tudo que está implicado sociometabolicamente nesse conceito (Terra(17) -Água(18) -Ar(19) -Sol(20) -Vida(21) ). Desde então, vimos observando, como está registrado em nossas análises anuais do Caderno de Conflitos no Campo, o movimento contraditório desigual e combinado da geografia da sociedade brasileira, cuja melhor expressão é o próprio conflito, enquanto contradição social em estado prático, ou seja, enquanto dialética aberta. O conflito que havia sido experimentado desde Ponta Grossa dos Fidalgos e pelos retireiros do Araguaia passando pelos seringueiros do Acre e da Bolívia ganhava aqui, na relação com a CPT e seu enorme acervo, um caráter mais amplo passível de apreender o movimento contraditório da geografia da sociedade brasileira e como a geografia vai sendo marcada, ou melhor, como a sociedade vai se geografizando em sua inscrição metabólica para significar/fazer-produzir-reproduzir a vida.
Esse encontro com a CPT potencializou o aprofundamento de minhas relações com o pensamento crítico latino-americano a partir de minha aproximação com a América Profunda pela Amazônia boliviana com os camponeses/gomeros, em inícios dos anos 1990, com os campesíndios maias da Serra de Lacandona, em 1997. Essa aproximação com os movimentos sociais se enriqueceu com as leituras e aprendizados com as novas vertentes da rica tradição do pensamento crítico latino-americano, como o pensamento ambiental, desde finais dos anos 1980, com os Seminários Universidade e Meio Ambiente, liderados intelectualmente por Enrique Leff, e que se reforçara com minha participação no Foro de Ajusco, em 1997, realizado na cidade do México. Essa potencialização a que me referi acima foi possível a partir de 2001 quando, em Guadalajara, participo da Conferência do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais e, pela primeira vez, entro em contato com o que viria ser caracterizado como pensamento decolonial. A leitura do livro “A Colonialidade do Saber: eurocentrismo e ciências sociais”(22) coordenado pelo sociólogo venezuelano Edgardo Lander me aproximaria dessa vertente que começava a ganhar visibilidade. Foi interessante me ver, logo depois, sendo convidado a participar de um GT de CLACSO sobre Economia Internacional que, logo depois, seria rebatizado como GT Hegemonias e Emancipações sob a coordenação de Ana Ester Ceceña. Não deixa de ser curioso o fato de minha relação com os cientistas sociais estrito senso novamente implicar um deslocamento da ênfase econômica, que tanto marca certo pensamento de crítico de esquerda, para uma maior atenção à dinâmica contraditória das relações sociais e de poder, acompanhando mais de perto os grupos/classes sociais em movimento. Como destaquei antes quando de meus cursos de Leitura de Marx, no SOCII, foram me levando para a compreensão mais ampla da “lógica do capital” levando mais a sério a tese de Marx que, sendo o capital uma relação social e, mais, uma relação social contraditória e histórico-geograficamente situada é sua dialética aberta pelos próprios interessados que deve ser observada e não as leis da dialética já dadas, seja por Hegel ou por qualquer outro “filósofo dialético”.
O encontro com o pensamento decolonial me levaria a apurar de modo mais sistemático o que agora estou chamando de construção de uma teoria social crítica a partir da Geografia com a ideia de pensar a geograficidade do social, aliás, título de um artigo publicado por CLACSO a partir de um convite que me foi feito por Atílio Borón para que explicitasse uma leitura geográfica do social, ele que me ouvira num seminário sobre o pensamento de Milton Santos realizado em Salvador, Bahia, quando nos conhecemos.
Para mim, enquanto geógrafo, o encontro com essa tradição de pensamento decolonial que vimos construindo é, na verdade, um aprofundamento do que vários pensadores já vinham destacando como giro espacial desde os anos 1970 e ganha centralidade para pensar o lugar da geografia na construção de uma teoria social crítica. Isso fica explícito, por exemplo, no título de um artigo de Walter Mignolo: “Espacios Geograficos e Localizaciones Epistemológicas”(23) questão que, a rigor, o pensamento crítico da Geografia não havia se colocado, qual seja, a de que as epistemes têm lugares de enunciação e não lugares como metáfora social para lugar de classe, por exemplo, mas, sem deixar de ser isso, ser também lugar geográfico de enunciação. Enfim, é preciso deixar os lugares falarem através das diferentes perspectivas que se forjam a partir deles. O colonialismo deixa de ser somente um período histórico que, todavia, é, mas também, ser um padrão de saber e de poder que sobrevive a esse período, como na tese seminal de Anibal Quijano que nos diz que na América Latina o fim do colonialismo não significou o fim da colonialidade.
A primeira vez que incluí em minhas pesquisas algum resultado que poderia ser associado a essa aproximação se deu, justamente, e de modo não intencional em minhas análises dos conflitos por terra no Brasil, em 2003. Que uma espécie de “espírito de época” estivesse no ar é o que posso identificar em meu livro “Amazônia, Amazônias”, de 2001, que embora não lance mão do repertório teórico-conceitual advindo dessa tradição em construção começa, justamente, com a desconstrução da visão que se tem sobre a Amazônia que, via de regra, não deixa os amazônidas falarem. Ou seja, a região não fala, sobretudo seus grupos/classes sociais em situação de subalternização/opressão/exploração.(24) Esse livro, ao final, oferece ao leitor a palavra desses grupos/classes sociais em luta reunindo sua palavra através dos encontros e manifestos dos movimentos sociais que vêm forjando outras visões/práticas acerca das amazônias, da Amazônia. Em suma, como se vê a decolonialidade é sentida como parte das lutas sociais e não somente como uma prática discursiva que, todavia, também é, como o é qualquer teoria.
Meu livro “Os (Des)caminhos do Meio Ambiente”, de 1989, já desafiava frontalmente a “lógica identitária atomístico-individualista” da instituição imaginária da sociedade capitalista e sua modernidade, mas sem diálogo com o pensamento pós-colonial e decolonial.
O pensamento decolonial se fez presente em minhas pesquisas quando, pela primeira vez, mapeei os conflitos por terra de 2003 e, para minha surpresa, constatei que os estados onde mais intensa fora a conflitividade e a violência foram os estados de Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins, estados marcados pela expansão/consolidação da agricultura empresarial com tecnologia de ponta, moderna. Não era no Nordeste da chamada oligarquia tradicional onde estavam os estados com maior intensidade de conflitos e violência, conforme índices que elaboramos. No momento em que analisava esses mapas com a dinâmica contraditória dos conflitos me dei conta de que era preciso descolonizar o pensamento, até porque desde o primeiro momento de nossa formação territorial o latifúndio monocultor de exportação, com base na super-exploração do trabalho(25) e da natureza e com tecnologia de ponta já estavam presentes. Os engenhos de açúcar se constituíam nas primeiras fábricas modernas e, já podemos dizer, coloniais. O Brasil, assim, como Cuba e Haiti, exportava açúcar e não matéria prima, a cana. E não era produto de pouco valor agregado, ao contrário, era o que mais agregava valor no capitalismo que ali nascia, inclusive com o capital se imiscuindo no circuito metabólico da produção ao criar uma planta industrial para acumular capital, inclusive com trabalho escravo. Somos modernos, e coloniais, a 500 anos! A modernidade tecnológica não está a serviço daquele que produz a riqueza. O capital, com sua colonialidade e seu racismo se mostra estruturando nossas classes sociais.
A consigna de luta pela Vida, Dignidad e Territorio que vi nascer em 1990 nas Terras Baixas bolivianas, no Beni, em marcha em direção a La Paz e que, depois, já mais latinoamericanizado, soube que havia sido mobilizada também no Equador pelos indígenas marchando da Amazônia em direção Quito, me fazia sentir/pensar que uma geografia crítica se fazia a partir da geografia em crise da sociedade através da mobilização de seus grupos/classes sociais que saíam do fundo do mundo e nos faziam ver que “Outros 500” haviam nos 500 anos de moderno-colonialidade, como pude assistir durante a CNUMAD, a Rio 92, como já indiquei.
O conceito de território congelado por uma geografia que olha o mundo de cima, de sobrevoo, que sente remotamente, (26) epistemologicamente comprometida com um lugar de enunciação a parir do estado que nos pariu, me permitam repetir a expressão, estava sendo desnaturalizado por aqueles grupos/classes sociais em situação mais profundamente subalternizada/oprimida/explorada. Território é, sempre, movimento de territorialização através do que os grupos/classes sociais se inventam simbólica-materialmente. Não há apropriação material sem sentido, sem significação.
O Estado, mal chamado nacional, se mostra colonial ao ignorar/invisibilizar/inviabilizar as múltiplas nacionalidades, as múltiplas territorialidades que habitam um mesmo território que se quer nacional. A teoria do colonialismo interno, tal e qual formulara Pablo Gonzalez Casanova nos anos 1970, mostra toda sua validade. Daí emana um outro léxico teórico-político que mais que estado nacional fala de plurinacionalidade; mais que dominação da natureza, nos propõem a natureza como portadora de direitos, como inscrevem nas Cartas Magnas da Bolívia e do Equador; em lugar de intangibilidade da natureza, nos falam de Pachamama; mais que superar o subdesenvolvimento com o desenvolvimento, seja sustentável ou sustentado, propugnam por alternativas ao desenvolvimento, pelo Buen Vivir, pela Vida em Plenitude (Suma Qamaña, Sumak kausay); em vez de multiculturalismo nos falam de interculturalidade (Catherine Walsh).
A luta contra o patriarcalismo e o racismo desafiam a centralidade da classe social assim como sua exclusividade diante das complexas relações sociais e de poder, ainda que sem negá-la. Convidam, por exemplo, que a consciência da classe proletária não mais olvide aquelas que cuidam da prole, como se o trabalho não-pago da mulher não proporcionasse ampliar ainda mais a mais valia que a classe proletária produz sob e para (submetida a) o capital; que cada forma de opressão, ao desvalorizar de distintas maneiras os corpos, autoriza/possibilita maior exploração. Não olvidemos que mutirão ou putirum é uma palavra de origem tupi - motyrõ - que significa "trabalho em comum", nome que se atribui a uma prática generalizada nas periferias urbanas de nosso país, indicando que há uma outra colonização de nossas cidades vinda de baixo, se é que colonização faz sentido para os de baixo. No mundo andino, se pratica nas periferias urbanas a minga, que em língua quechua-aymara também significa trabalho em comum. Se buscamos outros horizontes de sentido para a vida como, hoje, nos convida Aníbal Quijano e, nos anos 1920, nos convidava José Carlos Mariategui, e não queremos simplesmente um novo modo de produção, assim nos mantendo prisioneiros do mundo da produção e da economia, talvez aqui resida a possibilidade de encontrarmos outros caminhos para grafar a terra, para grafar o mundo. Quem sabe seja isso que esteja a nos sugerir o agrônomo quéchua-equatoriano Luis Macas que, em diálogo com Catherine Walsh, afirmara que “nossa luta é epistêmica e política”.
Até mesmo a ideia de América Latina, tão cara às elites criollas e às esquerdas por seu caráter antinorteamericano frente a América Anglo-Saxônica, é posta em questão quando esses grupos/classes sociais que emergem à cena política batizam o continente como Abya Yala assinalando que dar nome próprio é um modo de apropriar-se da terra, do território. Não sem sentido tantos santos, sobretudo cristãos, dão nomes a cidades quando não expressam valores dos invasores como o dinheiro – argenta – da Argentina e seus rios de prata; de Venezuela, como pequena Veneza; ou Colômbia em homenagem a Colombo num país predominantemente indígena, negro embora também mestiço; ou de Bolívia em homenagem a Bolívar em um país predominantemente quechua-aymara e com mais 34 povos/etnias/nacionalidades. Como vemos essas geografias em movimento bem valem mais que uma missa!
E todo esse repertório teórico-político se desenvolve num momento de crise das esquerdas logo após a queda de muro de Berlim nos anos 1990. Ou, quem sabe, justamente por causa da crise das esquerdas(27), e vemos emergir um pensamento crítico latino-americano anticapitalista e anticolonial onde, por exemplo, questões tradicionais embora não-exclusivas da Geografia se fazem presentes, como a relação sociedade-natureza através da ecologia política e do pensamento ambiental latino-americano, assim como a geografia se torna verbo e o território se vê em movimento enquanto tensões territoriais. Afinal, movimento implica mudança de lugar e, assim, todo movimento social implica, em algum grau, mudança da ordem que está situado. Vários grupos/classes sociais se constituem ao se mobilizarem com/contra a ordem social instituída, seja para ampliar os direitos constituídos, seja para inventar direitos, seja para transcender essa mesma ordem e, assim, entram em tensão com o modo como as coisas/os entes estão dispostos enquanto espaço social.
Como nos ensinara Walter Mignolo, as epistemes têm lugar. A América, sobretudo a América Latina/Abya Yala e o Caribe são espaços privilegiados para entendermos o sistema mundo capitalista moderno-colonial, porque é a partir de 1492 que esse sistema mundo se constitui com sua geografia desigual, assimétrica, centro-periférica quando se dá o “encobrimento da América”, como chamou o filósofo Enrique Dussel a esse encontro que Étienne La Boétie chamaria de mal encontro. Não olvidemos que até 1453/1492 todos os caminhos levavam ao Oriente, a ponto de nos ter legado um verbo que indicaria o caminho certo a ser percorrido - orientar-se -, tal e como no Império Romano todos os caminhos levavam a Roma que nos dava o rumo certo que os romeiros haveriam de fazer suas (?) romarias. A geografia se faz verbo como se vê não só materialmente, mas também literalmente.
Somente com a exploração da América é que a Europa ganha centralidade geohistórica, geopolítica, geocultural, geoeconômica. Enfim, a modernidade eurocêntrica implica a colonialidade! Essa geografia de larga duração nos atravessa ainda hoje. Depois de 500 anos ainda se fazem presentes no Brasil 305 etnias ocupando uma área de 110 milhões de hectares e aqui se falam 274 línguas. Quanta opressão, quantos massacres, quanta violência e esses povos/etnias/nacionalidades se reinventam, r-existem. Mesmo numa formação social como a nossa, em que tanto se destaca seus pilares no latifúndio, na monocultura e na escravidão, e se olvide de nosso pilar racista, como se a escravidão o abarcasse, os negros escravizados inventaram territórios de liberdade em pleno território da escravidão, como nos quilombos que, hoje, marcam 44 milhões de hectares de nosso território. O mesmo pode ser dito do branco pobre que foi se apossando da terra de trabalho pelos interiores do Brasil e que vão r-existir nas cabanagens, nas balaiadas, nas sabinadas, em Belo Monte, nome atualmente em voga por razões que, de certa forma, são as mesmas do Belo Monte de Antônio Conselheiro, massacrado em Canudos, cujas terras também estão de baixo d’água pelas hidrelétricas do São Francisco, tal e como o Beato José Maria também foi massacrado com seus pares no Contestado. Enfim, por todo lado o conflito fundiário, esse pilar estruturante de nossa injusta formação social, explode no campo brasileiro conformando geografias que indicam outros limites, cerne da política como nos ensinam os gregos e, agora vemos, os novos bárbaros. E o fazem dizendo que mais que luta pela terra é de luta por território que se trata. E não se luta pela terra, mas também de luta pela Terra.
Afinal, está em curso uma grande transformação que vimos observando desde abajo, como se diz em bom espanhol, de onde vislumbramos outras grafias na terra, outras geografias. De um lado, a dinâmica metabólica do capital se desloca para a Ásia, para a Índia, sobretudo para a China, onde se concentra o maior parque industrial do mundo. Pela primeira vez, desde 1492, esse centro geográfico deixa de estar no Atlântico Norte (28). De outra perspectiva, nós do Brasil nos vemos obrigados a nos latino-americanizar, nós que olhamos soberbamente para a América Latina que, para o pensamento conservador brasileiro, é lugar de caudilhos e de revoluções onde se criaram repúblicas quando nós nos vimos como Império e nos inspiramos nos Estados Unidos da América do Norte, com seu federalismo fundado na pequena e média propriedade, mas aqui para afirmar a propriedade concentrada do latifúndio! Enquanto lá o liberalismo se abre para a esquerda por aqui nos dá o que há de mais conservador! As ideias têm lugar!
Sendo o Brasil um país do Atlântico, o deslocamento geográfico do centro metabólico industrial do capitalismo para a Ásia, nos obriga a considerar a América Latina. Mas nossas elites continuam a olhar para fora e menos para seu próprio povo e seus territórios. É o que se viu com a IIRSA – Iniciativa de Integração Regional Sul Americana – desencadeada por FHC, no ano 2000, e posta em prática por Lula da Silva a partir de 2003. Dez EIDs – Eixos de Integração e Desenvolvimento – passaram a ser construídos como corredores(29) com portos, aeroportos, estradas, canais, hidrelétricas onde o que se visava era a conexão com a Ásia através dos portos do Pacífico. Mais interessava o fluxo que o fixo; o corredor mais do que o território; a mercadoria mais que as gentes. Os EIDs eram, na verdade não só Eixos de Integração e Desenvolvimento, mas também de violência e devastação. Enfim, a integração por cima desintegrava por baixo. É nesse contexto conflitivo que outras geografias vêm sendo engendradas. E desses lugares de r-existência é que tenho retirado grande parte de minha inspiração para esboçar uma teoria social crítica desde a Geografia a partir dos que vêm grafando a terra, geografando.
NOTAS
Embora o historiador marxista britânico E. P. Thompson (1924-1993) tenha afirmado que, após a segunda metade do século XX, esses grupos de socialização primárias vêm perdendo a primazia de formar as necessidades de seus filhos.
2 Em particular com a Liga Operária, uma pequena organização operária socialista e trotskista brasileira, fundada em 1972 e que existiu até 1978, e que teve papel importante nas lutas estudantis e operárias na década de 1970 e na organização da Convergência Socialista e do Partido dos Trabalhadores.
3 Aliás, como se pode observar de modo intenso na obra A Formação do Brasil Contemporâneo, de outro amigo de Orlando Valverde, no caso o doublé de geógrafo e historiador Caio Prado Jr. que nos mostra como o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia foi sendo sentida no processo de ocupação territorial do país. Tive om prazer de ministra um curso de Sociedade e Natureza no Brasil a partir desse livro.
4 Mais tarde esse conceito seria explorado, no Brasil, por Milton Santos e Ruy Moreira como Formação Socioespacial ou simplesmente Formação Espacial, por proporcionar uma compreensão do movimento desigual e combinado da sociedade enquanto espaço geográfico
5 Sou eternamente grato às companheiras e aos companheiros – socii em latim - Ana Maria Motta, Antônio do Amaral Serra, Dílson Mota, Dráuzio Gonzaga, Gisálio Cerqueira, Gislene Neder e Michel Misse.
6 Anos depois viria saber que Eder Sader era casado com Regina Sader da USP, uma geógrafa admirável e de notável sensibilidade sociológica e antropológica pioneira no estudo de movimentos sociais em Geografia.
7 Até porque se o capital é uma relação social em si mesma contraditória, qual seria a lógica do capital se não a lógica de suas contradições histórica e geograficamente situadas? Desafortunadamente, a primazia na “lógica do capital” tem deixado de fora as classes que se formam em luta.
8 Registre-se que Campos dispunha, então, do segundo mais antigo jornal do país - O Monitor Campista – que só não era mais antigo do que O Jornal do Commercio de Recife, fundado pela oligarquia latifundiária quincentenária canavieira de Pernambuco. Como se vê, as oligarquias latifundiárias sempre souberam da importância dos meios de comunicação para afirmar sua hegemonia.
9 Devo confessar que essa expressão herói vem à mente por lembrar a infeliz expressão do ex-Presidente Lula da Silva de chamar de heróis nacionais aos grandes produtores de combustíveis de biomassa, quando ele buscava se recobrir de legitimidade ambiental com os chamados biocombustíveis. Logo depois o mesmo presidente se mostraria igualmente mobilizado pelos combustíveis fósseis, depois da descoberta do Pré-Sal.
10 Diga-se, de passagem, que brasileiro, em Portugal durante o período colonial, era aquele que vivia de explorar o Brasil, assim como mineiro é o que vive de explorar as minas e o madeireiro o que vive de explorar as matas e as madeiras. Afinal, que outro adjetivo pátrio termina em eiro?
11 Um pequeno artigo “Notas para uma interpretação não-ecologista do problema ecológico”, publicado em 1982 começa a delinear a problemática que me acompanharia para sempre, inclusive pela tensão que acompanha o próprio título, o que pode ser visto em meus dois primeiros livros – Paixão da Terra: ensaios críticos de ecologia e Geografia (Ed. Rocco-Socii, 1984) e Os (Des)Caminhos do Meio Ambiente (Ed. Contexto, 1989); em minha dissertação de Mestrado sob o título Os Limites d’Os Limites do Crescimento (UFRJ, 1984) em que realizo uma investigação crítica sobre Os Limites do Crescimento, documento também conhecido como Relatório Meadows e que embasou a convocação da Iª. Conferência da ONU sobre Meio Ambiente realizada em Estocolmo, em 1972.
12 Até onde sei, Raíces de América, criado em 1979, é o primeiro grupo musical formado no Brasil inteiramente dedicado à música latino-americana. A Revolução Cubana teve um grande impacto na formação de uma consciência latino-americana e, até mesmo, um torneio de futebol latino-americano passou a ser disputado em 1960 que, a partir de 1965, adotou o sugestivo nome de Copa Libertadores da América.
13 Darci Ribeiro designa como indigenato um campesinato etnicamente diferenciado. Essa ideia me abriu uma luz a respeito de uma característica do campesinato pouco acentuada na literatura sociológica, qual seja, o caráter culturalmente diferenciado do campesinato, haja vista o conhecimento materializado nas práticas culturais geralmente ricas no conhecimento local da dinâmica metabólica da natureza (terra, solo, água, topografia-relevo, insolação, fauna, flora). Diga-se, de passagem, que esse caráter local do conhecimento camponês tem servido, via de regra, para desqualificar esse conhecimento. Enfim, colonialidade do saber, colonialidade do poder, diria mais tarde.
14 Castaño-Uribe, Carlos & Van der Hammen, Thomas (editores) (2005). Visiones y alucinaciones del Cosmos Felino y Chamanístico de Chiribiquete. UASESPNN Ministerio del Medio Ambiente, Fundación Tropenbos-Colombia, Embajada Real de los Países Bajos. (Pág. 227) y versión CD-Magnético. Bogotá.
15 De quem viria ser co-orientador em sua pesquisa de Mestrado, na UFMG, e orientador em sua tese de Doutorado, na UFF. C.E. Mazzetto Silva me ensinaria que o olhar do agrônomo e do geógrafo formam uma das melhores combinações possíveis, haja vista que um, o agrônomo, tem uma expertise que lhe permite organizar o espaço à escala da propriedade, mas em geral ignora as escalas que se forjam fora da porteira, o que o geógrafo melhor domina. Por isso, a importância desse diálogo entre geógrafos e agrônomos, ele costumava afirmar.
16 A área indígena onde morava Samuel Karajá ficava a não mais de 3 km da universidade.
17A terra como solo a se cultivar e controle de sua extensão (estrutura fundiária).
18 A água para saciar a sede, controle de seu acesso, fonte de energia, poluição e fonte de vida (pesca).
19 O ar como fonte de energia, como veículo da poluição (fumigação), cada vez mais fonte de expropriação.
20 O Sol como fonte da fotossíntese, da vida e, como tal, o controle da extensão de terras é, também, controle dessa energia vital, o que não é qualquer coisa num país tropical como o nosso, o que nos ajuda, em muito, a entender nossa inserção subordinada no sistema capitalista moderno-colonial.
21 A vida enquanto manifestação neguentrópica (E. Leff), autopoiética (H. Maturana), na qual se inscrevem metabolicamente os próprios grupos sociais e toda diversidade fruto das complexas relações biocenóticas que conformam os lugares/biotas.
22 Mais tarde eu sugeriria que esse livro fosse traduzido ao português, o que se efetuou em 2006, em que contribuí com a revisão técnica da sua tradução e ainda fui honrado com o convite para prefaciar essa edição em português, o que viria associar minha produção a essa tradição de pensamento crítico em construção.
23 Logo, logo eu solicitaria a Walter Mignolo que me autorizasse a publicar no Brasil esse artigo, no que fui atendido. Está publicado na Revista Geographia do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFF.
24 Talvez aqui a influência que pode ter se manifestado, ainda que inconscientemente, seja a do livro “O Orientalismo”, de Eduard Said, que havia lido por recomendação insistente de Lia Osório. Esse livro é considerado um dos marcos do pensamento pós-colonial que se fez sobretudo em língua inglesa, com toda a geopolítica do conhecimento que daí deriva.
25 Inclusive com o trabalho escravo.
26 Não seria esse o verdadeiro sentido de sensoriamento remoto?
27 Pelo menos é o que se pode depreender quando vemos lideranças camponesas históricas e que um dia abraçaram o marxismo se apresentem, hoje, como lideranças indígenas, como o peruano Hugo Blanco e o aymará-boliviano Felipe Quispe.
28 Inicialmente, no século XVI, na península ibérica. Depois na Holanda e, logo a seguir, na Inglaterra. Já no século XX, nos EEUU, sobretudo nos seus polos industriais do Nordeste (Detroit, Michigan, Pittsburg) que agora se desindustrializa e cujo desemprego acaba de eleger Donald Trump. Um novo fenômeno sociogeográfico emerge na principal potência do mundo com a desurbanização (desproletarização?), como por exemplo em Detroit cidade que abrigara 3 milhões de habitantes e hoje abriga 1,5 milhão!
29 Corredor é um conceito operativo amplamente usado nos documentos oficiais que são sustentação teórica à IIRSA.
-
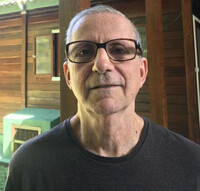 ANTÔNIO JOSÉ TEIXEIRA GUERRA
ANTÔNIO JOSÉ TEIXEIRA GUERRA ANTONIO JOSE TEIXEIRA GUERRA
Biografia – Pensamento Geográfico
1- DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO TEÓRICO
Data de nascimento: 06/09/1951, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Engenho Novo. Meus pais eram geógrafos: Antonio Teixeira Guerra e Ignez Amélia Leal Teixeira Guerra, ambos do IBGE, e meu pai era ainda professor da antiga UEG (atual UERJ), UFF e UFRJ. Naquela época não havia a figura do professor com 40 horas (Dedicação Exclusiva), como existe hoje em dia.
Venho de uma família de sete filhos, sendo eu o primogênito e o único que seguiu a carreira de geógrafo. Família típica de classe média, com os pais professores e geógrafos do IBGE, tendo perdido meu pai em 1968, com apenas 44 anos de idade, de AVC. Com essa idade, meu pai deixou 12 livros publicados, pelo IBGE, e quase 100 artigos, em periódicos nacionais e internacionais e minha mãe passou a nos criar sozinha, após a morte do meu pai, quando minha irmã caçula tinha apenas 3 anos de idade. Todos nós conseguimos ir para a Universidade e somos hoje em dia: geógrafo, administrador de empresa, economista, química, advogado e professora de educação física. Todos nós frequentamos sempre escola pública, tanto no ensino fundamental, como médio. Meus pais sempre nos estimularam a ler muito, tínhamos em casa, sempre livros, além das enciclopédias, que meus pais compravam, e nós líamos muito. Nós éramos estimulados a frequentar curso de inglês, bem como aos domingos íamos ao cinema, no bairro do Engenho Novo, onde morávamos. Naquela época, dava para crianças e adolescentes andarem sozinhos pelas ruas. Eu adorava assistir às chanchadas brasileiras, além de filmes estrangeiros.
A minha trajetória na Geografia remonta à década de 60, ainda na infância, quando por volta dos 10 anos de idade, começo minhas primeiras incursões de campo ao lado do meu pai Antonio Teixeira Guerra e seus alunos da UFRJ. Embora não pensasse que um dia viesse a me tornar geógrafo, essas saídas de campo, o legado adquirido na convivência com meus pais, ambos geógrafos, e o intercâmbio feito em 1968, por seis meses, nos EUA, tiveram, posteriormente, uma importância fundamental na escolha da minha carreira.
Em 1969 fiz vestibular de Geografia para a UFRJ e UERJ, tendo passado em ambas, e fiz opção pela UFRJ, onde passei em 4º lugar e assim dei início à minha vida acadêmica. Optei por fazer, primeiramente, o curso de Bacharel em Geografia, até 1973 e no ano de 1974 fiz o curso de Licenciatura. Durante esse período na academia tive a honra de ter professores como: Maria do Carmo Correa Galvão, Dieter Muehe, Bertha Becker, Elmo da Silva Amador, Maria Regina Mousinho de Meis, Roberto Lobato Correa, Waldemar Mendes, Josette Madelaine Lins César, e muitos outros que foram importantes e contribuíram para meu entendimento da ciência geográfica.
Durante a minha graduação, tive a oportunidade de trabalhar com a Profa. Maria Regina Mousinho de Meis, do qual fui bolsista de Iniciação Científica do CNPq, durante um ano. Isso me permitiu, além do aprendizado, me direcionar para uma das vertentes da geografia, a geomorfologia, da qual passei a me interessar bastante. Nessa época, Mousinho, assim como Bigarella, criaram modelos de evolução da paisagem, que tem o clima como o principal agente de denudação e esculturação do relevo.
Ainda durante a graduação, comecei a ter experiência com a licenciatura, no qual lecionava durante a noite, para o ensino supletivo (cursos de geografia e inglês). Também tive a oportunidade de trabalhar no Censo Demográfico de 1970, o que me deu uma grande experiência, já que estava fazendo Geografia da População, no 1º ano da faculdade. Sempre me interessei por tudo relacionado à Geografia, durante meu curso na UFRJ, tendo participado de várias reuniões da AGB, tendo feito diversos cursos de extensão, oferecidos pela AGB e pelo Clube de Engenharia, assistido palestras, enfim, não me ative à sala de aula. Como nós tínhamos uma excelente biblioteca em casa, isso facilitava muito minha vida de estudante; eu lia um pouco de tudo, não apenas Geografia.
No IBGE, além da minha experiência com o Censo Demográfico, fui estagiário e trabalhei com excelentes geógrafos, como Eugenia Egler, Edgard Khulman e Alfredo Porto Domingues. Esse estágio me possibilitou a entrada na instituição logo após minha conclusão do curso de Geografia em 1973, contratado como geógrafo. Além de participar de vários projetos coordenados por Alfredo Porto Domingos e Edgar Khulman, também escrevi alguns artigos, nesse período.
2- PRINCIPAIS contribuições para a Geografia Brasileira
Após alguns anos de trabalho no IBGE, senti necessidade de me aperfeiçoar e ter mais independência e autonomia profissional. A questão ambiental também já me despertava um grande interesse e foi dessa forma que resolvi fazer mestrado em Geografia. Ingressei no mestrado do PPGG, da UFRJ, no ano de 1979. Foi um passo importante na minha formação acadêmica, pois nessa época vivenciava-se um grande debate sobre a temática ambiental, e assim pude explorar esse tema com excelentes professores, do qual destaco aqui o Prof. Dr. Jorge Xavier da Silva, meu orientador - hoje Professor Emérito do Departamento de Geografia, onde somos colegas. Minha dissertação intitulada: Delimitação de Unidades Ambientais na bacia do rio Mazomba – Itaguaí, RJ, defendida em 1983, corroborou ainda mais para meu entendimento do papel que a Geografia representava diante da questão ambiental, e a geomorfologia, a partir desse trabalho, passou a ser vista por mim como de grande importância e valia nos estudos de planejamento e uso da terra. Nessa época, eu já era professor colaborador do departamento de Geografia da UFRJ, uma categoria criada no final da década de 70 pelo MEC.
Pensando em novos desafios e buscando aperfeiçoamento, numa época, em que fazer doutorado ainda era um privilégio de poucos, em 1985 enviei meu projeto de tese para o King´s College London, Universidade de Londres, tendo sido não só aprovado pela Universidade, como também pelo Conselho de Reitores da Inglaterra, para desenvolver meu doutorado nessa universidade. Essa aprovação do Conselho de Reitores permitiu que o CNPq, concedesse uma bolsa de doutorado, por quatro anos, bem como pagar minhas taxas à Universidade de Londres, como seu eu fosse um aluno da União Europeia, ou seja, bem mais barato do que um aluno estrangeiro.
Considero os cinco anos que fiquei na Inglaterra, como um turning point na minha vida profissional, pois conheci grandes nomes da literatura geomorfológica inglesa (Denis Brunsden, Roy Morgan, John Boardman, Helen Scoging, David Favis-Mortlock, Rita Gardner, John Pitman, Tim Burt, Andrew Goudie, John Gerrard, dentre outros) e direcionei minhas pesquisas à erosão dos solos.
Fui orientado por Denis Brunsden, considerado à época um grande nome na geomorfologia inglesa e internacional. Nesse período, participei de várias atividades acadêmicas, como elaboração de artigos, participação e apresentação de trabalhos em congressos na Inglaterra e em outros países europeus. Também criei uma estação experimental, para monitorar erosão dos solos, no sul da Inglaterra, onde o King´s College possuía um campus avançado, bem como construí um simulador de chuvas, o que me serviu como parte experimental e para obtenção de dados, da minha tese. Além disso, dei aulas práticas de laboratório, para os alunos de graduação do departamento de Geografia, bem como um curso sobre Impactos Ambientais Brasileiros, para os alunos de graduação do King´s College London. Fui convidado por Denis Brunsden, durante meu doutorado, para ser seu assistente em dois trabalhos de campo (alunos de graduação e mestrado, aproximadamente 30 alunos por turma). Essas incursões na costa sul da Inglaterra, mais precisamente Dorset (cinco dias) e na costa do Mediterrâneo, na região de Almeria, Espanha (uma semana), me renderam valiosas informações a respeito de erosão dos solos e movimentos de massa, bem como foi uma experiência ímpar para mim, porque ainda como doutorando, eu estava orientando alunos de graduação e de mestrado do King´s College London, o que me deu muita reputação e respeito, por parte dos meus colegas doutorandos e professores do Departamento de Geografia da Universidade.
Com relação ao meu doutorado e, concomitantemente às minhas pesquisas de campo, como peguei três anos muito secos, tive que ampliar um pouco o monitoramento da estação experimental e assim minha estada em Londres durou cinco anos. Como a bolsa do CNPq era para apenas quatro anos, fiz prova para o Sistema de Rádio da BBC de Londres e passei. Dessa forma, no meu último ano de doutorado, trabalhei na BBC como repórter ambiental, para ter dinheiro suficiente, para me manter em Londres, e consegui terminar minha tese de doutorado, intitulada: Soil characteristics and erosion, with particular reference to organic matter content, que defendi em janeiro de 1991. Retornei ao Brasil em fevereiro de 1992, onde voltei a ministrar aulas e trabalhar em pesquisa, formação de recursos humanos e extensão no Departamento de Geografia da UFRJ, que será tratado mais adiante.
Ainda fazendo parte da minha formação acadêmica, em 1997 fui aceito pela Universidade de Oxford, bem como consegui bolsa de pós-doutorado do CNPq, e passei um ano no Environmental Change Unit, desenvolvendo projeto de pesquisa, em parceria com dois grandes especialistas em erosão dos solos, John Boardman e David Favis-Mortlock. Nesses 12 meses tive atuação intensa, na Universidade de Oxford, através de palestras que ministrei e assisti, bem como alunos de mestrado, daquela universidade que orientei, em projetos relacionados à erosão dos solos. Desenvolvi também projeto em erosão por ravinas, utilizando um simulador de chuvas disponível na School of Geography, em conjunto com os dois pesquisadores mencionados acima. Os dados obtidos desses experimentos foram publicados na Geography Review, Catena e Earth Surface Processes and Landforms, em conjunto com David Favis-Morlock. Durante meu pós-doutorado apresentei trabalhos em dois congressos científicos, um na Holanda e outro em Dundee, na Escócia.
Aproveito também para destacar que sou sócio de duas entidades cientificas, das quais participo ativamente, dando parecer em artigos submetidos às suas publicações, como também submetendo artigos, com vários já publicados, em especial na Revista Brasileira de Geomorfologia. As duas entidades são: União da Geomorfologia Brasileira, da qual fui um dos criadores e Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, essa atualmente, apenas como pareceristas de artigos.
Minha vida acadêmica mudou bastante, quando da minha volta da Inglaterra, em fevereiro de 1991, com o título de PhD, que obtive, após cinco anos de pesquisa. Adaptei-me perfeitamente ao Departamento de Geografia da UFRJ, iniciando imediatamente minhas atividades de ensino e extensão, pesquisa e produção científica. Assim que cheguei comecei a formar um grupo de pesquisa em movimentos de massa e erosão dos solos, que iria mais tarde ser concretizado no LAGESOLOS (Laboratório de Geomorfologia Ambiental e Degradação dos Solos). Desde essa época comecei a pesquisar o município de Petrópolis, devido aos casos recorrentes de processos de degradação dos solos, do tipo movimentos de massa e erosão dos solos. Ainda no ano de 1991, comecei a fazer levantamentos pedológicos e geomorfológicos, no município, em conjunto com bolsistas de Iniciação Cientifica. No ano seguinte, passei a ter os primeiros mestrandos, e, dessa forma, iniciaram-se os trabalhos de campo com mais frequência a Petrópolis, onde montamos a primeira estação experimental para monitorar processos erosivos (o que eu já havia feito na Inglaterra, durante o meu doutorado).
Eu dava andamento à minha carreira de pesquisador e professor universitário, agora com maior conhecimento conceitual, metodológico, técnico e aplicado. O retorno da Inglaterra foi um recomeço na minha vida profissional e, imediatamente, dei entrada em pedido de bolsa de produtividade em pesquisa, ao CNPq, o que ganhei e mantenho até hoje. Na época eu era pesquisador 2 e a partir de 2001, passei a ser 1A.
Nos últimos 30 anos, tive 22 projetos aprovados pelo CNPq, incluindo Editais Universais, Bolsa de Produtividade em Pesquisa, Bolsa de IC e AT e, a vinda de professor Mike Fullen, da Universidade de Wolverhampton (duas vezes) e do Prof. Daniel Germain, da Universidade de Quebec, em Montreal, que veio uma vez ao LAGESOLOS, Departamento de Geografia, da UFRJ. Em relação ao Professor Michael Fullen, temos trabalhado em parceria, desde meados da década de 1990, tendo escrito diversos artigos em co-autoria, bem como em 2015, fiz meu segundo pós-doutorado, na Universidade de Wolverhampton, com quem trabalhei, durante sete meses.
Foi através desses editais do CNPq e cinco ganhos junto à FAPERJ, sendo que três referem-se a Pesquisador do Nosso Estado, que consegui equipar o LAGESOLOS, com computadores, microscópio, Yodder, GPS, bússola de geólogo, martelo de geólogo e de pedólogo, impressoras, penetrômetro, pHâmetro, balança de precisão, trado de amostra volumétrica, trado holandês, câmera digital, imagens de satélite, fotografias aéreas, livros, e outros equipamentos necessários ao desenvolvimento dos projetos do Laboratório. Com a verba do Pesquisador do Nosso Estado, da FAPERJ, consegui comprar um Fiat Uno Mille Way, que veio facilitar bastante nossos trabalhos de campo.
Apesar de ter publicado alguns artigos em periódicos nacionais e em anais de congressos, antes da minha ida para a Inglaterra, foi no retorno que comecei a ter uma produção mais frequente, tanto em periódicos nacionais, como internacionais, a partir das pesquisas realizadas tanto no estado do Rio de Janeiro, como em vários outros estados brasileiros, a partir de convênios e editais aprovados pelo CNPq e pela FAPERJ.
Em relação a projetos aprovados por órgãos de fomento, até os dias de hoje, tive vários financiados pelo CNPq, FAPERJ e União Europeia (Projeto Borassus). Esses projetos referem-se a estudos realizados em Petrópolis, bacia do rio Macaé e município de São Luís, mais recentemente. Em relação ao Projeto Borassus, trabalhamos por quatro anos, em conjunto com outros nove países (Inglaterra, Bélgica, Hungria, Lituânia, África do Sul, Gâmbia, Tailândia, China e Vietnam), sob a coordenação do Prof. Michael Fullen, da Universidade de Wolverhampton. Durante esses quatro anos aconteceram reuniões semestrais nesses países e eu organizei uma no Rio de Janeiro, em 2007, levando uma equipe de 30 pesquisadores estrangeiros, para conhecerem nosso trabalho em São Luís (Maranhão). A partir desse projeto de pesquisa e de extensão, voçorocas foram monitoradas e recuperadas em São Luís, com a participação de professores e alunos de graduação, mestrado e doutorado, da UFRJ e UFMA. Houve também a participação efetiva de residentes das comunidades carentes, onde desenvolvemos esses projetos, tanto na produção dos geotêxteis de fibra de buriti, como na aplicação dessas telas, e em projetos de educação ambiental. A partir desse projeto, quatro monografias de graduação foram orientadas, bem como três dissertações de mestrado e duas teses de doutorado.
Uma delas foi defendida em 14/03/2011, pelo aluno Jose Fernando Rodrigues Bezerra, que fez um ano do seu doutorado sandwich, na Universidade de Wolverhampton, com co-orientação do Prof. Michael Fullen. Por sinal, o CNPq aprovou a vinda do Prof. Fullen ao Brasil, para a defesa de tese do Fernando, assim como fizemos trabalho de campo na bacia do rio Macaé e outras atividades acadêmicas agendadas. Com esse projeto, consegui consolidar mais uma linha de pesquisa desenvolvida no LAGESOLOS, como o de recuperação de áreas degradadas.
Entre janeiro e julho de 2015 desenvolvi trabalho de pesquisa, financiado pelo CNPq, na Universidade de Wolverhampton, na Faculty of Science and Engineering, sendo esse o meu segundo pós-doutorado. Porem, durante esse período fui considerado pela Universidade como Visiting Professor (Professor Visitante), tendo tido a oportunidade de, além de consultar e ler muitos livros e artigos, referentes à erosão dos solos e movimentos de massa, fui convidado pelo Prof. Michael Augustine Fullen, com quem trabalhei nesse período, a dar alguns seminários para professores e doutorandos para a referida faculdade. O primeiro deles foi dado no dia 18/03, em parceria com a doutoranda Maria do Carmo Oliveira Jorge, intitulado: Geoconservation and Geotourism, in Ubatuba - São Paulo State - Brazil, related to soil properties, tema que temos desenvolvido no LAGESOLOS, nos últimos anos, e continuamos a desenvolver na Inglaterra. O segundo deles, também dado em parceria com Maria do Carmo, foi no dia 15/04, intitulado Land Degradation in Brazil – causes and consequences, tema que venho desenvolvendo há mais de 30 anos. Em ambos houve a oportunidade de fazer uma ótima troca de experiência nossa com os responsáveis por projetos de pesquisa que vêm sendo desenvolvidos por professores e doutorandos na Faculty of Science and Engineering, onde desenvolvi o pós-doutorado. A partir desses dois seminários, bem como do trabalho desenvolvido durante sete meses na Universidade de Wolverhampton, surgiram oportunidades de trabalho em cooperação com alguns dos professores dessa Universidade, tais como: Profa. Dra. Lynn Besenyei, grande ecóloga inglesa e o Prof. Dr. Ezekiel Chinyio, importante planejador e arquiteto nigeriano, ambos professores da Universidade de Wolverhampton, com quem tive a oportunidade de trabalhar, nesse período. Não poderia deixar de mencionar a Profa. Dra. Pauline Corbett, Diretora da Faculdade de Ciência e Engenharia, com quem tive diversas conversas acadêmicas e a quem agradeço muito a acolhida, durante o período que passei na Universidade de Wolverhampton. Tive também a oportunidade de assistir a diversos seminários, como o dado pelo Prof. Michael Fullen, no mes de maio, intitulado Developing a Research Publications Strategy, onde consegui colocar minhas posições sobre o tema em questão, para uma audiência de professores e doutorandos da Universidade, enfim, mais uma experiência muito rica, durante meu pós-doutorado. Outro seminário muito interessante que assisti no dia 20/05 foi o Cradle to Cradle, que trata de sustentabilidade nos países europeus. Tudo que eu precisei nesse período, da Profa. Dra. Pauline Cobbert, tive atendimento imediato.
Graças ao convite de Michael Fullen, tive também a oportunidade de orientar alunos de uma escola primária de Wolverhampton, sobre a importância do solo na teoria e na prática, em um espaco público, denominado alottment. Foi realmente uma grande experiência profissional, poder estar em contato com uma pequena área rural, dentro da cidade. Tal projeto refere-se à agricultura urbana, com o objetivo de instruir alunos de escola de ensino fundamental, no sentido de os alunos compreenderem o papel que os solos têm no plantio de verduras, frutas e legumes, bem como pode ser melhor compreendido e usado por pessoas que vivem em áreas urbanas. Os alunos participam de todas as fases, desde o preparo da terra, passando pelo plantio e depois a colheita. A coordenadora desse projeto é a professora Keptreene Finch, que vem desenvolvendo essas atividades há algum tempo, na cidade de Wolverhampton. Foi mais um aprendizado, que temos adaptado essa metodologia ao município de Ubatuba (SP), com escolas públicas.
A partir de 2013, o LAGESOLOS passou a trabalhar, além de projetos relacionados à erosão dos solos, que vem desenvolvendo, desde a sua fundação, agora também, com geoturismo, geodiversidade e geoconservação. Quatro teses de doutorado foram desenvolvidas, nesse período (Jorge, 2017; Espírito Santo, 2018; Rangel, 2018; Pereira, 2019), além de diversos capítulos de livros (Guerra, 2018; Jorge, 2018) e artigos, em periódicos nacionais e internacionais (Jorge e Guerra, 2016; Jorge et al., 2016; Rangel et al., 2019). Essa é uma linha de pesquisa relativamente recente no país e, para seguí-la, os membros do LAGESOLOS, além da sua produção própria, têm contado com a colaboração de autores como: Mansur (2010 e 2018); Hose (2012); Gray (2013); Brilha (2016), Costa e Oliveira (2018), dentre outros.
Quando falamos em geoturismo, geodiversidade e geoconservação, um ponto comum entre essas três áreas de conhecimento, é a erosão que é causada em diversas trilhas, e esse tema de pesquisa tem aparecido em diversos trabalhos desenvolvidos pelo LAGESOLOS, nesses últimos anos (Jorge et al., 2016; Jorge e Guerra, 2016; Jorge, 2017; Espírito Santo, 2018; Guerra, 2018; Rangel, 2018; Pereira, 2019; Rangel et al., 2019). Essas feições aparecem com frequência, em diversas trilhas que temos estudado, tanto em Ubatuba – SP, como em Paraty-RJ, e no Amapá.
Sob essa perspectiva, são inúmeros os aspectos que temos abordado, levando em conta essa nova linha de pesquisa adotada no LAGESOLOS, como o patrimônio geológico e geomorfológico, a importância das comunidades locais, bem como os desafios para a sustentabilidade ambiental, os impactos causados nas trilhas e, em especial, o que faz uma ligação com a essência do LAGEOLOS, desde a sua criação, que é o estudo da erosão dos solos e dos movimentos de massa, presentes nos estudos que temos desenvolvido sobre geoturismo, geodiversidade e geoconservação (Jorge et al., 2016; Jorge, 2017; Espírito Santo, 2018; Guerra, 2018; Rangel, 2018; Pereira, 2019; Rangel et al., 2019).
Ao longo dos quase 30 anos decorridos entre minha defesa da tese de doutorado (1991) e os dias de hoje, tenho publicado dezenas de artigos em periódicos nacionais e internacionais, bem como em anais de congressos, podendo ser destacados os seguintes; Utilizing biological geotextiles: introduction to the Borassus Project and global perspectives (2011); Biological geotextiles as a tool for soil moisture conservation (2011); Evaluation of geotextiles for reducing runoff and soil loss under various environmental conditions using laboratory and field plot data (2011); Effectiveness of biological geotextiles on soil and water conservation in different agro-environments (2011), todos os quatro artigos, lançados pelo periódico Land Degradation and Development. Encostas Urbanas como unidades de gestão e planejamento, a partir do estudo de áreas a sudoeste da cidade do Recife-PE, publicado na Revista de Geografia (Recife-2007), Mapping hazard risk - A case study of Ubatuba, Brazil, publicado na Geography Review (2009), Mass Movements in Petrópolis, Brazil, também na Geography Review (2007), bem como A simple device to monitor sediment yield from gully erosion -. International Journal of Sediment Research (2005), e The Implications of general circulation model estimates of rainfall for future erosion: a case study from Brazil, publicado na CATENA (1999) são alguns exemplos das minhas publicações.
Fui coorganizador, organizador, autor e coautor de 15 livros (todos pela Bertrand Brasil), três dicionários e dois atlas, assim como autor de capítulos em vários livros nacionais e internacionais. Inclusive o que está bastante relacionado ao tema que venho desenvolvendo há muitos anos, intitulado: Predicting soil loss and runoff from forest roads and seasonal cropping systems in Brazil, using WEPP (Guerra, A.J.T. e Soares da Silva, A.), no livro Handbook of erosion modelling, organizado por Roy Morgan e Mark Nearing e publicado por J. Wiley (2011).
Todos os livros que saíram pela Bertrand Brasil, desde 1994 são bem conhecidos da comunidade geográfica, bem como de engenheiros, geólogos, ecólogos, arquitetos, agrônomos, urbanistas etc. Gostaria aqui de destacar o primeiro livro que foi Geomorfologia – uma atualização de bases e conceitos, já estando na sua 12ª edição. Esse foi o primeiro de uma série de 15 livros, todos na área da Geomorfologia, Gestão Ambiental, Erosão dos Solos e Movimentos de Massa. Assim que retornei do meu doutorado, senti a necessidade de dar minha contribuição, não só em termos de atividades de ensino e de extensão, mas também na organização e autoria de livros e artigos científicos. Para esse primeiro livro convidei a professora Sandra Baptista da Cunha, colega de departamento naquela época e, a partir de várias reuniões, selecionamos os autores e os capítulos do livro, a maioria deles, nossos colegas do departamento de Geografia, da UFRJ. Outros livros, como Avaliação e Perícia Ambiental, na sua 13ª edição, Erosão e Conservação dos Solos, na 8ª edição, Impactos Ambientais Urbanos no Brasil, na 8ª edição, Geomorfologia Ambiental (5ª edição), A Questão Ambiental – Diferentes Abordagens (7ª edição), Geomorfologia e Meio Ambiente (9ª edição) também foram publicados nesses últimos anos. Geomorfologia Urbana, também foi publicado pela Bertrand Brasil, em março de 2011, o qual sou organizador e autor de um dos capítulos (Encostas Urbanas). O livro aborda uma série de temas que são bem atuais, em especial após as catástrofes ocorridas na região serrana do Rio de Janeiro. O livro contém capítulos sobre Geotecnia Urbana, Bacias Hidrográficas Urbanas, Licenciamento Ambiental Urbano, Solos Urbanos, Antropogeomorfologia Urbana e Geomorfologia Urbana – Conceitos e Temas.
O mais recente, saiu agora no ano de 2020, intitulado Geografia e os Riscos Socioambientais, organizado pela Professora Dra. Cristiane Cardoso, da UFRRJ, pela doutoranda da UERJ, Michele Souza e Silva e por mim. O livro foi publicado pela Bertrand Brasil e destaca o papel da Geografia como ciência fundamental para compreendermos a nossa realidade. A ideia do livro surgiu do pós-doutoramento, que a professora Cristiane Cardoso, fez comigo, entre 2018 e 2019, e a Bertrand encampou nosso projeto. Nesse livro eu escrevi um capítulo, em conjunto com minha esposa Maria do Carmo Oliveira Jorge (também geógrafa), com quem tenho desenvolvido diversos projetos, artigos, capítulos e livros, além de termos uma filha - Maria Júlia Jorge Guerra, nossa princesa, de 10 anos de idade. O título do capítulo do referido livro é: A bacia hidrográfica: compreendendo o rio para entender a dinâmica das enchentes e inundações (Jorge e Guerra, 2020).
Nessa biografia é importante chamar atenção também para o livro Coletânea de Textos Geográficos de Antonio Teixeira Guerra, que não é apenas uma homenagem a meu pai, que me inspirou para que eu seguisse a carreira de geógrafo, mas também, porque li toda a sua obra, contendo mais de 100 artigos publicados no Brasil e no exterior. Dessas publicações selecionei 13 artigos, que eram de interesse de um grande público, que não tinha mais acesso aos seus trabalhos, todos esgotados, até 1994, quando saiu esse livro.
Uma outra publicação que gostaria de chamar atenção é o Novo Dicionário Geológico-Geomorfológico (o antigo Dicionário Geológico-Geomorfológico), escrito por meu pai, no início da década de 1960, e publicado pelo IBGE. Como eu reformulei totalmente a antiga edição do dicionário, bem como acrescentei 500 novos verbetes, minha mãe (também geógrafa) permitiu que eu entrasse como coautor do meu pai e a Bertrand lançou sua 1ª edição em 1997; hoje já está em sua 10ª edição. Atualmente estou escrevendo uma nova edição, com mais 300 novos verbetes e atualização dos existentes.
Entre 2005 e 2009 participei de um projeto, em conjunto com o LNCC (Laboratório Nacional de Computação Cientifica), situado em Petrópolis, com a empresa de engenharia Terrae e com a Defesa Civil de Petrópolis, para a criação de um Sistema de Alerta a enchentes e deslizamentos. Diversos mapas de riscos foram elaborados, como parte desse projeto, bem como vistorias de campo foram desenvolvidas, ao longo desses quatro anos. Mais uma vez, tive a oportunidade de dar minha contribuição à sociedade, em um campo de saber, que venho trabalhando há algum tempo.
Finalmente, gostaria de abordar minha coordenação do LAGESOLOS, Laboratório que foi criado em 1994, em cooperação com os mestrandos (Antonio Soares da Silva e Rosangela Garrido Botelho) e do doutorando Flavio Gomes de Almeida. Atualmente divido a coordenação do LAGESOLOS, com o Prof. Dr. Raphael David dos Santos Filho, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da UFRJ. Naquela época éramos poucos e hoje em dia somos quase 30 membros, incluindo coordenadores, pesquisadores associados, doutorandos, mestrandos e bolsistas de iniciação cientifica (www.lagesolos.ufrj.br). O Laboratório, ao longo desses 26 anos, produziu mais cem artigos em periódicos nacionais e internacionais, bem como em anais de eventos científicos. Foram defendidas 28 teses de doutorado, 31 dissertações de mestrado e 33 monografias, o que dá uma boa medida da produção cientifica do Laboratório. Esses dados podem ser vistos na edição da Newsletter 2/1010, da European Society for Soil Conservation, onde publiquei o artigo Laboratory of Environmental Geomorphology and Land Degradation of the Federal University of Rio de Janeiro (Brazil) – History, Research Themes and Achievements. O LAGESOLOS atua em várias linhas de pesquisa, com diversos projetos em andamento, como por exemplo: Erosão dos Solos e Movimentos de Massa no Brasil; Geomorfologia Ambiental e Análise Integrada da Paisagem; Micromorfologia dos Solos e Contaminação da Água; Análise das Voçorocas Urbanas em São Luis – Maranhão; Dinâmica dos Sistemas Geomorfológicos Encosta-Calha Fluvial; Planejamento Ambiental em Micro-Bacias Hidrográficas. Essas linhas de pesquisa e projetos espalham-se por diversas partes do território nacional, como: Cáceres, Campo Grande, Coari, Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, Palmas, São Luis, Bacia do rio Macaé, dentre outras. Mais recentemente, temos atuado também em projetos relacionados ao Geoturismo, Geodiversidade e Geoconservação, com apoio financeiro e através de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, da CAPES, CNPq e FAPERJ, tanto no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, como em Ubatuba, no litoral norte paulista. No município de Rio Claro (RJ), temos desenvolvido projetos de monitoramento de voçorocas, bem como estamos utilizando técnicas modernas com uso do VANT e Laser Scanner Terrestre, bem como estamos iniciando projeto de recuperação de voçorocas.
3- AVANÇOS TEÓRICOS E CONTROVÉRSIAS
Após ter me formado em Bacharel em Geografia (1973) e Licenciatura em Geografia (1974), pela UFRJ, fui contratado como Geógrafo pelo IBGE (1974), e no final da década de 1970, ingressei no Mestrado em Geografia da UFRJ, onde eu já era professor colaborador. Em 1986 ingressei no doutorado em Geografia do King´s College London, Universidade de Londres, tendo defendido minha tese em 1991, intitulada Soil characteristics and erosion, with particular reference to organic matter contente. A partir daí passei a me dedicar aos estudos de Erosão dos Solos, ou seja, há aproximadamente 30 anos.
Minha vida acadêmica, ao longo dos cinco anos na Inglaterra, foi fundamental, devido ter entrado em contato com grandes nomes da ciência geográfica, que trabalhavam com erosão dos solos, movimentos de massa, hidrologia, mudanças climáticas etc. Citando apenas algumas, posso destacar meu orientador Denis Brunsden, mas também John Boardman, Robert Evans, Tim Burt, Roy Morgan, Jean De Ploey, entre tantos. Além disso, tive a oportunidade, depois de passar por processo seletivo, de trabalhar como repórter no Serviço Brasileiro de Rádio da BBC de Londres, entre 1990 e 1991, abordando matérias relativas à dinâmica ambiental, o que foi mais uma experiência profissional na minha vida.
Ao retornar ao Brasil, no início de 1991, após ter defendido minha tese de doutorado, comecei a criar um Grupo de Estudos em Erosão dos Solos e Movimentos de Massa, no Departamento de Geografia, da UFRJ, que mais tarde se tornou no LAGESOLOS, criado por mim, Antonio Soares da Silva (professor da UERJ), Rosangela Garrido Botelho (geógrafa do IBGE) e Flavio Gomes de Almeida (professor da UFF).
Minhas maiores contribuições conceituais e metodológicas, ao longo da minha carreira acadêmica, relacionam-se à forma como venho tratando a erosão dos solos, no que diz respeito ao monitoramento e classificação de erosão em lençol, ravinas e voçorocas. Tenho seguido a metodologia adotada pela Associação Americana de Ciência do Solo (Soil Science Society of America), que diferencia ravina de voçoroca, no tocante às medidas de largura e profundidade, sendo os limites entre essas duas feições erosivas, 0,5 m de largura e profundidade. Essas medidas caracterizam ravinas, enquanto medidas superiores são classificadas como voçorocas. Essas é uma tendência de limites estabelecidos também por pesquisadores europeus, que tem estudado essas feições, na África, Ásia, América do Sul e na Europa também. O International Symposium on Gully Erosion, desde sua primeira edição, na Universidade de Leuven, na Bélgica, em 2000, onde estive presente, até os vários outros eventos, ao longo dos anos, tem seguido essa metodologia.
Essas posições adotadas por mim são amplamente amparadas por referências bibliográficas nacionais e internacionais, que estão citadas, ao longo dessa biografia. O livro que resume boa parte, do que considero uma das minhas contribuições teórico-conceituais e metodológicas, no estudo da erosão dos solos, está retratado em Erosão dos Solos e Movimentos de Massa – Abordagens Geográficas, de minha autoria, que saiu publicado pela Editora CRV, de Curitiba, no ano de 2016. Esse livro, que resume boa parte da minha vida acadêmica, foi escrito, durante meu pós-doutorado na Universidade de Wolverhampton (Inglaterra), no ano de 2015.
Os monitoramentos desenvolvidos, em várias partes do país, através das estações experimentais, são mais uma marca do avanço metodológico do LAGESOLOS, onde, sob condições variadas de climas, solos e declividade, conseguimos produzir dados, que deram origem a monografias de graduação, dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos e capítulos de livros. Todos foram fundamentais na produção de conhecimento, bem como na formação de recursos humanos.
4- ELEMENTOS MARCANTES QUE ENTRELAÇAM SUA VIDA PESSOAL E INTELECTUAL.
Minha vida pessoal e intelectual se entrelaçam, desde muito cedo, à medida que sempre me identifiquei com a Geografia, não só pelo interesse que tinha desde os 10 anos de idade, ao fazer trabalhos de campo, com meu pai Antonio Teixeira Guerra, e seus alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que me acompanhou por toda a vida, até os dias de hoje.
Durante o curso de graduação em Geografia, na UFRJ, entre os anos de 1970 e 1973, sempre me dediquei a leituras de caráter conceitual, metodológica e aplicada, bem como participei de eventos organizados pela AGB, palestras no Clube de Engenharia, bem como fui bolsista de Iniciação Científica do CNPq e estagiário do IBGE. Isso tudo contribuiu sobremaneira para a minha formação profissional, que se seguiu no mestrado em Geografia, da UFRJ, entre os anos de 1979 e 1983, e depois no doutorado, na Universidade de Londres, entre os anos de 1986 e 1991, com tese sobre Erosão dos Solos.
Atualmente coordeno o LAGESOLOS, no Departamento de Geografia da UFRJ, onde temos dado continuidade aos trabalhos sobre Erosão dos Solos, Movimentos de Massa, Geoturismo, Geodiversidade e Geoconservação, em conjunto com alunos de graduação, mestrado e doutorado. Pós-doutorandos e pesquisadores associados do LAGESOLOS têm participado ativamente desses projetos, em conjunto com colegas de outras Universidades brasileiras e internacionais. Agências de fomento, como o CNPq, CAPES e FAPERJ têm sido fundamentais para o desenvolvimento dessas linhas de pesquisa, ao longo de mais de 25 anos. A União Europeia, através do Projeto Borassus, entre os anos de 2005 e 2008, também teve importância fundamental, no avanço das nossas pesquisas, uma vez que além do aporte financeiro proporcionado pelo Projeto, tivemos a oportunidade de entrar em contato com dezenas de pesquisadores de nove países, da Europa, Ásia e África, que trabalham com erosão dos solos, não só na perspectiva acadêmica, de produção científica, mas também, de forma aplicada, quando foram recuperadas voçorocas em todos esses países, e no Brasil, recuperamos a voçoroca do Sacavém, em São Luís, após alguns anos de monitoramento, acompanhando sua evolução e, posterior recuperação, feita com geotêxteis produzidos com fibra de buriti, uma palmeira abundante no Maranhão. O referido projeto comprovou a necessidade de conhecimento do processo erosivo, em todos os seus detalhes, de forma a podermos chegar à aplicação do conhecimento científico, na medida que conseguimos recuperar a voçoroca, de forma e não permitir mais sua evolução, o que prejudicava sobremaneira, a população, que vivia no seu entorno.
A verba oriunda da União Europeia se constituiu em forma de podermos investir na produção de conhecimento científico, aplicação de técnicas de bioengenharia, bem como em trabalhos de extensão, formação de recursos humanos, através das monografias de graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Além disso tudo, conseguimos gerar renda para a população que vivia no entorno da voçoroca do Sacavém, pois ela foi empregada para fabricar os geotêxteis e para aplicar os mesmos, na recuperação da referida voçoroca, tendo sido uma excelente forma de recuperar a área degradada e aumentar a autoestima da população desassistida pelo poder público de São Luís.
5- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Guerra, A. J. T, Almeida, N.O., Moura, J.R.S. e Lima, I.M.F. (1978). Contribuição ao estudo da erosão dos solos agrícolas no Brasil. Revista Brasileira de Geografia, 36, 68-78.
Guerra, A.J.T. (1991). Soil characteristics and erosion, with particular reference to organic matter content. Tese de doutorado, King´s College London, Universidade de Londres, 444p.
Guerra, A.J.T. (1994). The effect of organic matter content on soil in simulated rainfall experiments in West Sussex, UK. Soil use and management, 10: 60-64.
Guerra, A. J. T. (1995). The catastrophic events in Petrópolis City (Rio de Janeiro State), between 1940 and 1990. Geojournal, Alemanha,37, 349-354.
Guerra, A.J.T. (1998). Ravinas: processo de formação e desenvolvimento. Revista da Pós-Graduação em Geografia, UFRJ, 2, 80-95.
Guerra, A.J.T. (1998). O uso de simuladores de chuva e dos modelos digitais de elevação no estudo das ravinas. Revista Geosul, 14, 71-74.
Guerra, A.J.T. (1999). O início do processo erosivo. In: A. J. T. Guerra, A. S. Silva e R. G. M. B. (Org.). Erosão e conservação dos solos - Conceitos, Temas e aplicações. 1ed.Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 17-55.
Guerra, A.J.T. (2000). Gully Erosion in Brazil - a Historical Overview. In: International Symposium on Gully Erosion under Global Change, 2000, Leuven. Book of Abstracts. Leuven: Universidade Católica de Leuven, 1, 69-69.
Guerra, A.J.T. (2004). Geomorfologia Aplicada: Algumas Reflexões. In: Jémison Mattos dos Santos. (Org.). Reflexões e Construções geográficas Contemporâneas. Salvador: Universidade do Estado da Bahia, 144-158.
Guerra, A.J.T. (2005). Experimentos e Monitoramento em Erosão dos Solos. Revista do Departamento de Geografia (USP), 16, p. 32-37.
Guerra, A.J.T. (2007). O papel da geografia física na compreensão do espaço - um estudo de caso das voçorocas urbanas de São Luís MA. Cadernos de Cultura e Ciência (URCA), v. 2, p. 1-12, 2007.
Guerra, A.J.T. (2008a). Encostas e a Questão Ambiental. In: A Questão Ambiental – Diferentes Abordagens. Orgs. S.B. Cunha e A.J.T. Guerra. Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 4ª edição, 191-218.
Guerra, A. J. T. (2008b). Challenges for the use of soil with quality and efficiency. Newsletter ESSC European Society for soil conservation, The University of Wolverhampton, 3 - 9.
Guerra, A. J. T. (2008c). Feições erosivas e uso da terra ao longo da Linha de Transmissão de Energia em Mato Grosso do Sul. In: Dinâmica e Diversidade de Paisagens, 2008, Belo Horizonte - MG. VII Simpósio Nacional de Geomorfologia - 1-10.
Guerra, A. J. T. (2008d). Challenges for the use of soil with quality and efficiency. Newsletter ESSC European Society for soil conservation, The University of Wolverhampton, 3 - 9.
Guerra, A.J.T. (2009a). Processos Erosivos nas Encostas. In: Geomorfologia - Uma Atualização de Bases e Conceitos. Orgs. A.J.T. Guerra e S.B. Cunha. Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 8ª edição, 149-209.
Guerra, A.J.T. (2009b). Processos Erosivos nas Encostas. In: Geomorfologia - Exercícios, Técnicas e Aplicações. Orgs. S.B. Cunha e A.J.T. Guerra. Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 3ª edição, 139-155.
Guerra, A.J.T. (2010). O Início do Processo Erosivo. In: Erosão e Conservação dos Solos - Conceitos, Temas e Aplicações. Orgs. A.J.T. Guerra, A.S. Silva e R.G.M. Botelho. Editora Bertrand Brasil, 5ª edição, Rio de Janeiro, 15-55.
Guerra, A.J.T. (2011). Encostas Urbanas. In: Geomorfologia Urbana. Organizador: A.J.T. Guerra, Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 13-42.
Guerra, A.J.T. (2014). Degradação dos Solos - Conceitos e Temas. In: Antonio Jose Teixeira Guerra;Maria do Carmo Oliveira Jorge. (Org.). Degradação dos Solos no Brasil, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 15-50.
Guerra, A.J.T. e Favis-Mortlock, D. (1998). Land degradation in Brazil - the present and the future. Geography Review, 12, 18-23.
Guerra, A.J.T. e Rodrigues, M.V.M. (1998). Riscos de degradação ambiental face às mudanças globais – um estudo de caso em Petrópoli – Rio de Janeiro. Revista Geosul, 27, 414-417.
Guerra, A.J.T., Coelho, M.C.N. e Marçal, M.S. (1998). Açailândia – cidade ameaçada pela erosão. Revista Ciencia Hoje, 23, 36-45.
Guerra, A.J.T. e Botelho, R.G.M. (1998). Erosão dos solos. In: S. B. Cunha e A. J. T. Guerra. (Org.). Geomorfologia do Brasil. 1ed., Bertrand Brasil 181-227.
Guerra, A.J.T. e Silva, J. E. (2000). Análise da expansão urbana e das modificações no uso do solo urbano nas sub-bacias do RIo Tindiba e Córrego do Catonho, Jacarepaguá/RJ e suas implicações sobre a erosão do solo. Sociedade e Natureza, 12, 5-20.
Guerra, A. J. T. e Silva, J. E. B. (2001). Análise das propriedades dos solos das sub-bacias do rio Tindiba e do Córrego do Catonho, Rio de Janeiro, com fins à identificação de áreas com predisposição à erosão. In: VII Simpósio Nacional de Controle de Erosão, ABGE, 78-83.
Guerra, A.J.T., Rocha, A.M. e Oliveira, A.C. (2001). Diagnóstico da degradação ambiental no bairro de Itaipú – Niterói, Rio de Janeiro. In: VII Simpósio Nacional de Controle de Erosão, 2001, Goiânia, ABGE, 95-99.
Guerra, A.J.T. e Mortlock, D.F. (2002). Movimientos de Massa en Petrópolis, Rio de Janeiro/Brasil . Desastres Naturales En America Latina, México, 447-460.
Guerra, A. J. T., Oliveira, A. C., Oliveira, F. L. e Gonçalves, L. F. H. (2002a). Petrópolis: chuva, deslizamentos e mortes em dezembro de 2001. In: IV Simposio Nacional de Geomorfologia, São Luis do Maranhão. Geomorfologia: Inerfaces, Aplicações e Perspectivas, 34-40.
Guerra, A. J. T., Furtado, M. S., Lopes, M. T., Oliveira, F. L., Oliveira, A, L. R., Cruz Júnior, A. J. (2002b). Análise de precipitação antecedente e do mínimo pluviométrico aproximado para o desencadeamento de movimentos de massa no Município de Petrópolis/RJ. In: IV Simpósio Nacional de Geomorfologia, São Luís do Maranhão. Geomorfologia: Interfaces, Aplicações e Perspectivas, 88-93.
Guerra, A. J. T. e Ribeiro, S. C. (2003). Fatores sócio-ambientais na aceleração de processos erosivos em áreas urbanas: o bairro Seminário, Crato - Ceará. In: X Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, Rio de Janeiro. Revista GEOUERJ, 2003. v. 1, 1827-1829.
Guerra, A.J.T. e Mendonça, J. K.S. (2004). Erosão dos Solos e a Questão Ambiental. In: Antonio Jose T. Guerra, Antonio Carlos Vitte. (Org.). Reflexões sobre a Geografia Física no Brasil. 1ed.Rio de Janeiro: Bertrand Brasil 225-256.
Guerra,, A. J. T., Oliveira, F. L. e Gonçalves, L. F. H. (2003). Análise comparativa dos dados históricos de movimentos de massa ocorridos em Petrópolis – Rio de Janeiro, das décadas de 1960 até 1990. In: X Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, 2003, Rio de Janeiro. GEOUERJ, 2003. v. 1, 1175-1180.
Guerra, A. J. T., Mendonça, J. K. S., Rego, M. e A, I. S. (2004a). Gully Erosion Monitoring in São Luis City - Maranhão State - Brazil. In: Yong Li; Jean Poesen; Christian Valentin. (Org.). Gully Erosion Under Global Change. 1ed.Chengdu: Sichuan science and technology press, 13-20.
Guerra, A. J. T., Rocha, A.M., Marçal, M.S. (2004b). Importância da análise geomorfológica na caracterização ambiental do Parque Nacional da Serra das Confusões - PI. In: V Simpósio Nacional de Geomorfologia, 2004, Santa Maria -RS. Geomorfologia e Riscos Ambientais - V Simpósio Nacional de Geomorfologia, 1-13.
Guerra, A. J. T., Corato, R. M. S., Maraschin, T., Nogueira, G. (2004c). Proposta metodológica para diagnóstico e prognóstico de movimentos de massa no Município de Petrópolis - RJ. In: V Simpósio Nacional de Geomorfologia, 2004, Santa Maria - RS. Geomorfologia e Riscos Ambientais - V Simpósio Nacional de Geomorfologia, 38-48.
Guerra, A. J. T. e Figueiredo, M. (2005). A simple device to monitor sediment yield from gully erosion. International Journal of Sediment Research, 20, 244-248.
Guerra, A.J.T., Assumpção, A.P., Silva, D.C.O.E., Melo, P.B. e Barreto, O.M. (2005). Methodological proposal for the development of a map of landslide risks in the Municipality of Petrópolis. Sociedade e Natureza, 2, 316-326.
Guerra, A.J.T., Mendonça, J. K. S., Bezerra, J.F.R., Gonçalves, M.F.P. e Feitosa, A.C. (2005) . Study of rainfall rates and erosive processes at the urban area of Sao Luís – Maranhão State. Sociedade e Natureza, 2, 192-201.
Guerra, A.J.T. e Hoffmann, H. (2006). Urban gully erosion in Brazil. Geography Review, 19, 3, 26-29.
Guerra, A.J.T., Corrêa, A.C.B. e Girão, O. (2007). Encostas Urbanas como unidades de gestão e planejamento, a partir do estudo de áreas a sudoeste da cidade do Recife-PE. Revista de Geografia (Recife), 24, 238-263.
Guerra, A.J.T e Mendonça, J.K.S. (2007). Erosão dos Solos e a Questão Ambiental. In: Reflexões sobre a Geografia Física no Brasil. Organizadores: A.C. Vitte e A.J.T. Guerra. Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2ª edição, 225-256.
Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2008). Mapping hazard risk – A case study of Ubatuba, Brazil. Geography Review, 22,3, 11-13.
Guerra, A. J. T., Wosny, G., Silveira, P.G. e Guerra, T. T. (2008). Propriedades químicas e físicas dos solos, associadas à erosão, ao longo da linha de transmissão de energia, em Mato Grosso do Sul. In: V Seminário Latino-Americano de Geografia Física, 2008, Santa Maria - RS. V Seminário Latino-Americano de Geografia Física. Santa Maria: Revista Geografia, Ensino e Pesquisa, v. 5, 886-900.
Guerra, A.J.T. e Lopes, P.B.M. (2009). APA de Petrópolis: um estudo das características geográficas. In: Guerra, A.J.T.; Coelho, M.C.N. (Org.). Unidades de Conservação: abordagens e características geográficas. 1ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2009, 113-141.
Guerra, A.J.T., Mendes, S.P., Lima, F.S., Sahtler, R., Guerra, T.T., Mendonça, J.K.S. e Bezerra, J. F.R. (2009). Erosão Urbana e Recuperação de Áreas Degradadas no Município de São Luis – Maranhão. Revista de Geografia, da UFPE, 85-135.
Guerra, A. J. T. et al. (1989) . Um estudo do meio físico com fins de aplicação ao planejamento do uso agrícola da terra no sudoeste de Goiás. Rio de Janeiro: IBGE, v. 1. 212p .
Guerra, A. J. T., Jorge, M.C.O. e Marçal, M.S. (2010). Laboratory of Environmental Geomorphology and Land Degradation of the Federal University of Rio de Janeiro (Brazil): History, Research Themes and Achievements. European Society for Soil Conservation 18 - 25.
Guerra, A.J.T. (2011). Memorial da prova de prof. Titular do Departamento de Geografia, da UFRJ, impresso, 23p.
Guerra, A. J. T., Jorge, M. C. O. e Marçal, M. S. (2010). Laboratory of Environmental Geomorphology and Land Degradation of the Federal University of Rio de Janeiro (Brazil): History, Research Themes and Achievements. European Society of Soil Conservation, p. 18-25.
Guerra, A.J.T., Bezerra, J.F.R., Lima, L.D.M., Mendonça, J.K.S., Guerra, T.T. (2010). Land rehabilitation with the use of biological geotextiles in two different countries. Sociedade & Natureza, 22, 431-446.
Guerra, A.J.T., Bezerra, J.F.R., Fullen, M.A., J. K. S. Mendonça, J.K.S., Jorge, M.C.O. (2015). The effects of biological geotextiles on gully stabilization in São Luís, Brazil. Natural Hazards, v. 75, p. 2625-2636.
Guerra, A.J.T. e Soares da Silva, A. (2011). Predicting soil loss and runoff from forest roads and seasonal cropping systems in Brazil, using WEPP. In : Handbook of Erosion Modelling. Organizadores : R.P.C. Morgan e M.A. Nearing, Willey –Blackwell, Oxford, Inglaterra, 186-194.
Guerra, A.J.T., Oliveira, A., Oliveira, F.L. e Gonçalves L.F.H. (2007). Mass Movements in Petrópolis, Brazil. Geography Review, 20, 34-37.
Guerra, A. J. T., Mendes, S. P., Lima, F.S., Sathler, R., Guerra, T.T., Mendonça, J. K. S. e Bezerra, J. F. R. (2009). Erosão Urbana e Recuperação de Áreas Degradadas no Município de Sao Luis - Maranhão. Revista de Geografia (Recife), 26, 85-135.
Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2012). Geomorfologia do cotidiano a degradação dos solos. Revista Geonorte, 1, 116-135.
Guerra, A.J.T., Bezerra, J. F. R., Jorge, M.C.O. e Fullen, M.A. (2013). The geomorphology of Angra dos Reis and Paraty Municipalities, Southern Rio de Janeiro State. Revista Geonorte, 9, 1-21.
Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2013a). O solo como um recurso natural: riscos e potencialidades. In: Maria Teresa Duarte Paes; Charlei Aparecido da Silva; Lindon Fonseca Matias. (Org.). X ENANPEGE: Geografias, Políticas Públicas e dinâmicas territoriais. 1ed.Campinas: UFGD, 1, 147-155.
Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2013b). Os desastres na região serrana. Revista Pensar Verde, Brasilia, 12 - 15.
Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2014). Hazard Risk Assessment: a case study from Brazil. Geography Review, 27: 12-15.
Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2014). Geomorfologia Aplicada ao Turismo. In: Raphael de Carvalho Aranha, Antonio Jose Teixeira Guerra. (Organizadores). Geografia Aplicada ao Turismo. 1ed.Sao Paulo: Oficina de Textos, 2014, v. 1, p. 56-77.
Guerra, A.J.T., Fullen, M.A., Jorge, M.C.O. e Alexandre, S.T. (2014). Soil erosion and conservation in Brazil. Anuário do Instituto de Geocências. UFRJ 37: 81-91.
Guerra, A.J.T.; Cardoso, C.; Silva, M. S. (Organizadores) Geografia e os Riscos Socioambientais. 1. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2020. v. 1. 207p.
Guerra, A. J. T.; Santos Filho, R. D.; Terra, C. Arte e Ciência: História e Resiliência da Paisagem. 1. ed. Rio de Janeiro: Rio Books, 2019. v. 1. 491p.
Guerra, A. J. T. e Jorge, M. C. O. Geoturismo, geodiversidade e geoconservacão - abordagens geográficas e geológicas. 1. ed. Sao Paulo: Oficina de Textos, 2018. v. 1. 227p.
Guerra, A.J.T. Erosão dos Solos e Movimentos de Massa - Abordagens Geográficas. 1. ed. Curitiba: CRV Editora, 2016. v. 1. 222p.
-
 ANA FANI ALESSANDRI CARLOS
ANA FANI ALESSANDRI CARLOS Pinceladas de uma autobiografia
Ana Fani Alessandri Carlos
Como um viajante a procura das cores, sons e cheiros dos lugares sairei em busca de "minha história". Mas recuar no tempo exige uma direção. Um questionário enviado para esta tarefa traz uma sequência possível, mas temo ter tomado muita liberdade. Com alguns acréscimos, sem muita imaginação, retomo aqui dois textos escritos: Meu memorial do Concurso de professor Titular em Geografia DG-FFLCH-USP realizado em 2004 e meu texto de apresentação no “Seminário de Geocritica” quando recebi o “Prêmio Geocritica” das mãos do professor Horário Capel (Pensar el mundo a través de la geografia: un camino recorrido en la construcción de una "geografia posible"). Conferência realizada quando da outorga do premio Geografia Critica de 2012 e publicada nos Anais do evento: http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas.htm/.
Em ambos, todavia arremato fragmentos de lembranças – um flanar à toa pelo passado - por isso mesmo tortuoso e cheio de imbricações, alguns atalhos, becos sem saída. Fragmentos que se constituem de momentos reais e concretos contemplando um passado delineado e prontamente, reconhecido de uma memória seletiva e, portanto, aleatórios (o que para mim é um mistério).
Posso começar com uma confissão! No ginásio detestava a Geografia. Dona Elza nos fazia decorar nomes de rios e capitais, num estilo terrorista. Até hoje embaralho o nome das capitais nordestinas e dos afluentes do rio Amazonas. Fui salva pelo professor Pedro Paulo Perides no curso clássico no colégio de Aplicação da USP, que me mostrou as possibilidades abertas pela disciplina. Hoje, ao contrário, a Geografia, para mim, é “pura paixão” e aparece como um desafio enquanto possibilidade de pensar o mundo em sua dinâmica transformadora e um exercício de liberdade. Minha vida não se separa da Geografia a não ser nos meus primeiros anos que duraram até o clássico.
A Geografia, claro não foi uma opção muito bem aceita na casa paterna, mas tão pouco questionada. Como era muito estudiosa, meu pai descortinava para a filha um futuro com um diploma de doutor. Diploma este que pude um dia lhe mostrar.
O que me motiva na vida? O ato de descobrir, de querer saber mais sobre tudo o que vejo. Uma verdadeira tragédia, pois nunca me sinto completamente satisfeita! Na realidade o que me motiva é o desejo de experimentar que vem acompanhado pela consciência de minhas limitações.
Há tanto ainda que ler, aprender, investigar, que uma vida é muito pouco. Nesse caso me consola a ideia do professor Petroni segundo a qual “quando achamos que sabemos tudo, estamos, na realidade mortos”. Nesse sentido o que me move é essa busca infindável pelo conhecimento. A liberdade na possibilidade da criação que fascina e aqui se liga a ideia de aventura que ilumina a busca.
Acho que é assim que me defino; uma pessoa inquieta, ávida de conhecimento, sempre em busca de algo, às vezes, difícil de definir. Numa tarde de sábado, enquanto escrevia meu memorial de livre docência, ouvi de meu marido ao fechar o notebook falar pra mim “avancei muito, mas ainda sei muito pouco“. Essas palavras sintetizaram meus sentimentos. Minha ansiedade nesta busca incessante me imerge na angústia e no terror, pois ela transcende a Geografia para me colocar diante da criação humana do mundo e de como, ao longo do tempo esse mundo, em constante construção foi pensado e imaginado. Proust elucida a questão quando afirma que há uma diferença "entre a ardente certeza dos grandes criadores e a cruel inquietação do pesquisador"¹ . Talvez seja por isso que minhas leituras me conduzem/ expulsam do estrito limite do que se chama Geografia para me debruçar sobre muitos campos disciplinares, inclusive na arte (desenvolvi um projeto no CNPq num diálogo entre a “geografia e a arte”).
Para mim me consola a ideia de que a segurança é sinônimo de aprisionamento e que a verdadeira liberdade é aquela que nos permite ousar; pois quando tudo estiver explicado, quando tudo for posto em ordem e fixado de antemão, então evidentemente, não haverá mais lugar para o que se chama desejo. Assim poder pensar, estudar, imaginar como a geografia pode construir uma explicação do mundo tão turbulento, dinâmico e complexo sem a criação de modelos prontos e acabados, é, para mim, um exercício de liberdade, o desejo².
I. São Paulo, minha cidade, onde nasci, vivi e vivo...
“situada num planalto
2700 pés acima do mar
E distando 79 quilômetros de Santos
Ela é uma glória da América contemporânea
A sua sanidade é perfeita
O clima brando
E se tornou notável
Pela beleza fora do comum
Da sua construção e da sua flora
Anúncio de São Paulo, Oswald de Andrade
Na linearidade do tempo, nasci – 22 de maio de 1952- no seio de uma família de imigrantes do norte da Itália que tentavam a sorte em São Paulo, como tantos outros. Na Barra Funda passei as duas primeiras décadas de vida e foi um período tão marcante, tão profundamente vivido nas ruas do bairro (onde aconteciam as brincadeiras e todos os trajetos eram feitos a pé) numa relação tão íntima com meus vizinhos, permeado de momentos tão lúdicos que até hoje, quando penso na minha identidade, é a Barra Funda que me vem à mente, mesmo se hoje ela não se parece, em nada, com a Barra Funda de minha infância e adolescência.
Morava numa das casas de uma vila construída pelo "nonno" anos depois de ter chegado com a família da Itália, ele era de Lucca, minha nonna nascida no Vêneto. As ruas de minha infância na cidade de São Paulo dos anos 50 – início dos 60 era marcada pelo burburinho das vozes das crianças que saíam às ruas, com suas bolas, "carrinhos de rolemã", cordas, patinetes, festejando de tempos em tempos a passagem do "homem da machadinha", (aquele doce rosa e branco duro e açucarado que fazia a alegria de crianças e dentistas e era o terror dos pais); o homem do picolé, ou ainda o homem que trazia uma lata redonda nas costas e um "instrumento barulhento" na mão vendendo bijou; o lindo som do realejo...situações estas, que parecem não ter mais lugar na metrópole do século XXI.
Minha rua, a mesma de Mario de Andrade
“Nesta rua Lopes Chaves
Envelheço envergonhado
Nem sei quem foi Lopes Chaves ...
Ser esquecido e ignorado
Como o nome dessas ruas.
Minha casa, onde morávamos eu, meus 2 irmãos, meus pais e os nonos do lado paternos se situava no número 123, da rua Lopes Chaves. Mais tarde descobri que Mario de Andrade ali havia vivido, numa carta recebida de um antigo professor de literatura que, ao escrever para meu endereço, não se conteve em falar que este lhe lembrava do grande escritor. Se hoje o novo engole, incessantemente, as formas onde se escreve o passado de modo veloz; as mudanças no bairro vislumbradas, no período de minha adolescência eram lentas e graduais e não chegavam a produzir traumas. Vivíamos o tempo cíclico na vida cotidiana entre casa, a escola (próxima de casa) e o lazer na rua depois das “lições de casa” que aos poucos foi invadido pelo tempo linear.
Junto comigo, o bairro ia crescendo e se transformava, mas antes, ia se modificando a vida das pessoas. Eu brincava nas ruas do bairro com minhas amigas, e aos poucos, os carros teimavam em tomar o lugar das nossas brincadeiras. As cadeiras que tomavam conta das calçadas, ocupadas por nossos pais, teimavam em desaparecer. A chegada da televisão no bairro enchia a todos de curiosidade e colocava os adultos diante da telinha que teimava em não “retrucar“. No começo ela não acabava com os encontros dos vizinhos, lembro-me que, como a minha casa era uma das poucas a apresentar a novidade, é para lá que alguns vizinhos se dirigiam depois do jantar e a sala se enchia de gente. Mas em pouco tempo a televisão prendeu cada um na sua sala sozinho, assistindo a sua televisão, sem olhar para o lado ou conversar com ninguém abrandando as relações de vizinhança. Outro ponto importante da vida do bairro italiano que se perdeu eram os encontros nas esquinas nas portas dos bares para a conversa depois do jantar e que iluminavam as ruas.
A atenuação da sociabilidade ia aos poucos sendo marcada pelo fim de atividades que aconteciam nos bairros, com o fim das relações de vizinhança provocada pela televisão. As ruas iam se tornando perigosas pelo adensamento dos automóveis, tirando as crianças das calçadas. Mas as mudanças iam atacando o tempo cíclico. Penso no fim das procissões, onde todos se encontravam e percorriam as ruas do bairro com uma vela na mão, iluminado o percurso; o fim das quermesses que marcavam o período das festas juninas e suas fogueiras que esquentavam as noites de inverno; o fim do “cordão do camisa verde e branco” que à época do carnaval usava as ruas do bairro como palco de seu ensaio - trazendo atrás de si várias crianças e adolescentes. Transformado em escola de samba passou a ensaiar, para o carnaval, numa quadra fechada e com ingressos pagos. Nos dias de Carnaval não há mais o agrupamento de moradores na Rua Conselheiro Brotero para ver as fantasias dos integrantes da escola, saindo para o desfile.
Como os bairros centrais da metrópole a Barra Funda também implodiu, e muitas casas deram seus lugares para outros usos. Estamos hoje muito distantes da paisagem descrita por Mário de Andrade em Paulicéia Desvairada e Lira Paulistana onde São Paulo ainda aparecia calma e a garoa ainda era sua marca.
Na casa de minha avó materna (em frente à vila onde morava) está instalada, hoje, a doceira Dulca (construída através do remembramento de dois antigos terrenos ocupados por casas construídas nas primeiras décadas do século XX). A vila, onde morei, ainda está lá, não foi derrubada, mas arrasada, sem vida alguma. A farmácia da esquina com sua decoração do início de século, toda em madeira, balcão de mármore, portas de vidro branco desenhados, e chão quadriculado em branco e preto, deu seu lugar a uma loja de automóveis. Não sei no que se transformou o "armarinho" grande e colorido pela profusão das linhas e lãs que decoravam as prateleiras; como minha nonna fazia crochê, íamos lá com frequência.
Na charutaria do seu Diogo, em meio a um cheiro que penetrava na narina de forma agressiva aonde comprava uma parte dos artigos de papelaria que precisava, deixou de existir há muito tempo. O açougue do seu Duílio também não existe mais, tanto quanto a linguiçaria, a sapataria, a tinturaria, a padaria. Mas o que mesmo senti falta foi da Dan Top, a fábrica de chocolates que ficava na rua Barra Funda inundando-a com um cheiro delicioso (que até hoje pareço sentir, como lembrança de um dos cheiros da infância) quando por lá passava com minha mãe e minha irmã. Hoje, nem a Kopegnagen com seu "dona benta" consegue reproduzir "aquele maravilhoso gosto da infância" (ou será que o gosto era mesmo ruim, mais, na infância os cheiros e gostos ganham dimensões especiais). Também não existe mais a casa Di Piero, um pastifício que funcionava na mesma rua com suas paredes cobertas de gavetas com tampo de vidro, mostrando uma infindável quantidade de "formas de macarrão" feitas nos fundos e abastecendo as cozinhas para o "almoço das macarronadas das quartas e dos domingos", e das sopas servidas no jantar do cardápio italiano de minha família. O depósito onde comprávamos Tubaína (os refrigerantes eram mais caro) aos sábados (o refrigerante só era permitido nos finais de semana, nos outros dias uma gota de vinho e açúcar, na água, acompanhava a refeição da garotada), também, há muito tempo, não existe.
As ruas, antes arborizadas e silenciosas, perderam a cor, e foram invadidas pelos carros, estacionados em todas as suas extensões de suas guias. O tráfego de veículos também se intensificou. A quantidade de carros contrasta com a ausência das crianças e dos moradores. Mudou, fundamentalmente, os cheiros, as cores, os ruídos, há uma imensa ausência (se é que se pode quantificar a ausência). O espaço lúdico se tornou uma "coisa estranha". Foi, não é mais. Lembro-me aqui do o filme Avalon (dir Berry Levinson,1990) e da música Peramore de Zizi Posi (1997, aonde as mudanças nas formas urbanas, sustentadoras da identidade, ao desaparecem dá a sensação de que, sem elas, “nunca tivemos existido”. Nesse sentido, o passado enquanto experiência e sentido daquilo que produz o presente se perde enquanto o futuro se esfuma na velocidade do tempo da transformação das formas. Parece haver uma urgência, neste processo.
Vejo São Paulo se transformando ao longo de minha vida. As ruas dos bairros centrais se esvaziam as da periferia agora correm o mesmo risco com as milícias e o narcotráfico que vieram normatizar e impor sua lógica àquela de uma área marcada pela violência do processo de urbanização poupador de mão de obra, feito com altas taxas de exploração de força de trabalho que expulsou para a mancha periférica os trabalhadores. Hoje a periferia é mais complexa, nas franjas da metrópole, as ações do imobiliário em busca de terrenos escasso na macha urbana vem construindo grandes condomínios fechados por altos muros, segurança ameaçadora com limites bem definidos.
Das brincadeiras e da prática de esportes, sem uniforme e regras rígidas, praticadas nas ruas e em lugares improvisados, me vi agora praticando vôlei e tênis em clubes fechados. Os esportes fazem parte de minha vida e são momentos importantes e uma forma de arte que se revela em movimentos criativos e expressivos e como sou um pouco obsessiva vejo-os também como momentos de aprendizado – adoro aprimorar meus movimentos - além de fazer amigos, rir muito e relaxar. Tenho um time de vôlei (que, evidente se renova) há mais de 30 anos, participando, inclusive de campeonatos; além de jogar tênis – já neste esporte sou bem melhor- pelo menos é o que detecto dos gritos do treinador de vôlei.
II. Rupturas
Dois fatos marcaram minha formação. O ingresso no colégio de Aplicação da FFLCH foi decisivo abrindo novas e abrangentes perspectivas. Ali o debate "corria solto". Os alunos eram instigados o tempo todo a participar das aulas. Queria morrer quando ali cheguei depois de um árduo exame de admissão baseada numa música de Chico Buarque! Morri! Eu que vinha de um colégio tradicional tinha dificuldades em entender como as coisas aconteciam na sala de aula. Em primeiro lugar todos os alunos participavam das aulas, traziam sugestões, debatiam, criticavam, enfim não aceitavam facilmente as ideias apresentadas o que de início me deixava aturdida. Era estimulante, mas também assustador, para uma pessoa tímida que vinha de uma família operária, que havia estudado em colégio de freiras e pertencia a uma classe diferente dos outros alunos. Acho que foi essa diferença que uniu, profundamente, os “iguais”: Amélia, Tânia (ambas descendentes de famílias de migrantes italianas e também moradoras na Barra Funda, como eu), Lucienne e Silmara, com quem havíamos cruzado no ginásio egressas do colégio Macedo Soares.
As leituras também eram outras e discutíamos o que se passava no mundo real, nos fazendo mergulhar nos momentos difíceis que marcava aquele final de década de 60. A ditadura militar, o AI5, a perda das liberdades individuais, a censura nos jornais (o Estadão vivia enchendo suas páginas com receitas e mais receitas de bolo no lugar aonde os sensores faziam seus cortes); houve um ano em que assistíamos aula com 2 guardas na porta com metralhadora (o colégio era perigoso para o regime militar). Vivíamos intensamente este momento em que os debates ocorriam à solta, os livros eram escondidos, e a união era uma forma de resistência. O teatro também passa a fazer parte da minha vida, as aulas de teatro eram estimulantes e a frequência ao teatro, até então fora de meu universo (até então só tinha visto Édipo Rei numa das últimas apresentações de Cacilda Becker), criou novas perspectivas. Cheguei mesmo a fazer parte de um grupo que escreveu uma peça de teatro a partir de um livro de Campos de Carvalho, "O púcaro búlgaro". Nos finais de semana tínhamos ensaio com Antônio Fagundes e frequentávamos a casa de Sílvio Zilber.
Aprendemos a trabalhar em grupo (e aqui construímos um grupo (mencionado, acima, que acabou atravessando a vida, penetrando outros momentos, e que existe até hoje, intensamente)). Varávamos noites deliciosas (barulhentas e com muitos petiscos deliciosos que a Tânia trazia da padaria do seu pai) fazendo trabalhos uns mais interessantes que o outro. Durante muitos anos fomos absolutamente inseparáveis na escola, nos cursos de francês (na Aliança Francesa), depois na faculdade, fizemos teatro juntas, saíamos à noite, tudo que fazíamos, parecia ter o sentido novo da descoberta.
O universo do diálogo criado nas salas de aula, as aulas, nossas noitadas, eram ricas e estimulantes e marcaram uma adolescência diferenciada: mais intelectualizada. Uma adolescência diferente.
Tão novo e estimulante quanto o Aplicação foram os 18 anos (1976 a 1993) que participei do grupo de pós-graduação coordenado pelo professor José de Souza Martins no Departamento de Sociologia. Naquelas "manhãs de sextas-feiras", criou-se ao longo do tempo, uma amizade e carinho muito grande, todos os que ficaram foram profundamente influenciados pelos debates a partir das leituras que fizemos e que não eram poucas. Durante 12 anos lemos as obras de Marx (quase todas) depois as de Henri Lefebvre (algumas). Nossa formação ganhou profundidade, nos formamos nesses 18 anos e a partir daí formamos os nossos alunos, na mesma direção teórico-metodológica. Com o professor Martins aprendemos a ler criticamente um texto, a debatê-lo em profundidade, fomos contaminados por sua preocupação teórico-metodológica e com sua seriedade.
De Marx começamos lendo o Capital (primeiro na edição do Fondo de Cultura do México, depois anos mais tarde relemos na versão da Siglo XXI - edição crítica, mais completa, cheia de notas preciosas); o capítulo inédito do capital; depois lemos Os Grundrisse, As teorias da mais valia, A Miséria da filosofia, Os manuscritos econômicos e filosóficos, A questão judaica e o 18 Brumário. "Encerrada esta etapa, decidimos em conjunto que ela deveria ter desdobramento e continuidade na leitura de um marxista contemporâneo de envergadura clássica" escreve modestamente Martins na apresentação do livro "Henri Lefebvre e o retorno a dialética". Na realidade foi o mestre quem sugeria a leitura de Henri Lefebvre.
À época dizia que Lefebvre era um marxista sério que tentava percorrer o caminho de Marx diante das interrogações da história, um conhecimento que interrogasse a realidade e que a superasse; e alertava: não de forma petrificada. Lefebvre era-nos apresentado também como um autor rico e crítico capaz de pensar o espaço e o tempo na sua modernidade.
Para fechar quase duas décadas de estudos organizados pelo Professor José de Souza Martins foi realizado um seminário “A Aventura intelectual de Henri Lefebvre, em 14 de maio de 1993, publicado, em 1996 com o título de "Henri Lefebvre e o retorno à dialética". Para Martins” Lefebvre retomou o que de mais importante havia em Marx - seu método e sua concepção de que a relação entre a teoria e a prática, entre pensar e o viver, é uma relação vital (e datada) na grande aventura de fazer do homem o protagonista de sua História".
O que começou como um seminário de estudantes de pós-graduação terminou como um seminário de professores universitários. Esse caminho de aprender o mundo mudou “minha forma de fazer geografia”, dando-lhe sentido e prolongando minha experiência do Aplicação. Esse caminho aberto na minha formação marca profundamente minha investigação e minha atividade na formação dos estudantes.
III. Construções
É necessário esclarecer que só entrei em contado com as obras de Lefebvre no final dos anos 80 o que significa que a minha construção teórica sobre a produção do espaço veio, como aconteceu com Lefebvre, de uma profunda reflexão sobre a obra de Marx. Foi assim que em 1979 defendi a dissertação de Mestrado ‘”Reflexões sobre o espaço geográfico” focando o papel do conceito de produção elaborado na obra de Marx, a partir do debate sobre a relação homem-natureza.
III. Construções
É necessário esclarecer que só entrei em contado com as obras de Lefebvre no final dos anos 80 o que significa que a minha construção teórica sobre a produção do espaço veio, como aconteceu com Lefebvre, de uma profunda reflexão sobre a obra de Marx. Foi assim que em 1979 defendi a dissertação de Mestrado ‘”Reflexões sobre o espaço geográfico” focando o papel do conceito de produção elaborado na obra de Marx, a partir do debate sobre a relação homem-natureza.
Nessa dissertação construí a tese que persegue minha pesquisa até hoje: a produção do espaço é uma produção imanente a produção da vida humana. Produto da história seu conteúdo é social. Nesse momento desloca-se a investigação da localização dos fenômenos no espaço à produção social do espaço apontando a sociedade (desigual) como sujeito produtor do espaço. Uma inversão teórica apoiada no materialismo dialético.
A noção de produção do espaço se desdobra da relação homem-natureza ato civilizatório, superando a compreensão de uma Geografia centrada na localização e distribuição das atividades e dos homens no espaço ou no território em direção à análise da produção deste espaço como produto social e histórico.
No Doutorado (A re-propdução do espaço urbano, EDUSP, São Paulo, 1994) desenvolvemos a tese de que ao produzir sua existência os homens produzem não só sua história, conhecimento, processo de humanização, mas também o espaço. Um espaço que em ultima instância é uma relação social que se materializa formalmente em algo possível de ser apreendido, entendido e aprofundado. Um produto concreto: a cidade.
O espaço, enquanto dimensão real que cabe instruir coloca-se como elemento visível, representação de relações sociais reais que a sociedade unia em cada momento do seu processo de desenvolvimento e, consequentemente, essa forma apresenta-se como história especificamente determinada; logo concreta. O produto espacial expressa às contradições que estão na base da sociedade através da segregação que tem sua lógica no desenvolvimento desigual das relações capitalistas de produção.
Ao longo do processo histórico, portanto, os homens deixam suas marcas acumuladas no espaço, dando-lhe particularidades que compõem a existência comum dos homens inscrevendo-se no espaço ao mesmo tempo em que o criam como obra civilizatória. Ao reproduzir sua existência, a sociedade reproduz, continuamente, o espaço, dando-lhe um caráter histórico. Assim se elabora a premissa de que o processo de constituição da humanidade contempla a produção do espaço, permitindo formular a tese segundo a qual a "produção do espaço" é condição, meio e produto da ação humana. Este movimento triádico sugere que é através do espaço (e no espaço), que, ao longo do processo histórico, o homem produziu a si mesmo e o mundo como prática real e concreta. Objetiva em sua materialidade, tal prática permite a realização da existência humana através de variadas formas e modos de apropriação dos espaços-tempo da vida. Ao se realizar nesse processo, a vida revela a imanência da produção do espaço como movimento de realização do humano (de sua atividade). Com isso quero dizer que a relação do homem com a natureza não é de exterioridade, uma vez que a atividade humana tem uma relação prática com a natureza como reação e resposta, apoderando-se das coisas como construção de um mundo e de si mesmo em sua humanidade. Ao longo do processo histórico constituidor da humanidade, o espaço se encerra como uma das grandes produções humanas, superando sua condição de "continente".
Essa produção espacial expressa, portanto, as contradições que estão na base da sociedade, e que, sob o capitalismo, traz determinações específicas no âmbito de uma lógica do desenvolvimento espacial desigual fundado na concentração da riqueza que hierarquiza e normatiza as relações sociais e as pessoas no espaço. Em seu desdobramento, a noção de produção permitiu chegar à compreensão do espaço-mercadoria e de sua reprodução com o desenvolvimento do capitalismo. Portanto, o civilizatório, traz em si aquilo que o nega, o espaço (produção social) torna-se uma mercadoria, como todos os produtos do trabalho humano. Nesta condição, a produção social do espaço coloca-se como momento de exterioridade em relação à sociedade aparecendo e se representando – no plano do vivido - como uma potência estranha (a obra humana se opõe ao humano) isto é, como momento do processo de alienação derivando-se nas lutas no espaço pelo espaço.
Nesta perspectiva, a produção do espaço envolve vários níveis da realidade que se apresentam como momentos diferenciados da reprodução geral da sociedade; aquele da dominação política (imposição da lógica do estado na produção do espaço como se pode ver através de planos e politicas públicas voltadas ao espaço), das estratégias do capital objetivando sua reprodução continuada (os processos de acumulação tem o espaço como sua condição tornando-o uma força produtiva para o capital) e aquela das necessidades/desejos vinculados à realização da vida humana em sociedade. Estava assim aberta a perspectiva da construção de uma metageografia.
O caminho traçado por minha investigação, portanto não se refere à construção de uma “geografia urbana”, mas foca uma geografia que pretende compreender a realidade que tem por determinação o urbano.
III- A grande reviravolta na Geografia – os anos 70
Se de um lado a construção de minha investigação tinha como ponto de partida as leituras de Marx, por outro encontrava a Geografia num ambiente extremamente rico estimulante, coisa que hoje não mais vivenciamos. A década de 70 marcou o cenário geográfico com profundas transformações; a geografia estava na berlinda.
Iniciei minha pós-graduação em 1976, num momento de grande "agitação intelectual", os geógrafos começavam a questionar o legado da chamada "geografia clássica". A crítica a este pensamento estava fundando na ideia de que a Geografia até então descrevia os fenômenos espaciais, sem uma preocupação maior com sua análise, isto é, a teoria ocupava um lugar secundário e a dimensão do empírico imperava.
Questionava-se seu poder explicativo e os trabalhos monográficos com forte teor descritivo. O debate metodológico tomava conta de todos os ambientes, os debates eram acalorados, naquele momento era o materialismo histórico que abria e apoiava os debates que colocavam em xeque o entendimento do espaço e o papel do homem na análise geográfica. Permitiu, também, pensar de outro modo à articulação entre as disciplinas abolindo-se as fronteiras entre as mesmas buscando-se um novo entendimento do mundo e provocado profundas transformações na Geografia.Baseado no materialismo histórico, o que se convencionou chamar de “geografia crítica" passa a fundamentar, no Brasil, a esmagadora maioria dos trabalhos na área de Geografia Humana a partir dos últimos anos da década de setenta, como a Geografia produzia um conhecimento sobre o espaço e como se poderia entender o mundo através da Geografia. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Ruy Moreira, Carlos Walter Porto Gonçalves agitavam o cenário da geografia brasileira com seus escritos. O contato com Ari na USP era fonte de inspiração. Mas o debate acolhia uma ampla diversidade de geógrafos, não necessariamente relacionada à chamada “geografia crítica”. Pasquale Petroni, Pedro Pinchas Geiger (seu livro sobre a Rede Urbana), Fanny Davidovich (as análises urbanas) eram mentes ativas e estimulantes.
Manuel Correa de Andrade (e seu inspirado livro “A terra e o homem no Nordeste) questionava se a geografia deveria ser mero devaneio intelectual ou se deveria fornecer condições para a racionalização da organização do espaço brasileiro, oferecendo uma contribuição à solução dos problemas brasileiros. Milton Santos aparecia no cenário da Geografia brasileira com textos estimulantes convocando à reflexão em direção a uma “outra Geografia” . Lembro-me que, numa de suas passagens por São Paulo, Ariovaldo promoveu uma reunião com poucas pessoas em sua casa para conversar com o mestre sobre os rumos da Geografia no momento em que era publicado “Por uma nova Geografia”. Puro estímulo intelectual!
A produção de um saber geográfico se move no contexto do conhecimento que é cumulativo (histórico), social (dinâmico), relativo e desigual. O dinamismo no qual está assentado o processo de conhecimento implica em profundas transformações no pensamento geográfico. Essa era o que esses anos traziam para o debate.
Estimulada por este debate debrucei-me no trabalho de investigar os conteúdos e sentidos do que, para a Geografia, era o espaço. Esta questão me perseguia em 1975 quando terminava meu curso de graduação. Foi assim que aprofundei meus estudos. Naqueles anos, por outro lado, a Geografia Quantitativa ganhava espaço no cenário nacional principalmente no IBGE e na UNESP em Rio Claro; na USP os professores, em sua esmagadora maioria se posicionavam contrário à ideia de que com a "quantitativa a geografia se transformava numa ciência". Aqui as questões teóricas já invadiam a sala de aula colocando "novas perspectivas". A geografia aparecia em seus profundos vínculos com a história e a sociologia; distante das preocupações com a quantificação dos fenômenos. Período de debates estimulantes foi o estágio com a prof. Rosa Ester Rossini na secretaria da Educação como estagiária de graduação mobilizados também por Nice Lecoq Muller convidada do grupo. Ali o debate em torno da chamada “Geografia Quantitativa foi abertura necessária ao contraponto com a “geografia da USP”’. Ainda na graduação o estágio com Luiz Augusto de Querioz Ablas no Instituto de pesquisas econômicas- IPE- abriu-me para a importância da relação entre geografia-economia a ponto de ter seguido alguns cursos de graduação na faculdade de Economia na USP.
No período de pós-graduação vive intensamente o debate sobre o que achávamos que seriam as questões fundamentais da geografia. Dividi esses momentos com muitos colegas, mas em especial com Sandra Lencioni. Encontrávamos todas as tardes na casa dela, liamos, debatíamos, refletíamos sobre a Geografia no mundo em que vivíamos. Com ela aprendi a amar chá e fazer dele um ritual de relaxamento e encantamento. Ela também me introduziu no gosto pela caneta tinteiro, ela me deu a primeira de presente e depois desse gesto fiz uma coleção que mantenho numa linda caixa no meu escritório. É relaxante o ato de encher as canetas de tinta e escolher uma para escrever, começando o dia de trabalho. Costume esboçar meus textos no papel, fazer resumos de leituras, em folhas soltas escritas com “caneta de pena” com tinta de cor “violet”. O ato de ler-refletir-escrever é lúdico para nós duas e a caneta de pena acrescenta um sentido mágico a essa atividade.
O período de 1975, quando nos formamos até 1982 foi de intensa atividade aonde nos debruçamos na leitura dos chamados clássicos da geografia: La Blache, Brunhes, Demageon, Derruau, Deffontaines, Peirre George, Kayser, Guglielmo, dentre outros e quando ambas entramos no corpo docente do DG e dividíamos a mesma sala (G4) esse debate se estendeu e ganhou força. Respirávamos Geografia e também escrevemos juntas alguns artigos, dois delas foi publicado agora na revista ETC, coordenada por Ester Limonad. Também nos debruçamos numa pesquisa sobre os conteúdos do “regional” numa publicação da época. Formamos um grupo de pós-graduandas que se reuniam frequentemente para estudar e trocar ideias no espaço onde hoje é a sede da AGB, cedido pelo DG.
No início dos anos 80, como professores do DG, junto com Tonico e Wanderley criamos por algum tempo um grupo de estudos em nossa sala. Lembro-me de uma tarde em que estávamos os quatro trabalhando o professor Armando – grande estimulador de nossos debates - entrou na sala e disse que queria organizar um seminário para discutir o momento em que estávamos vivendo na Geografia e perguntou aonde seria interessante realizar o seminário. Marotamente Wanderley sugeriu o Rio de Janeiro; mas os paulistas fizeram o seminário em três dias: sexta, sábado e domingo, acabando com uma possível ideia de desfrutar das lindas praias cariocas. O seminário “Dialética e Geografia" foi um marco importantíssimo, naquele momento aonde o debate em torno das possibilidades da análise geográfica a partir do método dialético foram delineadas. O professor Armando também sintetizou num texto publicado no Boletim Paulista de Geografia as mudanças que estavam ocorrendo, principalmente na USP.
Tonico, Sandra e eu também participamos junto com o professor Armando numa mesa do Congresso da AGB que houve 1980 na PUC Rio de Janeiro. Nesse período também participamos todos mais Wanderley numa mesa da AGB – são Paulo no DG originando o número 1 da revista – de pouca vida- chamada Borrador.
Para mim "fazer Geografia" neste momento significou "sair da Geografia" muitos me diziam que estava me transformando em socióloga, até hoje, ainda alguns não me acham geógrafa, mas o que tenho a dizer é que desde 1975 tenho a consciência e a vontade e, quem sabe a pretensão de "ser geógrafa" entendendo por isso, a tentativa de pensar o mundo moderno a partir da análise espacial. Minha dissertação de Mestrado, minha tese, minhas pesquisas, perseguem o conhecimento do espaço em seu sentido amplo, e nessa busca, encontrei a produção do espaço enquanto produção humana, portanto a análise espacial passa pela "produção do humano".
Quero crer que fiz parte de um momento precioso e rico da Geografia - aquele do debate acalorado e profundo sobre os caminhos da análise geográfica a partir da crítica a geografia clássica tendo na sua base o caminho aberto pela leitura marxista do mundo. A controvérsia era profundamente estimulante o que não impedia a existência de "vários marxismos” tanto quanto as possíveis leituras que as obras de Marx permitiam o que se colocava como problema quase intransponível.
IV- Aprendendo “em outros lugares”
Realizei dois curtos "séjours" de pesquisa em Paris, o primeiro em 1989 um ano e meio depois de meu doutorado, sob a orientação do professor Olivier Dolffus da universidade de Paris VII. Naquele momento a tese de doutorado havia deixado muitas questões em aberto. As leituras me conduziam, agora, para entender o modo como à geografia urbana pensava a cidade nos finais dos anos 80, quais os caminhos teóricos metodológicos que se abriam a pesquisa sobre a cidade; quais os temas emergentes.
O professor Milton Santos com quem convesava muito no DG, um dia no corredor me disse que estava « eu fazendo muita política « (era representante da FFLCH no Conselho de represnetante da ADUSP) e me pediu para avisar meu marido, com quem ele tinha trabalhado, que ele iria me enviaria para um pós-doc em Paris I. E assim ele, com sua grande generosidade, orgzanizou meu séjour junto ao porfessor Dolffus e conversou com seus amigos para que me recebessem -o que me abriu inúmeras portas -, e foi assim que fiz um grande número de entrevistas com pesquisadores. E entrevistei muitos geógrafos e pude trabalhar em bibliotecas e visitar livrarias. O contato com o professor Claval sempre foi muito estimulante, já naquela época conversávamos sobre as relações entre a geografia e a literatura. Desta época a amizade com a geógrafa Martine Droulers permitiu acalorados debates e décadas de convivência. Topalov também foi uma das pessoas que me deu muitas ideias no curso que seguia na Sociologia. Nessa época seguia curso do Claval com Paulo Cesar- foi ótima nossa convivência e com ele descobri o “panaché”.
O segundo "séjours" foi um convite do professor Georges Benko da Universidade de Paris I, neste momento ao contrário do primeiro foquei meu trabalho numa pesquisa bibliográfica visando à elaboração da tese de Livre docência. Aqui o contato com o professor Roncayolo, foi central.
Como estava em Paris com Silvana Pintaudi (professora da UNESP) dividindo o mesmo “studio”, montamos uma grande biblioteca (dividíamos literalmente o espaço com muitos livros). Passávamos as manhãs trancadas lendo os livros em silêncio e depois saíamos para livrarias e bibliotecas, agora, debatendo muito, tornando o "séjours" mais profícuo e estimulante. Nosso debate e minhas investigações versavam sobre as leituras que focavam a cidade propriamente dita, mas referiam-se, sobretudo, ao caminho da análise do urbano no contexto do processo de mundialização da sociedade que se torna cada vez mais urbana.
Outras “andanças” marcam o fato de que os encontros nos permitem aprender e não só ensinar ou mostrar o que se “sabe ou aprendeu”. Nesse caso cito que foi como professora e coordenadora de convênios; Paris coordenado CAPES-COFECUB, Barcelona, coordenando CAPES-MECD, depois outras voltas a Barcelona- numa delas aproveitando o silêncio e a ausência das tarefas burocráticas, escrevi meu livro “O espaço urbano”. Desse encontro inicial se desdobrou importante intercambio que ainda mantenho com a prof. Nuria Benach, a convite de quem dividi a edição do livro “Horácio Capel: Pensar la ciudad em tempos de crisis” (volume 7 da coleção Espacios Critics, Icária, Barcelona, 2005). Também viajei a convite de colegas, ministrando cursos para Medellin (2 vezes), Bogotá, Buenos Aires. Na cidade do México assumi a cátedra Elisé Reclus. Ao longo de duas décadas venho acompanhando os colóquios organizados por Capel “colóquios de geocritica”, além da participação em outras redes de pesquisa. Saliento, aqui o diálogo com o grupo da revista de estudos lefevrianos -“La somme et le reste” - coordenado por Armand Ajzenberg, em Paris.
Nosso processo (estendido) de formação se realiza em momentos entrecruzados por atividades as mais diversas, no convívio com colegas de dentro e de fora da Geografia, quase todos vinculados à Universidade, montando um quadro profícuo ao debate a troca de ideias, o contato com o Diferente e com o que difere. É assim que destaco minhas participações na ADUSP, SBPC e AGB. O diferente marca uma riqueza ilumina a prática, provoca amadurecimentos. Na SBPC, quero lembrar que trabalhei com o professor José pereira de Queiroz, na ADUSP pude me sentir membro do grupo PARTICIPAÇÃO e na AGB-SP trabalhei com colegas como a Odette Seabra, Arlete M. Rodrigues e Regina Bega.
V- O diálogo sem o qual não se produz ciência
Ao longo de quase 2 décadas um fórum de debates se tornou importante para o meu trabalho e, formação: no princípio era o grupo que fundou e organizou os primeiros 7 “Simpósios de Geografia Urbana”, e depois que o SIMPURB, ganhou o Brasil, o grupo se reuniu entorno do GEU- grupo de estudos Urbanos. Faz parte do grupo Roberto Lobato Correa, Mauricio de Abreu, Jan Bitoun, Silvana Pintaudi, Maria Encarnação Sposito, Pedro Vasconcelos e um pouco depois se juntou ao grupo inicial, Marcelo Lopes de Souza.
Esse fórum foi de fundamental importância por dois motivos; primeiro porque se trata de um grupo de pesquisadores que pensa de modo diferente; optando por caminhos teórico-metodológicos diversos o que abre um leque de perspectivas analíticas. Em segundo lugar é o modo como o debate se estabelece: criticamente. Sem crítica não há produção de conhecimento - e esse exercício é levado muito a sério. Nos simpósios de Geografia Urbana, os trabalhos eram analisados e debatidos em profundidade e, nesse processo crítico a reflexão se aprofundava e a pesquisa se confronta com renovados desafios. Como pensamos diferente (mas nos respeitamos), os simpósios aconteciam com discussões tão acaloradas que os recém-chegados achavam que nos odiamos e não entendiam como, depois dos debates, saímos todos rindo para almoçar ou jantar juntos. O que caracterizava o simpósio de urbana é que não havia sessões simultâneas (às vezes um ou outra mesa de comunicações, mas não era a regra) e todos participavam ativamente do simpósio inteiro juntos assistindo e participando dos debates fazendo com que a discussão fluísse de uma mesa para outra e retomada noutro dia, e mais davam origem ao simpósio seguinte.
Na coordenação do GT Teoria Urbana Crítica – no Instituto de Estudos Avançados- IEA/USP – tenho estimulante contato com um grupo interdisciplinar que se matem através da troca de experiências de pesquisa em torno da compreensão da realidade urbana no movimento constitutivo de uma teoria critica mergulhando nas contradições que movem o mundo. Das contradições urgem as possibilidades de metamorfoses da vida, assim parte dos debates se realiza em torno do direto á cidade - direto à vida como momentos dialéticos da reprodução da acumulação capitalista hoje.
VI. O trabalho no DG-FFLCH-USP
Minha carreira, como professora, começou, na realidade, na Escola de Sociologia e Política. Um ano depois em 1982 entrei depois de minha terceira tentativa no DG-FFLCH-USP juntamente com o Tonico e neste mesmo ano dividimos uma disciplina.
O ambiente que tenho vivido há quase 4 décadas no DG só pode ser definido por uma palavra: liberdade. Liberdade de ensinar do jeito que pensava, investigar com minha escolha quanto a teoria e ao método, para criar grupos de pesquisa, organizar atividades acadêmicas, trabalhar com grupos e alunos, etc. Nunca tive tolhido meu exercício de liberdade, sem a qual acredito não há possibilidade de realização de um trabalho acadêmico. E pude desempenhar algumas tarefas que acredito serem fundamentais ao meu trabalho (não sem dificuldades, mas sem obstáculos intransponíveis). Por exemplo, a partir de uma crítica que tínhamos ao programa de pós-graduação no DG, no início dos anos 80 fizemos (à época era aluna de pós e professora) um amplo movimento de discussão e debate em torno do programa de pós-graduação em Geografia. Embasados por vários seminários sobre o tema, elaboramos análises e a partir do DGUSP, mobilizamos todos os outros programas de pós no Brasil. Com o apoio do professor Rui Coelho, (então Diretor da FFLCH), Selma Castro e eu coordenamos o primeiro encontro nacional de Pós-graduação em Geografia, a partir desta primeira realização outros 3 aconteceram (Rio Claro - UNESP - Rio de Janeiro - UFRJ - Santa Catarina - UFSC).
Outra atividade pioneira que me vi envolvida foi, com a organização do I (e do VII) Simpósio nacional de Geografia Urbana. O primeiro realizado em outubro de 1989, fato que surgiu a partir de uma mesa redonda que coordenei numa das sessões da SBPC do ano anterior tendo Silvana Pintaudi e Arlete Moysés como convidadas. Saímos da reunião da SBPC em 1988, acreditando que estava na hora de discutirmos a pesquisa em Geografia Urbana realizada no Brasil, e levamos a ideia para o Encontro de geógrafos da AGB que se realizou em Maceió, no mesmo ano. Ali no bar do hotel Arlete e eu nos reunimos com outros colegas – Roberto Lobato Correa, Maurício de Abreu, José Borzachilello da Silva, para discutimos a ideia e concluímos sobre a necessidade de fazermos um balanço sobre os últimos 50 anos de pesquisa em geografia Urbana brasileira. Ali mesmo fizemos um levantamento dos pesquisadores na área (em cada região do país) e começamos a fazer os convites. Cada um teria como tarefa estudar a produção geográfica sobre a cidade, de sua região - o que não era fácil. Deste primeiro simpósio saiu um livro bastante significativo. O importante é que ao longo destes anos o grupo vem aumentando a cada novo simpósio se somam novos pesquisadores. Mas há um grupo fundador (Roberto, Maurício, Pedro, Arlete, Silvana, Geiger, Aldo, Fanny e eu) que acabou, ao longo deste período, construindo uma sólida e profunda amizade que tem feito deste s encontros um momento de profundo debate e de reflexão.
Outra experiência é a possibilidade de ter colocado em prática uma ideia que tinha há tempos, a de fazer uma revista de pós-graduação a GEOUSP. A revista surge inicialmente com a ideia de intercâmbio e para dar visibilidade ao conhecimento produzido e que se realizam, prioritariamente, nos cursos de pós-graduação. Afinal naquele momento nosso Departamento tinha 430 alunos matriculados em seus dois cursos de pós-graduação (sendo que 283 na área de Geografia Humana), e apresentava um volume de pesquisa não negligenciável enquanto contribuição à construção do pensamento geográfico brasileiro. Hoje a revista mudou seu perfil abrindo-se para os pesquisadores de outros lugares e temáticas.
Pude ainda no DG ousar, foi assim que, em 1988 resolvi fazer um vídeo com meus alunos, a ideia era trazer para a sala de aula um conjunto de depoimentos sobre a possibilidade de se definir a geografia apoiada num conjunto de imagens sobre a metrópole de São Paulo. Era evidentemente, um trabalho amador, com muitas falhas técnicas, pois foi feito no DG com os equipamentos que dispúnhamos à época e com poucos conhecimentos técnicos sobre como faze-lo. Todavia acabou sendo um material didático usado por professores da rede estadual de ensino em São Paulo.
Na universidade se associam dois momentos importantes do papel do professor aquele em que ensina e forma pessoas, cidadãos abrindo-lhe os horizontes de um mundo rico em movimentos-transformações e aqui temos a sala de aula como o locos privilegiado do exercício da crítica, da possibilidade da manifestação da diferença, num espaço de afirmação da criatividade, motivado e alimentado pela paixão pela descoberta e de estímulo à reflexão passei quase 40 anos. Esse foi o tempo dedicado à graduação. As aulas de pós-graduação não se interrompem neste momento de “aposentadoria” (iniciada no fatídico ano de 2020) e com ele o trabalho de orientação; b) o trabalho de orientação – aquele que se abre à compreensão aprofundada do mundo sobre o qual nos debruçamos como um fragmento explicativo do mundo em suas contradições e possibilidades é a forma mais estimulante de nosso trabalho As atividades realizadas tanto com os alunos de graduação quanto de pós-graduação são momentos de reflexão e aprendizado; c) com minhas pesquisas pude construir uma compreensão sobre a realidade brasileira lida através de São Paulo e com esta compreensão preparar aulas de modo a que o conhecimento aqui produzido fosse inspirador de novas leituras. A independência de um país se apresenta na sua capacidade de produzir uma leitura original do mundo em que se vive. Uma explicação produzida em suas fronteiras. Infelizmente se dá mais importância ao que se produz no exterior e sabe-se muito mais sobre o que se produz “lá fora” do que o que se cria no Brasil.
Nessas três atividades – impossíveis de serem separadas - certamente aprendi muito, mas quero crer que trouxe uma contribuição em cada uma delas, que só os outros podem avaliar.
Quero acrescentar alguns outros momentos que considero importante, para mim. A vida no DG também se associa, para mim, ao Labur- laboratório de geografia Humana - foi um ponto também importante de reunião de pesquisadores da Geografia e de fora, reunindo alunos da graduação e da pós, mas não necessariamente composto por estudantes da geografia, pois todas as atividades estão sempre abertas a todos, sinalizando o questionamento da disciplinaridade e o espírito público da Universidade.
GESP- grupo de estudos de Geografia Urbana crítica- criado em 2001 que começou comigo e meus orientandos- reúne, hoje, diversos pesquisadores (os mesmos que eram estudantes e hoje são profissionais de muitas universidades brasileiras, da USP ou que se encontram no exterior) em torno do objetivo de desvendar os conteúdos da urbanização tendo como foco de análise os fundamentos que explicitam a desigualdade vivida concretamente no cotidiano da metrópole tendo como perspectiva a construção de uma “geografia crítica radical”. Entende-se por “crítica radical” a disciplina capaz de revelar as contradições constitutivas do processo desigual da produção contemporânea do espaço, e que, ao potencializar o “negativo” desse processo, propõe um caminho profícuo para elucidar os conteúdos não revelados da luta pelo “direito à cidade”. A proposta do GESP envolve a produção de um conhecimento sobre o urbano a cidade e o processo de urbanização como um compromisso de analisar a realidade urbana em seu movimento contraditório e enfocando os conteúdos que explicitam a desigualdade vivida concretamente, essa crítica visa a construção de um projeto de “uma outra cidade”; uma outra sociedade urbana como destino do homem; trazendo como consequência a necessidade de uma reflexão que elucide nossa época, focando a análise na reprodução sócioespacial.
Pensar o mundo através da geografia. Pensar a geografia numa perspectiva critica através da compreensão da produção do espaço. Apoia-se na hipótese segundo a qual a reprodução do espaço urbano, no mundo moderno, aprofunda a contradição entre o processo de produção social do espaço e sua apropriação privada. O grupo também produz a coleção de livros metageografia.
“Pelos corredores”: as cenas do cotidiano nos corredores e “na rampa” como falamos é muito diversa e rica. Nos cruzamos o tempo todo, debatemos, trocamos bibliografia e angustias sobre os destinos da universidade, da geografia e do pais e rimos juntos. Deste modo o cotidiano do DG, com nossas reuniões tem sido também um lugar profícuo de debates e tenho também aprendido muito - isto quando não descambam para o lado meramente burocrático, pois aí elas viram tortura. Mas nesses anos todos tenho me sentido parte de uma "comunidade" de diferentes. Nos primeiros anos, todavia, foi muito difícil, e neste momento foi de fundamental importância os logos "papos" com o Bocchicchio, a acolhida sem reservas das conversas com o professor Pasquale Petroni e sem dúvida as conversas e os conselhos do professor Carlos Augusto, com quem aprendi a fazer relatório. Frequentadora assídua da sala do professor, tive o privilégio de ouvi-lo falar sempre com entusiasmo sobre seu trabalho e de suas análises sobre geografia, literatura e arte. Mesmo aposentado, em suas votas ao DG, tenho o privilégio dos encontros com ele.
VII – Contribuições?
Isso normalmente eu deixo para os outros. Isto é, nossas contribuições devem ser medidas-avaliadas por aqueles que entram em contato com nosso trabalho e nos leem. Nenhum de nós pode fugir dessa situação de ser avaliado. Mas seguindo à risca a solicitação que me foi feita posso elencar a construção de dois movimentos de minha investigação que penso serem originais e podem induzir ao debate. Posso também me lembrar do que fiz com paixão e que penso estão aí rendendo frutos, pois fazem parte do presente. Destas destaco as ideias iniciais de construção de um encontro de pós-graduação – realizado com Selma Castro, antes da criação da ANPEGE, mas que deu origem à ANPEGE; a criação da GEOUSP, cujo trabalho inicial divido com Rita Ariza da Cruz ainda estudante que me ajudou nos 20 anos de minha coordenação assumindo quando saí da mesma; e a ideia inicial de realização de um simpósio para discutir as pesquisas em geografia Urbana, cujo esboço realizado na reunião da AGB de Aracaju, deu origem ao primeiro SIMPURB organizado na USP, em 1989. E finalmente, foi minha a ideia de criação do GEU, grupo de estudos Urbanos; bem como do GESP e do Grupo de teoria Urbana Critica do Instituto de Estudos Avançados da USP.
A estas atividades posso acrescentar um conjunto grande de livros organizados. E aqui quero fazer uma ressalva. As organizações destas obras não se reduzem a reunião de autores compondo uma obra, mas a ideia de que a produção do conhecimento e coletiva e de que a reunião e o debate de pessoas pensando o mundo de forma convergente – dando visibilidade a um pensamento residual-ou divergente a reunião critica de tendências é importante para mover o pensamento e a pesquisa- o que desfaz a ideia de organização como simples reunião.
Como exemplo, cito: a) o livro “A produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios” (publicado pela Contexto, São Paulo: 2011) organizado junto com Marcelo Lopes de Souza e Maria Encarnação B. Sposito) feito pelo GEU (aonde publiquei o capitulo: Da ”organização à produção do espaço no movimento do pensamento geográfico”); b) a partir de debates com os autores tanto da ideia do livro quanto dos textos publicados, a coleção metageografia - composta de 4 livros e um dossiê na GEOUSP- onde se estabelece uma leitura marxista-lefevriana da cidade e do urbano produto de um grupo de estudos. “Crise urbana”, volume 1 São Paulo: Contexto, 2015 (edição em inglês: “TheUrban crises”. São Paulo: Contexto, 2015, e-book) - site: www.gesp.fflch.usp.br (em inglês); “A cidade como negócio”, Editora Contexto, volume 2 São Paulo:2015 Edição em inglês - Edições FFLCH - editora eletrônica - site: www.gesp.fflch.usp.br ; “Justiça espacial e o direto à cidade”, volume3, Editora Contexto, São Paulo:2017; “ Geografia Urbana Crítica: teoria e método”, volume 4 Editora Contexto: São Paulo2018. Dossiê “Henri Lefebvre e a problemática urbana” in GEOUSP, GEOUSP Espaço e Tempo (Online), [S. l.], v. 23, n. 3, p. 453-457, 2019. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/164015; c) os 3 volumes da coleção Geografias de São Paulo produzido pelos professores do DG-USP visando apresentar a partir de suas pesquisas uma análise da metrópole de São Paulo na data de seus 450 anos de fundação (Carlos, Ana Fani A e Oliveira, A.U de (org), Geografias de São Paulo: 2 volumes Editora Contexto, São Paulo, 2004).Aqui publiquei capitulo em que apresento o movimento de passagem da hegemonia do capital industrial ao financeiro como elemento definidor de uma nova realidade urbana (São Paulo :do capital industrial ao capital financeiro, volume 2 – A metrópole do século XXI); d) dando visibilidade a pesquisa de professores do mesmo DG-FFLCH-USP entorno da ideia de “necessidade da Geografia” no mundo de hoje (“A necessidade da geografia, Editora Contexto, São Paulo, 2019).; e) há ainda livros organizados como produto de debates acadêmicos realizados a partir de convênios de investigadores, como os dois realizados com a Universidade de Barcelona, destes cito Urbanização e Mundialização: estudos sobre a metrópole, (Contexto, São Paulo,2004), aonde está meu capitulo “A reprodução da cidade como negócio”); f) Dos livros organizados como reunião de pesquisas, apresentadas em evento, cito três livros produtos dos SIMPURBs nos quais participei da organização: “Caminhos da reflexão sobre a Cidade e o urbano” (EDUSP, São Paulo, 1994), “Dilemas Urbanos” Com Amália Inês Geraiges Lemos, Contexto São Paulo, 2003; “Geografia Urbana: desafios contemporâneos” com Angelo Serpa, EDUFBA, Salvador,2018).
Ainda seria ainda importante ressaltar meu trabalho no tema do ensino da geografia. Destaco: a) participação no projeto do DG-FFLCH /Secretaria da educação de São Paulo no programa de formação e professores, coordenado pelo professor Gil Sodero de Toledo, nos anos 80 em que viajávamos pelo Estado de São Paulo ministrando cursos. Desse conteúdo ministrado produzi dois livros paradidáticos publicados pela Editora Contexto Espaço e Industria (1988) e A cidade (1992) além da coordenação de vários livros voltados ao Ensino da Geografia como “A geografia na sala de Aula”, “Novos caminhos da Geografia” e “Reformas no mundo da Educação, todos de 1999; b) coordenação de cursos versando sobre o Ensino da geografia em várias versões da “ Bienal do livro” em São Paulo a convite da Câmara Brasileira do Livro aonde pude conviver com vários colegas como Aziz Ab´Saber, Manuel Correia de Andrade, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Nidia Pontuchka, dentre outros.
7.1 Contribuições no âmbito do pensamento geográfico
As pesquisas realizadas ao longo de minha vida acadêmica visam à construção não só de uma compreensão sobre a realidade brasileira no movimento constitutivo da sociedade urbana – lida a partir de São Paulo- como a elaboração de uma teoria capaz de revelar uma “leitura do mundo” através da Geografia como disciplina. Assim cheguei à construção do conceito sobre o espaço no âmbito da Geografia a partir de minhas angustias de formanda, como apontei antes.
Faz-se, para mim necessário iniciar com um esclarecimento importante: essa construção conceitual se tece tendo por fundamento a obra de Marx e antecede minhas leituras da obra de Lefebvre e, portanto, seus conteúdos e percursos são diferentes – há, todavia divergências e encontros e o dado interessante de que estávamos eu e Lefebvre nos debruçando sobre os conteúdos da “produção do espaço” quase no mesmo momento: ele publica o livro em 1974, minha dissertação em 1978 e eu entro em contato com a obra de Henri Lefebvre somente em 1986, no curso do professor José de Souza Martins. Foram longas horas e inúmeros dias na biblioteca das Ciências sociais da USP nos anos de 1975-1977 quando elaborava minha Dissertação de mestrado “reflexões sobre o espaço geográfico” defendida em 1979 que me debrucei sobre uma bibliografia completamente nova e difícil sobre a formulação “do conceito de espaço”: da filosofia até Einstein o caminho foi tortuoso e sofrido. O ponto de partida, todavia foi à leitura dos chamados clássicos da geografia francesa de minha formação uspiana. O debate sobre o espaço atravessa a Geografia e é chocante ainda ouvir colegas afirmarem que o debate sobre a produção do espaço foi introduzida por Henri Lefebvre, à Geografia e não construída no desenvolvimento do próprio pensamento geográfico, como desdobramento necessário. Talvez o mergulho no conceito – mais restrito- de território tenha impedido essa compreensão.
O conceito de produção do espaço se desdobra, em minha formulação da relação homem-natureza como ato civilizatório, superando a compreensão de uma Geografia centrada na localização e distribuição das atividades e dos homens no espaço ou no território em direção à análise da produção deste espaço como produto social e histórico. Corresponde a uma prática socioespacial real que se revela produtora dos lugares, e que encerra em sua natureza um conteúdo social dado pelas relações sociais que se realizam em espaços-tempos determinados. Na escala do lugar, ilumina a existência de uma vida cotidiana na qual se manifesta a vida. Assim, o pressuposto: as relações sociais têm uma existência real enquanto existência espacial concreta que trazem como consequência sua produção: produzem, efetivamente, um espaço, aí se inscrevendo e se realizando.
Desse modo, a elaboração do conceito tem uma dimensão abstrata, mas indissociavelmente vinculada à práxis humana que se define como socioespacial. Nesta perspectiva, o espaço produz-se e reproduz-se como materialidade indissociável da realização da vida, elemento constitutivo da identidade social, como processo civilizatório. A formulação do conceito tem como conteúdo a tríade aonde a produção do espaço como movimento do mundo é a condição, meio e produto da reprodução da sociedade ao longo da história.
A tríade se constrói no movimento do método que dá centralidade a noção de produção social do espaço como desdobramento da relação sujeito-objeto. A produção do espaço, enquanto condição/meio e produto da sociedade aponta novos conteúdos ao abrir o pensamento a totalidade social. A tríade revela a reprodução social bem como a espacialidade das relações sociais. Parece muito claro ao longo da produção do conhecimento geográfico, a ideia de que não existe sociedade a-espacial (Milton Santos, 1979, Di Méo,2000, Carlos, 2011) todavia a Geografia parece ainda não ter superado a condição da materialidade absoluta do espaço, impedindo a consideração da teoria social.
Considerando que a produção do espaço traz como consequência sua reprodução, deparamo-nos com a necessidade de pensar o movimento da história que a explicite e, nesse sentido, a noção de reprodução se desdobra daquela de produção decorrente da necessidade de compreensão do movimento constante da realização da sociedade (o que não significa só linearidade, mas fundamentalmente, simultaneidade; relação dialética entre o tempo cíclico e o tempo linear; entre continuidade e descontinuidade; entre ruptura e crise; centralidade/periferia; concentração/dispersão; obrigando-nos a pensar os termos da reprodução da sociedade hoje (sob a égide da reprodução capitalista) em suas possibilidades e limites definidos. Neste conteúdo, sujeito e objeto vão se revelando. O espaço como condição envolve e supera a ideia de materialidade. Certamente as atividades humanas se distribuem no espaço, mas há relações sociais ao mesmo tempo a atividade envolve um conjunto de ações e uma dialética espaço-tempo. O espaço como condição da produção social aponta para a dimensão material. Isto é o espaço como materialidade envolvendo necessidades/ representações/desejos; relações de classe e poder que percorrem todo o processo.
Materialidade envolve o movimento da história – o trabalho morto acumulado pelo processo de transformação constante da natureza em espaço humano da reprodução deste espaço ao longo do processo histórico – trabalho acumulado da sociedade produtora do espaço contempla acúmulos construídos pelos tempos passados do trabalho e da ação prática dos homens restituídos/presentificados/atualizados como infraestrutura que são também produtos do conhecimento e das representações de mundo.
Mas essa dinâmica espacial realiza-se numa estrutura, tem uma forma; adquire funções individualizadas dependendo do tempo. Portanto essa dimensão material contempla planos e níveis que se relativizam, isto é, não é um mero espaço construído. Há simultaneidade/dialética na produção e reprodução; mas há também uma escala a ser pensada em articulação de escalas espaço-temporais. Reunidas todas as qualidades aparecem como diferenciação/desigualdade dos lugares e entre esses mesmos lugares no tempo marcando diferenças nas escalas espaço-temporais. Envolvem uma totalidade que foge do material para incorporar o universo dos sujeitos produtores em sua relação com esta materialidade. Como condição o espaço adquiri também a forma e função de capital fixo para a reprodução da acumulação.
b) como meio o espaço é mediação na ação que produz a vida que revela a sociedade em ato. É a atividade como conhecimento/técnica/divisão social. A relação com a natureza não é direta requer mediações – trabalho, conhecimento, técnica, divisão, representação, etc. Envolve pensar o sentido estrito e lato do termo produção bem como aquela de produto como obra. Por outro lado, as relações comportam escalas – no e do espaço e no e do tempo. A Produção da cidade ilumina/esclarece representações da sociedade sobre o mundo que por sua vez tem um sentido politico, quer dizer relações com interesse de classe.
c) como produto - A cidade como forma do trabalho humano, momento indissociável da produção do espaço significa, o que sintetiza o produto das relações sociais e suas determinações históricas. Como terceiro termo da tríade revelar-se-ia o mundo e a realidade social em suas contradições, limites e possibilidades. As contradições que surgem dessa produção se revelam no produto: segregação socioespacial; privação; lutas e projeto – todos situando-se na práxis. O livro “A condição espacial” (Editora Contexto, São Paulo: 2011) sintetiza essa construção (outras publicações: anafani.com.br).
Esse conceito de espaço como produção social tem também norteado minhas reflexões sobre o turismo no movimento da realidade que produz o espaço como mercadoria a partir da venda de uma particularidade natural, cultural ou construída artificialmente. Cito, aqui, dois capítulos de livro daqueles que mais gostei de escrever: a) O turismo e a produção do não-lugar” in Turismo: espaço, paisagem e cultura que organizo junto com os professores Eduardo Yázigi e Rita de Cássia Ariza da Cruz (HUCITEC, São Paulo, 1996) e “Turismo e patrimônio: um aporte geográfico” In Geografia, Turismo e Patrimônio Cultural: identidades e ideologias (Anablume, São Paulo, 2017 a convite da professora Maria Tereza Duarte Paes.
7.1.2 A metageografia (ou “geografia marxista-lefevriana” como definiu Maurício de Abreu)
Como consequência deste caminho de produção sobre uma teoria do “espaço da geografia” (sintetizado no capítulo “ Uma geografia do espaço” no livro A necessidade da geografia, Contexto, São Paulo: 2019) e do debate com os autores da geografia construí o que venho chamando de “metageografia” que se revela como um momento de exigência do pensamento crítico a partir da crítica à produção do conhecimento da Geografia baseada na necessidade de construção de uma nova inteligibilidade do mundo iluminando as contradições vividas pela sociedade que aparecem na vida cotidiana como privação dando centralidade ao conceito de “produção do espaço”, uma vez que é no espaço que se pode ler as possibilidades concretas de realização da sociedade, bem como suas contradições que aparecem nas lutas no espaço, pelo espaço.
A construção de um pensamento crítico sobre a produção do espaço no mundo moderno revela o aprofundamento das contradições decorrentes da reprodução da sociedade, num momento de generalização da urbanização, da passagem da hegemonia do capital industrial ao capital financeiro e de uma sociedade eminentemente urbana.
O método dialético, como caminho do pensamento que compreende o mundo, ilumina o laço entre teoria-prática em suas contradições, deslocando a análise do plano da epistemologia para o da prática, com redefinição dos conteúdos de alguns conceitos objetivando desvendar o “campo cego” sob o qual se realiza a investigação urbana. Neste sentido, a metageografia, propõe: a) uma nova inteligibilidade que fornece um ponto de partida para a reflexão, o movimento contraditório da realidade que funda a dialética do mundo. Esse delineamento busca, como horizonte de pesquisa e como percurso teórico-metodológico, elucidar os fundamentos do movimento que explica a realidade atual, que se realiza, também, como movimento do pensamento crítico; b) um caminho capaz de realizar o movimento, no plano do pensamento geográfico, que vai da "organização do espaço" à análise de sua "produção social". Essa orientação traz exigências teóricas que redirecionam a pesquisa, focando um mundo construído socialmente – isto é o espaço como produção história e social através da realização da criação do humano; c) a análise das contradições que eclodem sob a forma de lutas no espaço e pelo espaço, com aumento de tensões de todos os tipos que escancaram uma vida cotidiana em sua privação, controlada e vigiada. A compreensão da práxis encontra aí os resíduos capazes de ganhar potencialidade e se transformar num projeto de metamorfose da realidade; d) a consideração dos resíduos presentes nas ações cotidianas com potencialidade para superar as condições de privação. No plano do conhecimento propõe-se a superação da sua produção ideológica que permite a reprodução do sistema e de suas especializações. Como exigência teórica , a metageografia se propõe superar: a) a redução da problemática urbana àquela da gestão pública da cidade e a insuficiencia da crítica da proposta da “gestão democrática” ao empreendedorismo urbano (“La utopía de la Gestión Democrática de la Ciudad. Scripta Nova (Barcelona), Barcelona, v. 9, n.194, 2005 ou “A ilusão da transparência do espaço e a fé cega no planejamento in Revista Cidades vol 6.10, Presidente Prudente 2004) ;
b) a compreensão da cidade enquanto quadro físico, ambiente construido criando políticas públicas que reproduzem as condições de privação do humano; c) a interpretação da cidade enquanto sujeito de ação que domina a investigação urbana- (“Seriam as ciudades rebeldes in Geografia Urbana: 30 anos de SIMPURB, Editora Consequência,RJ,2020) ; d) a existência de uma renda da terra urbana (A condição Espacial, op cit) e) o obscurecimento da propriedade e ausência de critica à “ função social da propriedade” ( A privação do urbano e o direto à cidade em Henri Lefebvre, in Justiça Espacial e o direito à cidade, op cit); f) o entendimento da cidade reduzida a uma escala de tamanho; g) a segregação tratada como apartamentos/separações des grupos sociais no espaço da cidade (“Geografia crítica radical e a teoria urbana” in Geografia Urbana Crítica, op cit) ; h) a violência urbana tratada como criminalidade (“Epacaio urbano y violência” in Violencia y desigualdad Neuva Sociedade, ADLAF, Buenos Aires, 2017); i) o turismo que encobre o consumo dos lugares na cidade em função de uma determinação histórica esvaziada (acima citado); j) o direto à cidade tornado política pública e a perda do horizonte utópico (“Em nome da cidade (e da propriedade in anais geocritica, ww.edu.geocrit, xivanafani).
Nos dias de hoje, o sentido da crítica e do pensamento crítico se associa a uma crise prática real, produto das metamorfoses do mundo moderno, em que a lógica do crescimento – sob várias representações, como aquela do progresso (que funda a ideia de qualidade de vida) - produziu o aumento da riqueza gerada em lugares e classes concentradas no espaço e na sociedade. No caminho aqui proposto, a análise geográfica do mundo seria aquela que caminharia na direção do desvendamento dos processos constitutivos da reprodução da sociedade em sua dimensão espacial aonde as contradições exigem outras respostas de superação que a exigência as políticas públicas não responderiam. A superação das condições que imobilizam a realização do humano se realizaria pela construção de um “direto ao espaço” em confronto com o projeto do Estado e das políticas e projetos que o sustentam – sob diversas formas - revelando a dominação do Estado e de sua lógica sobre a sociedade; c) pensar o caminho para a transformação radical da sociedade sinaliza a construção de uma crítica radical do existente como de, através do ato de conhecer, desvendar os significados mais profundos das condições que impedem este mundo de se efetivar enquanto lugar da realização plena da humanidade.
Penso que esse caminho da produção de uma teoria sobre o espaço e a análise metageografia se encontra esclarecida no livro, “Espaço-tempo da vida cotidiana na metrópole”, menção honrosa Jaboti, editado em sua primeira versão pela Editora Contexto, São Paulo, 2001 e em versão corrigida, online, de 2018 http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/388
O mundo se move e nós nos transformamos todos os dias, e assim, como assinala Arteau, tudo que ainda não nasceu pode vir a nascer, desde que não nos contentemos em ser simples órgãos de registro. (Antonin Arteau, “O teatro e seu duplo”, São Paulo Martins Fontes, 2006). A compreensão radical e necessária do mundo é uma forma de luta, portanto um posicionamento político.
Notas
1 - Marcel Proust, À sombra das raparigas em flor, tradução Mario Quintana, Rio de Janeiro, Editora Globo, 1987, página 12
2 - Dostoiewsky, Notas do Subsolo, página 40
-
 ALDO PAVIANI
ALDO PAVIANI AUTOBIOGRAFIA DE ALDO PAVIANI
1 – PRIMÓRDIOS. Estou com 86 anos. Nasci na cidade de Erechim (RS),Alto Uruguai, no dia 10 de janeiro de 1934, sendo meus pais Adélia Villetti Paviani e Narciso Paviani, são originários de Nova Pádua (RS) e migraram para as “terras novas” do Alto Uruguai, embora meu pai não quisesse trabalhar na lavoura, estabelecendo-se em Paim Filho, já com um filho pequeno, meu irmão Mansueto Paviani. A família migrou por diversas cidades do norte do Rio Grande do Sul, até se estabelecer em Erechim, onde nasci.
Cresci, sempre com a vontade de estudar e frequentei grupo escolar até concluir o primário (como então se denominava o “fundamental”). Também conclui o ginásio em Erechim, tendo estudado com Lassalistas em Canoas (RS) e com Maristas, em Erechim.
Ao concluir o ginásio, em 1952, passei a trabalhar na Livraria do Sr. Estavam Carraro, com Carteira do Trabalho assinada em 2 de janeiro de 1952. Fui logo incumbido de trabalho na redação do diário “A Voz da Serra”. O trabalho não atrapalhou os estudos no Curso de Contabilidade dos Maristas, pelo contrário, foi facilitado pelo Sr. Carraro, pois me incumbia de tarefas de auxiliar de contabilidade de sua empresa composta de jornal, livraria e tipografia. Ao mesmo tempo, com colegas do curso e amigos iniciamos o curso de pilotagem no Aeroclube de Erechim. Todos visavam ser pilotos para obter o brevê, que equivalia a se tornar reservista da Aeronáutica. Ao mesmo tempo com o brevê os amigos de pilotagem desejavam ser pilotos da Varig (a grande empresa aeronáutica da época). Consegui fazer voos solo e com horas de voo suficiente para concorrer aos exames do Departamento de Aeronáutica Civil (DAC). também todos evitariam a incorporação pelo Exército Brasileiro. Essa incorporação, acabou se dando por falha nas pequenas aeronaves (teco-teco) e quase todos fomos incorporados ao Exército (GACAV/75), em Alegrete/RS, no início de 1953. Após me matricular em colégio noturno na cidade, o comandante, determinou que eu cancelasse a matrícula, o que realizei de pronto. O vice comandante, sabendo do ocorrido, providenciou minha baixa, em 12 de maio de 1953. Por isso, possuo um Certificado de Isenção do Serviço Militar. Isso facilitou meu retorno a Erechim, onde conclui o curso de nível secundário.
2 – NO RUMO A PORTO ALEGRE. Em meados de 1950, resolvi cursar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Pontifícia Universidade Católica (PUC), em Porto Alegre. O primeiro ano do Curso de Geografia e História, à época, era permitido realizou o primeiro ano à distância. Mas, no segundo ano, solicitei demissão da empresa Carraro, em 31 de março de 1956. De imediato, me mudei para Porto Alegre e cursei o Bacharelado em Geografia e História, em 1957 e a Licenciatura em 1958. Ao mesmo tempo, realizei um curso de Secretário de Colégio, o que me valeu um contrato na Ginásio Noturno, recém criado em Canoas.
Todo dia me deslocava para a cidade vizinha de Porto Alegre, privado de jantar. Permaneci poucos meses nesse incomodo ir e vir. Em 7 de abril de1959, fui contratado pelo SENAC , onde permaneci até 12 de setembro de 1959. Ainda em 1959, fui contratado para a Secretaria da Fazenda/Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul e fui lotado, por ser contabilista, na Contadoria Geral do Estado. O contador geral, Dr. Holly Ravanello, vendo meu potencial, recomendou que eu realizasse o curso de Economia/Contadoria, na Universidade Federal do R. G. do Sul. Prestei vestibular e cursei o primeiro ano. Todavia, desejando ser professor, solicitei demissão em 1960 e me mudei para Santa Maria.
3 – NO MAGISTÉRIO EM SANTA MARIA. Destaco que, em Santa Maria, conheci a Professora Doutora Therezinha Isaia, com quem tive a satisfação de contrair matrimônio em 5 de julho de 1962.
Uma vez casado, procurei trabalhar na Rede Estadual de Ensino, pois havia poucos candidatos com curso superior. Em 1961 fui contratado pela Secretaria da Educação para lecionar Geografia no Ginásio Caetano Pagliuca e, também para o Colégio Estadual Manuel Ribas. Ao mesmo tempo, com outros colegas, fundei, com os Colegas Professores Ivo Müller Filho, Renata Drewes e Sérgio Bernardes, o Curso de Geografia na Faculdade Imaculada Conceição (FIC) agregada a Universidade Federal de Santa Maria. Este foi um passo decisivo para que o Reitor Professor Doutor José Mariano da Rocha Filho, criasse o Curso de Geografia da USM no ano de 1964. Meu contrato foi de Auxiliar de Ensino, a partir de 01 de junho de 1964.
Abro parênteses para informar ter ganho bolsa de estudos para um estágio pós-graduado em Portugal, em 1967. Viajamos, Therezinha Isaia Paviani e eu em 10 de janeiro de 1967 e retornando ao Brasil em 1968. O estágio se deu Centro de Estudos Geográficos (CEG) da Universidade de Lisboa, sendo orientado pelo Professor Doutor Orlando Ribeiro e pelo Professor Doutor Ilídio do Amaral. Foi sugerido que realizasse pesquisa de campo, tal como estava disposto em meu Plano de Trabalho (vencedor do concurso para obter a bolsa de estudos do Ministério das Relações Exteriores de Portugal.
Do trabalho de campo no CEG resultou o trabalho Alenquer: Aspectos geográficos de uma vila portuguesa, publicado na prestigiada Revista Finisterra 3 (5): 32-78, 1968.
Fiquei nesse posto até 28 de setembro de 1970, pois em 1968, comparecendo ao um Congresso de Botânica, fomos convidados, minha esposa e eu, para trabalhar na Universidade de Brasília (UnB), na qualidade de Professores Requisitados.
4 – MUDANÇA PARA BRASÍLIA. A requisição à Universidade de Santa Maria se deu a partir de 1969, com contrato de Professor Assistente, contratado em 1o. de julho de 1969, permanecendo ainda por tempo lotado na USM, por efeito da requisição. O regime de requisição teve se tornou inviável por reter vaga na USM e tive que optar – ou retornava à origem em Santa Maria e permaneceria na UnB. Optei pela UnB, sendo contrato e lotado no Instituto Central de Geociências, juntamente com o curso de Geologia. Neste Instituto, fundamos o Curso de Geografia com os professores Getúlio Vargas Barbosa, Ignez da Costa Barbosa Ferreira e Azize Drumond. Mas, por necessidade de dar cobertura no ensino dos Estudos dos Problemas Brasileiros (EPB), o reitor da UnB transferiu a Geografia para o Instituto de Ciências Humanas, com a criação do Departamento de Geografia, História e Filosofia, em 1973.
Além de ter sido Diretor do Centro de Estudos Avançados (CEAM) da UnB e do Instituto de Ciências Humanas, nos anos 1990, participo do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais do CEAM, do qual fui coordenador e do Núcleo do Futuro também do CEAM.
5 – PÓS DOUTORADO EM AUSTIN/TEXAS. Em 1983, fiz pós-doutorado no Instituto de Estudos da América Latina (ILAS), em Austin, Texas, onde permanecei por quatro meses. E de cujos estudos escrevi uma súmula da bibliografia e contatos realizados: “Urbanização n América Latina: questões gerais”, inserida na obra Brasília: metrópole em crise. Ensaios sobre urbanização. Brasília: Editora UnB, 1989 e 2010.
6 – BRASILIANISTA: Ao retornar de Austin/Texas, fiquei convencido de que o melhor brasilianista é o brasileiro que se dispõe a publicar obras sobre nosso processo de urbanização. Para isso, convidei alguns colegas e durante um ano, a partir de 1984, debatemos possíveis contribuições a uma primeira coletânea sobre Brasília. Como resultado desse trabalho, em 1985,a Editora da Universidade de Brasília (Editora UnB), publicou a obra Brasília, Ideologia e Realidade – espaço urbano em questão, contendo dez trabalhos e o prefácio de Milton Santos (a meu convite).
7 – COLEÇÃO BRASÍLIA: Fruto da expertise, em 1988 convidei colegas para compor outra obra coletiva sobre Brasília e publicada pela Editora UnB e apoio da Codeplan, em 1987, sob o título Urbanização e Metropolização – a gestão dos conflitos em Brasília, com 251 páginas e 14 autores, docentes da UnB e técnicos de outras instituições da capital.
8 – OUTRA OBRA: Ainda como resultado do pós doutorado nos Estados Unidos, reunir diversos artigos meus, inclusive o que servira de relatório desse evento, e publiquei, pela Editora UnB, a obra Brasília: a metrópole em crise – ensaios sobre urbanização com oito trabalhos e o prefácio de Cristovam Buarque, então reitor da UnB.
9 – CONTINUIDADE: Em resumo, as obras listas em 6, 7 e 8 fazem parte da COLEÇÃO BRASÍLIA, que organizei para a Editora UnB. Dessa Coleção, ainda fazem parte, as obras abaixo que fui o organizador:
a) Em 1991. A conquista da cidade: Movimentos populares em Brasília, obra com nove trabalhos e 266 p.;
b) Em 1999. Brasília – gestão urbana: conflitos e cidadania, contém onze trabalhos e 294 p.;
c) Em 2003. Brasília: controvérsias ambientais, com doze trabalhos e 316 p.;
d) Em 2005. Brasília: Dimensões da violência urbana, com doze trabalhos e 379 p. – Obra em coorganização de Paviani, A. Ferreira, I. C. B, Barreto, F. F. P.
e) Em 2010. Brasília 50 anos: da capital a metrópole, com quinze autores e 490 p. A coorganização é composta por Paviani, A. Barreto, F. F. P., Ferreira, I. C. B., Cidade, L. C. F., Jatobá, S. U.;
f) Em 2013. Planejamento & Urbanismo na atualidade brasileira: objeto teoria prática. Obra com quatorze autores e 480 p. Coorganização de Gonzales, S., Francisconi, J. G, Paviani, A.
g) Em 2019. Território e sociedade: as múltiplas faces da Brasília metropolitana. Contém dezoito trabalhos e 336 p. Coorganizada por Vasconcelos, A. M. N., Moura, L. B. A., Jatobá, S. U. S., Cruz, R. C. de S., Mathieu, M. R. de A., Paviani, A.
TRABALHO NO CEAM: Desde 1986, quando com outros colegas fundamos o Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais/NEUR, abrigado no Centro de Estudos Avançados Muldisciplinares/CEAM/UnB, se trabalhou em dois tópicos: debater as questões urbanas/metropolitanas de Brasília e do Brasil – inclusive com conferencistas convidados e debater com os pesquisadores do Núcleo e/ou convidados externos, tópicos que ensejassem obra coletivas no interior da COLEÇÃO BRASÍLIA. É bom que se diga que o NEUR se constituiu em um dos cinco Núcleos Temáticos que se uniram para formar o CEAM. Nos anos subsequente, outros Núcleos foram se organizando com o que o CEAM conta com mais de 30 componentes, se ocupam com as mais as mais atualizadas temáticas que são objetos de pesquisas inter e multidisciplinares.
CONCURSOS EM UNIVERSIDADES:
1 - Ingressando no corpo docente da Universidade de Santa Maria (USM), no início dos anos 1960, quando colaborou na organização do Departamento de Geografia, teve oportunidade de ingressar no corpo docente permanente, na posição de Professor Assistente, por meio de concurso de títulos e provas, nos dias 24 e 25 de agosto de 1970, sendo aprovado com a média de 9,75.
2 - Em setembro de 1973, se apresentou ao concurso de Professor Adjunto da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), sendo aprovado com a média de 8,2.
3 – Entre 19 e 22 de setembro de 1977, habilitou-se à Livre Docência na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com a elaboração de provas e apresentação de Currículo Acadêmico. Nas provas foi aprovado com a média de 8,85 e a Defesa de Tese, intitulada Mobilidade Intra-Urbana e Organização Espacial: o Caso de Brasília, foi aprovada com a nota 10,0.
4 – Ao ingressar na Universidade de Brasília, em 1o. de julho de 1969, assinou contrato como Colaborador de Ensino – Assistente. Nos anos subsequentes, foi promovido até chegar ao momento de se apresentar à posto de Professor Titular, o que se deu em fevereiro de 1990, com a defesa de prova de títulos e defesa de currículo. Nesse concurso recebeu a nota máxima (10,0).
EXPERIÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA
Chefia do Departamento de Geografia da UFSM/RS
Coordenador do Núcleo de Geografia/IH/UnB
Coordenador do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais/CEAM/UnB
Membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE/UnB
Diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares/CEAM/UnB
Diretor do Instituto de Ciências Humanas da UnB
LIVROS EDITADOS (Organizador/Editor)
PAVIANI, Aldo e PINTO, Vânia. Bibliografia de Alguns Periódicos Brasileiros por Assunto Geográfico. Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, 1969.
PAVIANI, Aldo (Org.). Organização Regional no Brasil. Brasília, Editora Universidade de Brasília, s/d.
PAVIANI, Aldo (Org.). Brasília, Ideologia e Realidade. Espaço Urbano em Questão. São Paulo, Projeto Ed., 1985 e 2010..
PAVIANI, Aldo (Org.). Urbanização e Metropolização. A Gestão dos Conflitos em Brasília. Brasília, Editora Universidade de Brasília/CODEPLAN, 1987.
PAVIANI, Aldo (Org.). Textos de Pesquisas do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1988.
PAVIANI, Aldo. Brasília: A Metrópole em Crise. Ensaios sobre Urbanização. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1989 e 2010.
PAVIANI, Aldo (Org.). A Questão Epistemológica da Pesquisa Urbana e Regional. Cadernos do CEAM/NEUR, Brasília, 2 (1), 1993.
PAVIANI, Aldo (Org.). A Conquista da Cidade: Movimentos Populares em Brasília. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1991 e 2010.
PAVIANI, A. e PEDONE, Luiz (orgs). Guerra e Paz no Golfo Pérsico - Avaliações. Brasília, CEAM-UnB, 1992.
PAVIANI, Aldo (Org.) Brasília: Moradia e Exclusão. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1996.
PAVIANI, Aldo (Org.) Brasília - Gestão Urbana: Conflitos e Cidadania. Brasília, Editora UnB, 1999.
PAVIANI, Aldo e GOUVÊA, Luiz Alberto Campos. Brasília: Controvérsias Ambientais. Brasília. Ed. UnB, 2003.
PAVIANI, Aldo, FERREIRA, Ignez Costa Barbosa e BARRETO, Frederico Flósculo Pinheiro (orgs.) Brasília: Dimensões da Violência Urbana. Brasília, Editora UnB, 2005 e 2015.
PAVIANI, Aldo et. al. Brasília 50 anos: da capital a metrópole.
Brasília, Editora UnB, 2010.
GONZALES, Suely F. N; FRANCISCONI, Jorge Guilherme, PAVIANI, Aldo. Planejamento & Urbanismo na atualidade brasileira: objeto, teoria e prática. São Paulo: Rio de Janeiro: Livre Expressão, 2013.
VASCONCELOS, A. M. N. et al. (Orgs) Território e Sociedade: As múltiplas faces da Brasília Metropolitana. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2019.
Organizador com Sérgio Jatobá de Brasília 60 anos: desigualdade socioespacial em questão (no prelo). Autor de Brasília de todos nós: A Capital Federal aos 60 anos (no prelo). Autor de A Brasília que Queremos: os antecedentes e o futuro da Capital (no prelo).
TRABALHOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS E OBRAS COLETIVAS.
73 ARTIGOS (Não incluso as centenas de artigos publicados na imprensa escrita de Brasília)..
TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E REUNIÕES CIENTÍFICAS
99 TRABALHOS
ORGANIZADOR DE EVENTOS E COORDENADOR DE SEMINÁRIOS E SEMANAS DE GEOGRAFIA.
14 EVENTOS
MEMBRO DE BANCAS EXAMINADORAS
25 PARTICIPAÇÕES
MEMBRO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS, DE APOIO À PESQUISA E À EDUCAÇÃO
30 INSTITUIÇÕES
HOMENAGENS RECEBIDAS
01. Homenagem especial dos formandos do Curso de Geografia do Centro de Estudos Básicos da Universidade Federal de Santa Maria - RS., 1970.
02. Patrono dos formandos em Geografia do 1º semestre de 1976, da Universidade de Brasília.
03. Patrono dos formandos em Geografia do 2º semestre de 1977, da Universidade de Brasília.
04. Patrono dos formandos em Geografia do 1º semestre de 1979, da Universidade de Brasília.
05. Patrono dos formandos do Curso de Estudos Sociais do 2º semestre de 1979, da Universidade de Brasília.
06. Patrono dos formandos do Curso de Geografia do 2º semestre de 1980, da Universidade de Brasília.
07. Patrono dos formandos de Geografia do 1º semestre de 1981, da Universidade de Brasília.
08. Patrono dos formandos do Curso de Geografia do 1º semestre de 1986, da Universidade de Brasília.
09. Homenageado pelos formandos do Curso de Geografia do 2º semestre de 1986, da Universidade de Brasília.
10. Homenageado pelos formandos do 1º semestre de 1987, do Curso de Geografia da Universidade de Brasília.
11. Patrono dos formandos do Curso de Geografia do 2º semestre de 1989, da Universidade de Brasília.
12. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, do 2º semestre de 1995, da Universidade de Brasília.
13. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, do 1º semestre de 1996, da Universidade de Brasília.
14. Paraninfo dos formandos do Curso de Geografia, do 2º semestre de 1997, da Universidade de Brasília.
15. “Cidadão Honorário de Brasília”, Título concedido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 08 de novembro de 1999.
16. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, 1º semestre de 2000, da Universidade de Brasília.
17. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, 1º semestre de 2001, da Universidade de Brasília.
18. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, 2º semestre de 2002, da Universidade de Brasília.
19. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, 1º semestre de 2003, da Universidade de Brasília.
20. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, 2º semestre de 2003, da Universidade de Brasília.
21. Professor Emérito da Universidade de Brasília, em 28 de maio de 2004.
Brasília, 4 de janeiro de 2021
ALDO PAVIANI
 WAGNER COSTA RIBEIRO WAGNER COSTA RIBEIRO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Neste texto estão descritos momentos que vivi como geógrafo, professor e pesquisador ao longo de minha trajetória, ainda em construção. Esse exercício, de certo modo, não foi uma novidade, posto que a Universidade de São Paulo (USP), onde ingressei em 1989 como docente, exige a elaboração de memoriais para avançar na carreira. Portanto, a base do que segue foi retirada do Memorial apresentado para a obtenção do título de Livre Docente no Departamento de Geografia (DG) da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, de 2004, e do Memorial apresentado para o concurso de professor Titular, de 2010. O esforço maior decorreu da atualização de informações, bem como da seleção do que apresentar. Inicio com minha formação, desde os primeiros bancos escolares, até os dois pós-doutorados que concluí. Ressalto que sempre frequentei a escola pública e que há mais de 30 anos sou professor de uma Universidade pública. Também ressalto que parte de minha qualificação como geógrafo e pesquisador decorreu de bolsas de agências de fomento, como a de Iniciação Científica, obtida junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), e a de mestrado, junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Como já era docente da USP, não tive financiamento para o doutorado, mas meus dois pós-doutorados foram apoiados pela FAPESP e pela CAPES. Além disso, desde a década de 2000 sou bolsista Produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Essas agências foram fundamentais, para mim, mas também para o desenvolvimento de muitos estudantes que trabalharam comigo. Estar no DG na década de 1980 como aluno também foi outro momento central em minha formação. Tive a oportunidade de conviver com grandes mestres, que mostraram mais que uma Geografia crítica. Eles indicaram caminhos éticos e de luta política, reforçados após meu ingresso como docente. Recordo dessas trocas em diversas funções, como a que desenvolvi no DG, na coordenação do Doutorado Interinstitucional entre a USP e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), associado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) e à Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Com participação de 21 docentes do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana do DG, teve como objetivo ampliar a formação de doutores na Amazônia. Financiado pela CAPES, até a conclusão deste texto ainda estava em andamento. Atuar na FFLCH sempre foi estimulante porque presenciei discussões intensas, seja na Congregação, seja em seminários e bancas examinadoras, fundamentadas na melhor tradição do pensamento crítico. Espero que também possa ter contribuído para essas contendas. Minha atuação no DG foi extrapolada para outras unidades da USP. Ela começou a convite do professor Shozo Motoyama, professor Titular do Departamento de História da FFLCH, para um projeto no Centro Interunidade de História da Ciência, que ele coordenava. Mais tarde, tive oportunidade de aprofundar o debate interdisciplinar tanto no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM), que dirigi entre 2006 e 2008, quanto no Instituto de Estudos Avançados (IEA), quando participei, e depois coordenei, entre 2008 e 2012, o grupo de pesquisa de Ciências Ambientais. Outro desafio na construção deste documento era apontar elementos diferentes dos expostos em entrevista concedida a dois pesquisadores mexicanos (HATCH KURI; TALLEDOS SANCHEZ, 2020). Por isso, decidi contar uma história sobre minha vida. Essa escolha certamente tem relação com o momento em que este texto foi gerado, em plena pandemia causada pelo SARS-CoV-2, que gerou muitas perdas de vidas, em especial no Brasil, onde faltou determinação e coordenação no combate à COVID-19, como foi explicitado por vários colaboradores no livro que organizei (RIBEIRO, 2020). Além desta introdução, o texto tem mais sete partes. Na primeira, combino minha escolarização aos lugares onde vivi em São Paulo, do ensino fundamental à pós-graduação. Comento ainda os dois pós-doutorados realizados em Barcelona. Em seguida, abordo os trabalhos mais destacados, sem basear-me em levantamentos bibliométricos, mas usando minha intuição, construída a partir de conversas com muitos interlocutores ao longo de mais de três décadas de trajetória profissional como pesquisador e docente de ensino superior. A cooperação internacional é o próximo item, posto que gerou oportunidades para aprimorar temas de pesquisa e metodologias de análise, mas também muitos diálogos. Depois, comento participações em eventos não acadêmicos que influenciaram minha produção acadêmica. Após, apresento distinções que obtive, a maior parte por meio do reconhecimento de minhas alunas. Encerro com um balanço, antes de listar as referências. I. A FORMAÇÃO Mergulhar em minha existência anterior ao ingresso no curso de Geografia do DG tem como objetivo dar pistas de quem sou e de onde vim. De imediato aviso ao leitor: sou paulistano e migrei por alguns bairros da maior megacidade do Brasil. Meus pais, nascidos em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba paulista, casaram-se em 1961. Eu nasci em novembro de 1962 no Hospital do Servidor Público, localizado na Zona Sul do município de São Paulo, graças à condição de técnico agropecuário na Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de São Paulo de meu pai. Minha mãe desempenhava, com muito afinco, as funções de dona de casa, como era frequente entre as mulheres de sua geração. Depois do Servidor minha parada foi a rua Traipú, em Perdizes (Zona Oeste), onde vivi até os nove anos de idade. Na esquina de casa ficava o Cine Esmeralda. Era uma tranquilidade assistir aos filmes, comer pipoca e retornar para casa a pé. Pena que o cinema acabou. Virou uma loja de sapatos, depois de tecidos, e minha diversão foi-se. A casa onde morava foi demolida, e um edifício foi construído em seu terreno. Tudo era feito a pé, incluindo supermercado. Minhas primeiras responsabilidades foram delegadas na época e consistiam em ir à padaria ou à quitanda comprar algo que havia faltado para o almoço. Com frequência, eu, minha irmã Katya (hoje psicóloga clínica) e meus pais caminhávamos até a Praça Marechal Deodoro para tomar sorvete de massa. O Parque da Água Branca também era sempre visitado. Vi muitas vezes a avenida Pacaembu alagada devido às chuvas fortes. Eu e meus amigos ficávamos na rua Cândido Espinheira espiando o imenso rio que se formava criando um obstáculo que poucos enfrentavam, fosse motorizado ou a pé. Essa situação só deixou de ocorrer no final dos anos 1990, com a construção de reservatórios para água pluvial. Joguei muita bola contra os meninos que moravam nas ruas Capitão Messias e Cândido Espinheira. O “campo” variava entre as ruas Traipú e a Capitão, mas a maior parte das disputas ocorria na rua em que morava. Claro que minha preferência já era pelo São Paulo Futebol Clube. Vestia, com orgulho, a camisa 10 de Gerson, depois usada por Pedro Rocha... Quantas vezes fui ao estádio do Morumbi acompanhar aquele time? Não me lembro, mas foram muitas, incluindo outras tantas ao estádio do Pacaembu, onde me sentava ao lado de torcedor do outro time sem problema algum, apesar de estar usando a camisa do São Paulo, sempre em companhia de meu pai. Deixei de jogar contra a turma da Capitão e da Cândido graças a um prefeito que não tinha sido eleito, conforme descobri alguns anos depois. Ele inventou uma nova diversão para a garotada, talvez para compensar o fim da nossa “cancha”: uma autopista para andar de bicicleta com os amigos, o que exigia um pacto de silêncio dos envolvidos. Ai se alguma mãe soubesse… Durante as obras ficou impossível jogar bola na Traipú! Eram muitos caminhões transitando, o que indicava uma mudança nessa parte da outrora pacata rua. Em paralelo a isso, durante meses (ou teria sido um ano letivo?), a bela Praça do Largo Padre Péricles, que abrigava o povo depois da missa, na qual senti pela primeira vez o gosto de vinho que acompanhava a hóstia, transformou-se em um buraco. Era muito interessante observar aquela terra vermelha e dava mesmo era vontade de descer até o fundo. Uma dessas manhãs, antes de sair para o colégio, vi no jornal de meu pai uma foto da autopista, chamada de Elevado Costa e Silva, apelidada de Minhocão, que teve seu nome alterado em 2016 para Elevado Presidente João Goulart. Tratava-se de uma das maiores intervenções urbanas registradas no município: um viaduto de cerca de 3 km de extensão que liga a Zona Oeste à Zona Central, até desaguar o trânsito na Avenida Radial Leste, que leva à Zona Leste. Ele foi inaugurado em 25 de janeiro de 1971, ano que marcou o fim dos passeios proibidos de bicicleta e, também, das partidas de futebol na Traipú, que passou a receber muito tráfego em sua última quadra. 1. O ENSINO FUNDAMENTAL Minha vida não era só correr atrás de bola e andar de bicicleta. Estudava no então Grupo Escolar Pedro II, que ainda está lá, na rua Marta, esquina com Tagipuru. Aquela era uma excelente escola! Tinha merenda e até um oftalmologista, que passava por lá de vez em quando e me afastou um pouco da bola depois que constatou uma miopia. Ganhei óculos antes de completar sete anos, o que não me impediu de jogar futebol na rua Traipú. No começo, estranhei um pouco, mas depois continuei firme, embora sem sonhar tanto em virar boleiro. A escola era muito interessante. Dona Nanci ensinou-me a escrever em 1969. Dona Juraci a fazer contas, na segunda série, e na quarta série eu tinha três ou quatro professoras, que se dividiam para dar aulas de português, matemática e estudos sociais, pelo que me lembro. Era, apurei muitos anos mais tarde, um projeto experimental para preparar os alunos para enfrentar a maior quantidade de disciplinas e de professores na quinta série. Pouco mais de um ano depois da inauguração do Minhocão, mudamos para o bairro do Limão, na Zona Norte de São Paulo. No caminho para a casa que meu pai comprou vi muitos campos de futebol, o que me indicava que a camisa do São Paulo ia ser novamente usada. Criei novas amizades e mantive as partidas de futebol. Mas havia outras novidades: empinar pipas, rodar pião, jogar bolinha de gude, guerra de mamonas, jogar taco, enfim, havia grandes áreas sem uso, os chamados vazios urbanos, muitas usadas como campos de futebol, outras para improvisar o que seriam pistas de bicicross, em linguagem atual. Uma maravilha, não fosse pelo tom avermelhado da terra e as broncas de minha mãe por causa da roupa suja. Ia a pé para a Escola Estadual Luiz Gonzaga Righini, na Avenida Deputado Emílio Carlos, onde estudei da quinta à oitava série. Lá surgiram novas experiências: as primeiras namoradas, a primeira peça de teatro, os primeiros livros: Julio Verne, Machado de Assis, contos de Drummond, Monteiro Lobato, entre outros. Naquela escola também tive professores dedicados. Lembro-me do professor Herrera, de Matemática, com seus compassos para giz, mais tarde substituído por Dona Leila, muito mais nova que o anterior. A professora Conceição, de Biologia, incentivou-me muito a prestar o vestibulinho para a então Escola Técnica Federal de São Paulo. A professora Leonor ensinava Redação, Gramática e Literatura. O seu Marinho, de Geografia, era temido por ser severo e tinha outra peculiaridade: havia escrito o livro usado em suas aulas. Tinha também a Silvia, que lecionava Estudos Sociais, que nos obrigava a ler jornal toda semana e comentar por escrito uma notícia. No Righini fui, finalmente, campeão de futebol de salão do colégio na oitava série. Seleção do colégio? Nunca fui chamado, o que encerrou o sonho de ser jogador de futebol. Nesses quatro anos eu e o bairro nos transformamos. Passei a andar menos de bicicleta, até porque os terrenos livres foram transformados, dando lugar a prédios. Minha irmã mais nova, Ana Rosa, hoje psicóloga clínica e mãe de duas meninas – Isadora e Rafaela –, não teve a mesma sorte que eu. Andar de bicicleta para ela só na rua de casa, a José Machado Ribeiro. Aos poucos, comecei a descobrir a “cidade”, em especial o centro antigo. No início, para assistir a filmes em cinemas, como o Independência, no largo do Paissandu, o Marrocos, na rua Conselheiro Crispiniano, e o Comodoro, na avenida São João. Mais tarde, no segundo semestre de 1976, ingressei em um curso preparatório para o vestibulinho, e a rotina de andar de ônibus instalou-se. Diariamente ia ao largo do Arouche (Zona Central) para assistir às aulas depois do colégio e retornava em ônibus lotado no início da noite. 2. DO ENSINO MÉDIO À UNIVERSIDADE Ingressei na Escola Técnica Federal de São Paulo em 1977, atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia São Paulo (IFT-SP), que fica na Rua Pedro Vicente, no Canindé, bairro de ligação entre o Centro e a Zona Leste de São Paulo. Exercendo a adolescência, descobri o metrô e a metrópole. Na “Federal”, como ainda hoje é chamada, tinha amigos de todos os cantos da pauliceia – nome que já podia emprestar de Mário de Andrade depois de ler alguns de seus livros –, mas também de municípios da Região Metropolitana de São Paulo, como Caieiras e Franco da Rocha. A metrópole apresentava-se diante de meus olhos por meio de novas amizades escolares. A convivência na Federal era intensa. As aulas começavam à tarde, mas pela manhã tínhamos Educação Física. Além disso, como todo mundo morava longe de lá, as reuniões de trabalho aconteciam na biblioteca da escola. Resultado: saía de casa pela manhã e retornava no início da noite, em companhia dos amigos no metrô e depois enfrentando ônibus lotado. Uma das experiências mais inusitadas na Federal foi praticar rúgbi no primeiro ano. Apesar dos óculos, era veloz e acabei jogando como ponta-esquerda no time do colégio. Não era o titular, mas ingressei durante alguns jogos e iniciei outros menos importantes, sem saber por que até hoje. O grande momento era o treino. Era muito interessante pertencer àquele grupo, que se distinguia dos demais times da escola pela organização autônoma. Não havia um professor de Educação Física que acompanhasse os treinamentos, como ocorria com as equipes de basquete ou de voleibol da temida Federal. O técnico era um estudante de Medicina, de quem lembro apenas o primeiro nome: Paulo, o Paulinho, como o chamávamos. O rúgbi, que teve destaque na organização do esporte moderno na Inglaterra no século XIX, também serviu para que eu aprendesse a reivindicar. Como a atividade não estava regulamentada, foi acordado com os professores de Educação Física que o treino de rúgbi não seria considerado atividade física regular, ou seja, as aulas de Educação Física tinham que ser frequentadas pelos praticantes de rúgbi. Os treinamentos, que ocorriam no campo de futebol, só poderiam ser realizados em horários livres, depois que as demais modalidades o usassem. Por isso eles eram realizados próximo ao almoço. Também foi negado apoio material, o que levou à necessidade de organizar rifas para a compra de bolas e uniforme para os jogos. Solidariedade e espírito de grupo foram agregados à minha formação pelo rúgbi. Como dizia o Paulinho, nesse esporte você não consegue avançar sozinho. É raro conseguir dar mais que três passos sem contato com algum oponente. O primeiro te desequilibra, o segundo te empurra e o terceiro, certamente, te derruba. Por isso era tão importante passar a bola e avançar sempre com o apoio dos companheiros para não ser “esmagado” pelos adversários. Os jogos contra os principais times da época exerciam fascínio em todos. Os maiores rivais eram o Liceu Pasteur, o Colégio Objetivo, o Colégio Rio Branco e o Colégio Santo Américo, todos de elite. A Federal era a única escola pública, o que dava um caráter de “luta de classes” aos jogos. Ao final, havia o cumprimento, uma prática que permanece até hoje entre os praticantes dessa modalidade esportiva, incluindo mulheres. Mas a rivalidade só crescia a cada jogo. Os anos na Federal propiciaram uma série de indagações. O país era governado por uma ditadura militar desde 1964, e a organização estudantil estava proibida. Como não havia Grêmio, começou um movimento no colégio para que ele fosse criado. Depois de muita negociação, sem assembleia, proibida na época, o Grêmio foi instalado em uma sala com mesas de pingue-pongue e de bilhar. O professor que se responsabilizou pelos estudantes diante da direção era Nelson Massataki, professor de Geografia que trabalhou no Departamento de Geografia da USP antes da Federal. Estudei muito nos anos em que permaneci no ensino médio. Na Federal o ritmo era um mês e meio de aulas e quinze dias de “martírio” (isso do ponto de vista de um estudante, obviamente), período em que eram cobrados relatórios, provas e seminários. As disciplinas de Humanas, Geografia, História e Teatro foram ministradas no primeiro ano e eram vistas com muito preconceito entre os alunos. Só no terceiro ano fui ter Sociologia, com o professor Lima, algo como estudos dos problemas brasileiros, literatura e redação. A professora Candelária, responsável por Literatura Brasileira, apesar das dificuldades, sensibilizava os alunos, o mesmo ocorrendo com o professor de Redação, de quem infelizmente não recordo o nome. Alguns amigos da Federal começaram a se politizar, e me envolvi nesse processo. Comparecíamos a eventos ligados à luta pela anistia aos presos políticos e aos exilados do país, em especial shows e concentrações populares. Durante o quarto ano, que servia como profissionalização para formar um Técnico em Mecânica, título que obtive, frequentei também o curso preparatório para vestibular do Equipe, com apoio de uma bolsa que reduziu muito a mensalidade, que ficava na rua Martiniano de Carvalho, na Bela Vista, área central do município de São Paulo. Lá, outras tantas mudanças ocorreram em minha vida. Existiam grupos que faziam panfletagens em porta de fábrica na região de Santo Amaro, na época com grande concentração de fábricas na Zona Sul de São Paulo. Engajei-me e participei de algumas dessas iniciativas. Eu ficava com a impressão de que os metalúrgicos não prestavam muita atenção aos nossos papéis. De todo modo, foi uma experiência importante, porque me mostrou um lado da megalópole paulista que eu não conhecia até então: lugares do trabalho operário. A maior reivindicação na época de cursinho era o direito à carteira de estudante e às suas vantagens, como a de comprar passe escolar, pagar meia-entrada em eventos culturais, entre outras. Isso era muito distante do mundo dos operários! Em um dia de 1980, alguém apareceu no Equipe e falou algo como: “To indo pra Vila Euclides. Vai ter uma concentração por lá e é preciso muita gente junta porque os milicos vão querer descer o pau”. Naquela hora surgiu um espírito que combinou aventura com curiosidade. Lá fui eu para São Bernardo do Campo. Foi impressionante ver o estádio lotado e militares no entorno enquanto Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, discursava. O “pau não comeu” e retornei para casa sem problemas. No cursinho, as aulas de Humanas começaram a me atrair. Tive aula com Sergio Rosa de Geografia, com Laura Toti e José Genoíno – depois Deputado Federal e Presidente do Partido dos Trabalhadores – de História, com Gilson de Redação, cujos ensinamentos procuro empregar até hoje, e com o Luís, um professor de Literatura que mostrou um outro olhar sobre romances e contos. No intervalo, pela manhã, ocorriam dois eventos todos os dias: a passagem de uma viatura da polícia e uma atividade cultural. Podia ser uma intervenção artística, uma canja com cantores locais, entre eles Mario Manga do Premeditando o Breque, o grupo Língua de Trapo ou os Titãs (ainda com outro nome), de que me recordo bem. Nos finais de semana voltava ao Equipe, mas não para estudar. Ia assistir aos shows organizados por Sérgio Groisman, agitador cultural do colégio que depois se tornou um importante comunicador para a juventude. No auditório e no pátio do Equipe assisti a apresentações de Itamar Assunção, Arrigo Barnabé e sua banda, Premeditando o Breque, Raul Seixas, A Cor do Som e Gilberto Gil, entre outros. Vivi intensamente aquele ambiente ao longo do ano. Todo esse conjunto refletiu em minha opção para o vestibular. Não desejava mais cursar Engenharia e inscrevi-me para cursar Geologia. Não passei na primeira fase da Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST), que organiza o vestibular para a USP, e também não fui aprovado na Universidade Estadual Paulista (UNESP). O ano seguinte foi diferente. Não tinha mais paciência para cursinho. Resolvi estudar sozinho e trabalhar. O primeiro emprego bateu à porta de minha casa. Uma equipe de venda de assinaturas do Círculo do Livro (um “clube” de leitores que oferecia livros por meio de um catálogo mensal) visitou minha rua. O rapaz insistiu muito para que eu aderisse ao plano, chamando até seu chefe de equipe para tentar me convencer. Para eles era absurdo alguém ler tanto como eu e não ingressar como cliente da empresa. Eu dizia que queria ter liberdade de escolha. Ao final da polêmica não me filiei e ainda recebi um convite do chefe: “Olha, vai ter uma seleção para novas equipes. Por que você não aproveita e passa por lá?” Não hesitei. Trabalhar com livros era algo que me atraía, ao mesmo tempo que ia voltar para a rua. Fui aprovado na seleção e acabei me destacando como o segundo ou terceiro em vendas de assinatura no Estado de São Paulo por vários meses seguidos. Acredito que isso ocorreu porque gostava de ler e conhecia parte do catálogo, que aliás era cheio de best-sellers, a seção que eu conhecia menos... mas tinha lá peças teatrais, clássicos da política, literatura brasileira, entre outros temas. Novamente aprendi a importância do grupo. Os resultados e o salário eram quantificados individualmente, mas havia também um objetivo para a equipe que deveria ser atingido. Fui convidado a chefiar equipes, mas não aceitei. Minha intuição me dizia que não devia ampliar meu compromisso com aquela empresa de capital estrangeiro. Outro aspecto muito interessante era que as equipes, compostas por sete promotores (expressão deles) mais um chefe, percorriam ruas de determinadas regiões do município de São Paulo, criadas pelo diretor da área comercial. As equipes que integrei sempre atuaram na Zona Sul, num amplo espectro que partia da Vila Mariana até os limites com a Via Anchieta! Com isso percorri muitas ruas e avenidas observando as diferenças socioespaciais de São Paulo. Em meio a isso veio o vestibular de 1982. Como gostava de escrever, prestei para Jornalismo. Estava feita a transição para as Ciências Humanas. Em meu segundo vestibular da FUVEST, passei para a segunda fase e aí parei. Avancei em relação ao ano anterior, o que me motivou a tentar mais um ano. No vestibular de 1983 inscrevi-me para Geografia e fui aprovado! 3. A GRADUAÇÃO De imediato, uma surpresa. Ao chegar ao DG como aluno, percebi que poucos colegas sabiam que existia a profissão de geógrafo. Talvez por isso, passei a militar desde as primeiras aulas pela categoria, seja no Centro Acadêmico Capistrano de Abreu (CEGE), seja na Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) e, mais tarde, como Conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP), onde atuei por nove anos, o equivalente a três mandatos. As aulas iniciais assustavam porque eram carregadas de discussão teórica, algo muito distante mesmo das melhores escolas. Apesar das dificuldades, em especial pela conjuntura na qual se afirmava uma suposta crise da Geografia, concluí o primeiro semestre, mas meio desiludido. Isso foi se alterando aos poucos. O convívio com geógrafos e estudantes de Geografia foi intenso no período de 1983 a 1986. As aulas na USP eram excelentes e ministradas por mestres como Ana Fani Alessandri Carlos, Antonio Carlos Robert Moraes, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Armando Correa da Silva, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, Gil Sodero de Toledo, Iraci Gomes de Vasconcelos Palheta, José Pereira de Queiróz Neto, Jurandyr Sanches Ross, Manoel Seabra, Maria Elena Simielli, Sandra Lencioni, Wanderley Messias da Costa, entre outros. No final de 1983, junto com vários colegas, como Regina Gagliardi, Eduardo Sasaki, Nelson Fujimoto, Marina e Irene Uehara, realizamos a GERARTE, um dia inteiro repleto de atividades culturais. Esse evento, em um domingo de novembro (seria o último?), levou ao prédio de Geografia e História grupos de música, de teatro, oficinas e mostra de filmes, atraindo os usuários do campus, que naquela época ainda era aberto à comunidade paulistana aos domingos. Participei de dois Encontros Nacionais de Estudantes de Geografia. O primeiro serviu como estímulo a continuar o curso. Realizado em São Luís do Maranhão, em 1983, permitiu-me conhecer colegas de vários pontos do Brasil que também estavam empenhados em discutir e tratar dos problemas da Geografia, como Deise Alves e Francisco Mendonça. A primeira tornou-se ativista do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e o segundo, professor da Universidade Federal do Paraná. Meu envolvimento foi ainda mais intenso no Encontro de 1985. Integrei a comissão que discutiu o temário do evento. Em minhas lembranças ficaram festas e viagens inesquecíveis para Vitória, no Espírito Santo. E muita atividade política, que na época envolvia a luta pela volta das eleições diretas em todos os níveis e a reforma agrária, entre outros assuntos. Destaco ainda as idas de trem a Rio Claro (SP) para tratar do movimento estudantil paulista e da União Paulista dos Estudantes de Geografia (UPEGE). No âmbito da USP, minha participação no CEGE ocorreu de forma mais intensa em 1985, embora fosse pontual nos dois anos iniciais da Faculdade, com a vitória de uma proposta anarquista. A chapa “Nunca fomos tão felizes” ganhou de um grupo liderado por membros do Partido Comunista. Nossa maior luta foi pela reforma curricular, resultando em plenárias cheias de gente envolvida na discussão da formação do geógrafo. Além disso, houve engajamento junto às lutas do Diretório Central dos Estudantes da USP, culminando com a invasão da reitoria pela exigência de eleições diretas para reitor e para presidente. O convívio com colegas da graduação da USP, como Bernardo Mançano Fernandes (atualmente na UNESP), Eduardo Sazaki, Luis Paulo Ferraz, Sérgio Magaldi (professor na UNESP), Regina Gagliardi, Irene Uehara, Fernanda Padovesi (atualmente colega na USP) e Regina Araújo, foi profícuo e, se não selou com todos uma amizade que perdura até hoje, foi exatamente pela Geografia da vida, que nos levou a lugares distantes. Também foi nessa época que conheci Lourdes Carril (atualmente professora na Universidade Federal de São Carlos - UFSCar), com quem vivi por alguns anos depois de formado. Dessa relação nasceu nossa filha, Ana Clara. As principais discussões na época da graduação eram sobre o currículo do curso de Geografia, o ensino de Geografia e a afirmação de uma Geografia marxista, de múltiplas matrizes. Também havia uma exagerada crítica à Geografia Física, classificada por alguns como atividade de gente reacionária. A luta por eleições diretas acompanhou minha graduação. A campanha pelas Diretas Já ocupou grande parte do primeiro semestre de 1984 até a votação em abril. Participei de quase todos os comícios na Praça da Sé e no Vale do Anhangabaú (Zona Central de São Paulo), sempre junto à famosa bandeira vermelha com a inscrição “Geografia – USP” em branco, que tive a honra de carregar algumas vezes. Fiquei afastado dessa bandeira até a campanha Fora Collor, em 1992, quando ela voltou às ruas e era referência para agrupar-me aos alunos e colegas nas manifestações. A movimentação social gerada pelas Diretas Já foi uma grande festa cívica que teve um final infeliz. Lembro-me bem do dia da votação, em pleno Vale do Anhangabaú, lotado, ainda com o “buraco do Adhemar”, acompanhando o voto de cada deputado. Foi doloroso assistir à derrota da proposta do deputado Dante de Oliveira. Mas os tempos estavam mudando. Em 1985 tivemos eleição para prefeito e, no ano seguinte, para governador do estado. Esses fatos geravam muitas discussões acaloradas entre diferentes grupos no âmbito da esquerda, embora houvesse uma hegemonia petista entre os estudantes de Geografia da USP. Também fazíamos uma espécie de loteria para acertar a ordem da votação dos candidatos. Como todo mundo apostava em candidatos de esquerda, nos primeiros lugares não havia ganhadores... Melhor para o CEGE, que conseguia “fazer caixa”, principal objetivo da loteria. Outros momentos de descontração ocorreram, como as inúmeras festas e o famoso “jogo das saias”, no qual homens vestiam roupas femininas para jogar futebol no Centro de Práticas Esportivas da USP (CEPEUSP). O ingresso ao campo era triunfal em um sábado por ano. Mas o jogo acabava ficando sério, apesar das dificuldades em correr com saias e vestidos. Durante os anos de graduação também atuei na AGB, ocupando cargos em diretoria e organizando eventos. Destaco a convivência com mestres do Departamento de Geografia como Manoel Seabra, Iraci Palheta e Ariovaldo de Oliveira, que passaram horas falando de Geografia enquanto desenvolvíamos atividades rotineiras como embalar cartas ou publicações. Foi um verdadeiro curso paralelo, que me permitiu ampliar enormemente o entendimento da Geografia que se produzia no DG e no mundo. Tive a oportunidade de ser estagiário na Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo (EMPLASA). Para mim, era a busca da condição de tornar-me um profissional em Geografia. Atuei na área de Cartografia, participando de projetos como atualização permanente das cartas 1:10.000, de manutenção das referências de nível e de fiscalização da área de mananciais (embora esse projeto constasse de outra divisão). Outro aspecto relevante foram as visitas de campo pela Região Metropolitana de São Paulo acompanhado por técnicos de diferentes formações, ampliando meu conhecimento sobre essa realidade. E, claro, o time de futebol de salão do setor de Cartografia, que contava com o professor do DG Flavio Sammarco Rosa no gol, na época Superintendente de Cartografia da EMPLASA, que disputava o campeonato interno. Também estagiei no Laboratório de Geografia Humana do então Instituto de Geografia da USP, coordenado pela professora Ana Maria Marangoni. Lá participei do programa de pesquisa “Municipalização do Estado de São Paulo”, coordenado por ela, desenvolvendo um trabalho de iniciação científica, com bolsa da FAPESP, com o título “O processo de municipalização da Região Administrativa do Vale do Paraíba”, sob orientação da professora Claudette Junqueira. Estudei o processo de desmembramento municipal no Vale do Paraíba, produzindo uma base cartográfica digital, além de associar as transformações territoriais com a ocupação da região administrativa. Ao final da graduação, em 1986, obtive o título de Bacharel em Geografia, o que me habilitou a ingressar no mercado de trabalho e na pós-graduação. Minha escolha pela segunda opção veio, em parte, pelo parecer final da bolsa de iniciação da FAPESP, no qual havia uma recomendação para que eu continuasse a pesquisa no mestrado. Também concluí, em 1988, a Licenciatura em Geografia, sem maiores destaques a não ser a divulgação dos resultados de estágio no primeiro Fala Professor, encontro organizado pela AGB para tratar especificamente do ensino de Geografia. Esse trabalho foi realizado em conjunto com Bernardo Mançano Fernandes e orientado pela geógrafa Delacir Ramos Poloni, que mais tarde obteve o título de Doutora em Geografia, sob orientação de Armando Correa da Silva, e que atuou como professora no IFT-SP, com grande envolvimento também no sindicato de trabalhadores dessa instituição. Alguns anos mais tarde ela convidou-me a escrever uma coleção didática. 4. A PÓS-GRADUAÇÃO O ingresso na pós-graduação ocorreu logo ao término do curso de Bacharelado em Geografia, em 1987. Comecei preocupado em entender os chamados movimentos sociais urbanos e submeti um projeto ao professor José Willian Vesentini para verificar a existência deles em São José dos Campos (São Paulo), aproveitando parte da pesquisa de iniciação científica. O desenrolar dos trabalhos indicou-me outros caminhos. Ao estudar mais São José, surgiu um novo objeto: as indústrias de armamentos sediadas no município. Elas estavam em pleno vigor, exportando para o Iraque em guerra com o Irã. Isso dava ao país a condição de principal vendedor de armas, à exceção dos países ricos, o que justificava a pesquisa. Queria fazer uma Geografia das indústrias de armamentos no Brasil, indicando os principais fluxos de matéria-prima e de clientes. Isso mostrou-se impossível ao longo dos anos. As informações não eram disponibilizadas, o que me levou a alterar o projeto para a compreensão da política científica e tecnológica empreendida pelos governos militares que possibilitaram o surgimento do que denominei de “polo industrial armamentista no Brasil” (RIBEIRO, 1994). Entre as disciplinas cursadas para obtenção de créditos, ressalto a do próprio professor Vesentini, que tratava da Geografia Política, e a do professor Armando Correia da Silva, com o título Epistemologia da Geografia Humana. Nesta disciplina pude apreciar uma belíssima reflexão do professor Armando sobre as teorias da pós-modernidade e sua repercussão na Geografia, além de contar com colegas que estimulavam o debate, como Carlos Augusto Amorim Cardoso, hoje professor na Universidade Federal da Paraíba, e Marcos Bernardino, atualmente na USP. Ressalto o ano de 1988, quando participei de um estágio na Université de Pau et dês Pays de L’Adour, em Pau, no sul da França. Nessa ocasião, acompanhei seminários de pesquisa, aulas no curso de graduação e trabalhos de campo de professores como François Dascon e Gui di Meo, todos indicados pelo professor Milton Santos. O maior objetivo era desenvolver a língua francesa, dado que o estágio foi de pouco mais de um mês, mas a viagem permitiu tomar contato com a realidade do ensino superior de Geografia na França e uma incursão rápida a Barcelona e Madri. Também acompanhei por um semestre os seminários da professora Marilena Chauí sobre Spinoza, no Departamento de Filosofia. Esse encontro deu-se no segundo semestre de 1990, quando eu já era professor do DG, onde ingressei em dezembro de 1989. Apesar do restrito grupo, a professora Marilena não hesitava em demonstrar conhecimento e paixão por um dos maiores filósofos da história. Para mim, essa convivência possibilitou estudar um pouco mais de Filosofia Moderna, uma paixão que não pude cultivar muito, mas que, como toda paixão, tem repentes explosivos que me embriagam de prazer pela leitura e discussão de autores e suas ideias. Ressalto a gentileza da professora em aceitar-me em seu grupo de pesquisa, além de sua delicadeza em introduzir de maneira didática para mim passagens da obra do filósofo. Para o doutorado, cujo ingresso ocorreu em 1994, mantive a orientação do professor Vesentini, mas alterei minha linha de pesquisa. A atividade docente no DG e a representação da AGB na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992, envolvendo mais de uma centena de chefes de estado e milhares de pessoas por meio de organizações não governamentais de todo o mundo, despertaram-me a curiosidade para acompanhar os tratados internacionais sobre o ambiente. Estava diante de uma nova frente de pesquisa, que se mantém até hoje. Dela derivaram uma série de trabalhos publicados ainda antes da defesa do doutorado, que ocorreu em dezembro de 1999. No doutorado, a disciplina Análise das Relações Internacionais, ministrada pelo professor Leonel Mello no Departamento de Ciência Política, foi de muita valia. Além de permitir-me conhecer teorias das relações internacionais, propiciou um amplo debate sobre temas contemporâneos. Essas etapas de formação coincidiram com outras mudanças por São Paulo, todas na Zona Oeste. Inicialmente, morei em Vila Beatriz, mais próxima à USP. Lá fiquei até 1997, quando fui viver no Alto da Lapa. Em meados de 2003 mudei para a Vila Madalena. Assisti a uma grande transformação em Vila Beatriz. Casas unifamiliares deram lugar a edifícios de alto padrão. Mesmo em áreas dotadas de infraestrutura os efeitos foram sentidos. Um deles foi o aumento na queda do fornecimento de energia. Mas alguns serviços, que já eram bons, ficaram ainda melhores e mais caros. Era hora de mudar. No Alto da Lapa estava junto a uma área mais consolidada do ponto de vista da produção do espaço urbano. Mas isso não me impediu de assistir à verticalização da linha do horizonte. Muitos prédios foram subindo em direção ao pôr do sol na rua Carlos Weber e adjacências. O mesmo ocorreu na Vila Madalena. Diversos edifícios surgiram, entremeados de bares e casas noturnas, naquele que foi um bairro refúgio de estudantes sem dinheiro para pagar aluguel ou de famílias negras, que chegaram bem antes que os expulsos do Conjunto Residencial da USP (CRUSP), pela repressão da ditadura militar. Mas de onde vivo ainda consigo ver o horizonte sem prédios por perto, embora observe claramente a aproximação da mancha de concreto sobre minha janela. 5. PÓS-DOUTORADO Participar de uma experiência de pesquisa em uma instituição com a tradição e relevância da Universidade de Barcelona foi estimulante diante de novas perspectivas de interação com pesquisadores. Esta etapa de minha trajetória foi financiada pela FAPESP, entre dezembro de 2001 e fevereiro de 2002. Foram diversas idas e vindas pelos trens do metrô de Barcelona até a universidade, às vezes até em final de semana, para buscar interlocutores seja na palavra escrita, seja na palavra falada. E eles estavam lá, à espera de quem quisesse adentrar no mundo do debate acadêmico, gerados pela ordem ambiental internacional. De pronto procurei o professor Horacio Capel, catedrático que exerce sua sabedoria de maneira singular estimulando os mais novos a produzir artigos e seminários. Nossos encontros iniciais logo passaram do estranhamento natural para acaloradas discussões teóricas. Inicialmente foi traçado um objetivo para os dois meses de convivência, a saber, produzir um artigo (RIBEIRO, 2002), um texto para apresentar no IV Colóquio Internacional de Geocrítica (RIBEIRO, 2002a) e organizar um número especial da revista eletrônica Scripta Nova com artigos sobre a vida e obra do Professor Milton Santos (RIBEIRO, 2002b, 2002c). Em nossos encontros trocamos impressões sobre a Geografia produzida tanto no Brasil quanto na Espanha. Além das atividades descritas acima, frequentei bibliotecas da Universidad de Barcelona, da Universidad Autónoma de Barcelona e públicas, como a Biblioteca da Catalunya. Em todas foi possível descobrir obras de interesse ao meu trabalho. Visitei também as Universidades de Lisboa e de Coimbra, em Portugal, graças à complementação de recursos oferecida pela Comissão de Cooperação Internacional da USP. Em Lisboa, meu contato ocorreu principalmente com a professora Teresa Salgueiro, especialista em Planejamento Urbano. Em Coimbra, tive o apoio da professora Lucilia Caetano, que pesquisava o desenvolvimento industrial em Portugal e era bastante envolvida com a temática dos polos tecnológicos, tema que trabalhei em meu mestrado. Discutimos algumas variáveis locacionais de empresas de alta tecnologia. O momento mais precioso de nosso encontro foi uma visita que ela proporcionou às instalações da Universidade de Coimbra, como a biblioteca e a sala de eventos. Tradição combinada com arte resume minhas impressões acerca dos ambientes visitados. A convivência com colegas do programa de doutorado permitiu retomar ideias e questões sobre o sistema internacional e discutir metodologias de pesquisa em Geografia Humana. Além disso, aproveitei para estreitar relações com professores do Departamento de Geografia Humana da Universidad de Barcelona e do Departamento de Economia e História Econômica da Universidad Autónoma de Barcelona. Desse diálogo, surgiu a possibilidade de traduzir o livro O ecologismo dos pobres, do economista Joan Martinez-Alier (2007), para o qual realizei a revisão técnica e escrevi a apresentação da edição brasileira. Minha segunda estada na Universidad de Barcelona, entre outubro de 2004 e janeiro de 2005, foi financiada pela CAPES. Dessa vez fui recebido pelo professor Carles Carreras, catedrático especialista em consumo. Nesta ocasião, havia a necessidade de contribuir para a análise comparativa Barcelona/São Paulo, pesquisa coordenada por ele e pela professora Ana Fani Carlos. Grande parte de meu tempo foi dedicado a conhecer a gestão da água em Barcelona. Para tal, realizei um levantamento bibliográfico referente à temática do abastecimento hídrico nessa cidade e aos conceitos de soberania, desenvolvimento sustentável e segurança ambiental internacional. Também entrevistei atores importantes, como técnicos da “Aigues de Barcelona”, empresa responsável pela gestão da água na capital catalã (RIBEIRO, 2005). Entretanto, tive oportunidade de desenvolver outras atividades. Participei do IV Congresso Ibero sobre Gestão e Planejamento da Água, realizado em Tortosa, na Espanha, no período de 8 a 12 de dezembro de 2004, com um trabalho sobre água na Região Metropolitana de São Paulo. Nessa reunião conheci o sociólogo argentino José Esteban Castro, na época professor na Oxford University. Desse contato surgiu sua participação como professor visitante no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM), na USP. A cooperação avançou com a criação da rede de pesquisa Waterlat/Gobacit, que será tratada adiante. Ao longo da segunda estada em Barcelona, tive oportunidade de conhecer o Centre de Recherche sur le Brésil Contemporain, da École dês Hautes Études, da Université Paris-Sorbonne, a convite da professora Martine Droulers, que me convidou ainda para uma conferência ministrada no curso de pós-graduação do Centre de Recherche et de Documentation de l’Amérique Latine, da Université Paris VII, com o tema “Gestion du l’eau au Brésil: le cas du São Paulo”. Nesta ocasião discuti a gestão dos recursos hídricos em São Paulo e no Brasil, detalhando os comitês de bacia de São Paulo. II. TRABALHOS DESTACADOS Existem diversas métricas para indicar a relevância de determinados trabalhos. Em geral, tomam-se os mais citados, ou aqueles que receberam mais críticas, positivas ou negativas. Não usei esses critérios nesta seleção. Minha escolha, como já anunciado, partiu de minha intuição e de conversas com inúmeros interlocutores em mais de trinta anos de vida acadêmica. Os textos mais comentados nesses encontros estão nesta série, somados a textos mais recentes relacionados às pesquisas que desenvolvo. 1. A ORDEM AMBIENTAL INTERNACIONAL Para a obtenção do título de Doutor, apresentei, em 1999, ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana do Departamento de Geografia da USP, a tese A ordem ambiental internacional (RIBEIRO, 1999). O objetivo central da pesquisa foi identificar os atores, mecanismos e eficácia de um conjunto de instrumentos jurídicos internacionais focados em questões ambientais. No texto final, constam os primeiros tratados internacionais – que foram criados para regular a ação das metrópoles imperialistas no continente africano. Depois, tratei do período da Guerra Fria, época em que o destaque ficou para a atuação da ONU e seus organismos internos, bem como para reuniões internacionais que eles realizaram. Por fim, apresentei as convenções internacionais pós Guerra Fria, destacando a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, seus documentos, e reuniões que se seguiram a ela. Neste trabalho fiz uma primeira aproximação teórica da Geografia Política envolvendo problemas ambientais. Minha intenção foi estabelecer um marco conceitual a partir do qual pudesse continuar a desenvolver estudos da intrincada rede de relações que cercam a temática ambiental envolvendo países. Temas como segurança ambiental internacional, sustentabilidade e soberania emergiram como questões centrais em minhas reflexões e produção acadêmica. A pesquisa do doutorado foi facilitada após o advento da rede mundial de computadores. Recordo que este aspecto foi realçado pela banca, já que, na época, ainda não era frequente como se verifica hoje em dia, o levantamento de dados a partir de informações oficiais divulgadas em páginas eletrônicas de governos, organismos internacionais e entidades ambientalistas. Mas não basta captar a informação, é preciso analisar os dados. Entretanto, cabe aqui um alerta. Lamentavelmente, as informações não estão mais disponíveis como antes. Muitos países, e mesmo organizações multilaterais e secretariados de convenções internacionais, deixaram de expor os dados na rede mundial de computadores. O resultado é uma maior dificuldade na obtenção de indicadores que no final da década de 1990. A propalada democratização por meio das redes de computadores tornou-se relativa e seletiva. Participaram da banca de doutorado a geógrafa Maria Encarnação Beltrão Sposito, o geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves, o cientista político Leonel Itaussu de Almeida Mello, o geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira e o geógrafo José William Vesentini – orientador. Após os trabalhos, a banca decidiu pela aprovação com distinção, recomendando a tese para publicação. Publicada como livro (RIBEIRO, 2001), A ordem ambiental internacional alcançou uma repercussão junto a três campos do conhecimento científico: a Geografia, o Direito Internacional e as Relações Internacionais. A obra passou a ser discutida em disciplinas de graduação e pós-graduação dessas áreas, o que me envolveu em uma série de seminários e formas de cooperação em pesquisas e bancas. 2. GEOGRAFIA POLÍTICA DA ÁGUA O trabalho que submeti como parte de minha Livre Docência (RIBEIRO, 2004), no Departamento de Geografia da USP, Geografia Política da Água, discute a ausência de um instrumento internacional que garanta o acesso a essa substância fundamental à reprodução da vida. Inicio com uma análise da gestão dos recursos hídricos na escala internacional, com a mesma metodologia da tese de doutorado. Nesse texto procurei expressar o impacto da distribuição política da água e projetar perspectivas para o abastecimento para os próximos anos. Primeiramente, discorri sobre a oferta hídrica por país e analisei o uso da água. Depois, dediquei um capítulo para as convenções internacionais que tratam dos recursos hídricos, no qual constatei a ausência de uma regulação multilateral aceita pela maior parte dos integrantes do sistema internacional. Também abordei o direito humano à água, na época um tema emergente no debate internacional, que em 2010 foi reconhecido pela Assembleia Geral da ONU. Em seguida, tratei de verificar as formas de acesso à água, que são basicamente duas: o comércio e o conflito. O primeiro caso foi abertamente difundido pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional, que difundiu a privatização dos serviços da água e, ao mesmo tempo, defendeu interesses de grandes grupos privados que já atuavam no comércio de água engarrafada ou por meio da aquisição da prestação de serviços hídricos. Em relação aos conflitos, a projeção da carência de água em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os que mais usam água no mundo, gera uma perspectiva sombria. Parte deles dispõe de relevante capacidade estratégico-militar e podem desejar usá-la para obter água. Uma ocupação territorial para tomar literalmente a água de países que têm oferta hídrica considerável, como é o caso do Brasil e de muitos da América do Sul, não pode ser descartada, ainda que ela não deva ocorrer nos moldes que se deram, por exemplo, no Iraque, para controlar a extração de petróleo. Bombardear uma área com água seria pouco inteligente, dado que vai degradar exatamente o objetivo a ser conquistado. Portanto, a dominação e o conflito pela água são mais sutis que uma guerra por petróleo. Por fim, o texto defende uma nova cultura da água, na qual seu uso deve ser adequado à oferta hídrica de cada país. A banca examinadora de minha Livre Docência foi composta pela geógrafa Ana Fani Carlos, pelo geógrafo Eliseu Sposito, pela geógrafa Helena Ribeiro, pelo engenheiro agrônomo Waldir Mantovani e pelo geógrafo José Bueno Conti, presidente. Em 2008 a tese ganhou o formato de livro (RIBEIRO, 2008), que também alcançou repercussão importante nas áreas de Geografia, Direito Internacional e Relações Internacionais. 3. ÁGUA TRANSFRONTEIRIÇA Nos últimos anos venho me dedicando a compreender os conflitos , tensões e possibilidades de cooperação que envolvem a água transfronteiriça (RIBEIRO; SANT’ANNA, 2014; RIBEIRO; SANTOS; SILVA, 2019). Como foco de análise, a bacia do Prata foi escolhida por apresentar uma gama de aspectos que envolvem o uso múltiplo da água, como a produção de energia, o abastecimento de grandes contingentes populacionais, a produção agrícola e industrial (RIBEIRO; SANT’ANNA; VILLAR, 2013). Água transfronteiriça é a que perpassa ao menos duas unidades políticas por meio de um corpo de água, seja ele superficial ou subterrâneo. Rios, lagos e represas podem estar entre duas unidades políticas, sejam elas internacionais ou internas a um país, caracterizando água transfronteiriça superficial. Um aquífero pode ocorrer sob duas unidades políticas e, como nas situações anteriores, transcender países ou unidades territoriais internas a um país (RIBEIRO, 2008a; VILLAR; RIBEIRO, 2011; LEITE; RIBEIRO, 2018; ESPÍNDOLA; LEITE; RIBEIRO, 2020). Dois conceitos ajudam muito a interpretar as relações entre unidades políticas envolvendo água transfronteiriça: hidropolítica e hidro-hegemonia. O primeiro relaciona-se ao uso político da água para o exercício do poder de uma unidade política sobre a outra. O segundo ocorre quando a relação de poder resulta na hegemonia de uma unidade política sobre a outra (PAULA; RIBEIRO, 2005). Além disso, é necessário revisitar o conceito de soberania (RIBEIRO, 2012). Esses conceitos podem ser usados para analisar situações internas ao Brasil, como as consequências da transposição do rio São Francisco, que alterou as relações de poder entre estados do Nordeste. Outro exemplo de aplicação foram os conflitos gerados por ocasião da crise de gestão da água na Região Metropolitana de São Paulo entre 2013 e 2015, envolvendo os estados do Rio de Janeiro e São Paulo (BUCKERIDGE; RIBEIRO, 2018). No caso da bacia do Prata, foco das análises nos últimos anos, os conflitos envolvendo a Itaipu Binacional mobilizaram diferentes governos (RIBEIRO, 2017). O Paraguai reivindicou tarifas mais elevadas, no que foi parcialmente atendido pelo Brasil, e também reivindicou soberania para vender o excedente de energia livre no mercado, em vez de, por contrato, ter que vendê-la ao Brasil. Sobre este ponto as negociações não avançaram (INÁCIO JR.; RIBEIRO, 2019). A existência do Comitê Intergovernamental Coordenador dos Países da Bacia do Prata, desde 1968, além de várias outras instituições, aponta a necessidade de uma análise política do papel e alcance de cada instituição. Apesar da existência desse conjunto de órgãos dedicados à gestão da água na bacia do Prata, eles são pouco eficazes em função da ausência de recursos para implementar projetos e por não disporem de corpos técnicos independentes (VILLAR; RIBEIRO; SANT’ANNA, 2018; ESPÍNDOLA; RIBEIRO, 2020). Como resultado, os estudos sobre a bacia estão sujeitos ao financiamento externo, que evidentemente não chega desinteressado. 4. ENSINO DE GEOGRAFIA Discutir o ensino de Geografia é uma de minhas paixões. A reflexão sobre esse tema nasceu de minha militância na AGB. Por mais de uma vez presenciei debates fecundos no Anfiteatro do DG lotado para tratar da renovação da Geografia e sua aplicação no ensino fundamental e médio. Assisti também a inúmeras avaliações da Proposta Curricular de Ensino de Geografia, produzida pela então Coordenadoria de Ensino e Normas Pedagógicas (CENP), ao longo da década de 1980. A principal mudança sugerida era a indicação da categoria “trabalho” como eixo central das discussões. Havia também uma grave lacuna: a dinâmica da natureza. Naquele momento de radicalismo, chegou-se a decretar a morte da Geografia Física. Pior, muitos colegas que se dedicaram a ela foram rotulados como conservadores por empregarem “métodos positivistas” em seus trabalhos. A discussão sobre o ensino de Geografia foi retomada com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, ao longo da década de 1990. Novos debates tensos ocorreram, envolvendo seus elaboradores e a comunidade geográfica. Participei de alguns. Mais recentemente, as discussões ainda mais polêmicas que envolveram a definição da Base Nacional Comum Curricular, de 2018, ofereceram outras oportunidades para tratar do ensino de Geografia. Por fim, aponto as coleções e livros de apoio didático que tive a oportunidade de publicar, resultado de muita investigação de fontes e discussão com vários colaboradores. O começo da produção didática veio a partir de um convite da professora Delacir Poloni, que resultou em uma coleção para os quatro anos iniciais (RIBEIRO; GUIMARÃES; POLONI, 1994). Depois, vieram novos projetos destinados ao ensino fundamental II (RIBEIRO; ARAÚJO; GUIMARÃES, 1999; RIBEIRO, 2012a) e ao ensino médio (RIBEIRO; GUIMARÃES; KRAJEWSKI, 2000; RIBEIRO; GAMBA; ZIGLIO, 2018). Algumas dessas obras chegaram à terceira edição, e duas ainda estão em catálogo. 5. OUTROS TEMAS Também tive a oportunidade de discutir questões como cooperação internacional e redes de atores não estatais (ZIGLIO; RIBEIRO, 2019), justiça ambiental e justiça espacial (RIBEIRO, 2017a), mudanças climáticas (RIBEIRO, 2002d, 2008b), governança da água no Brasil e em São Paulo (RIBEIRO, 2009, 2011), sociedade do risco (ZANIRATO et al., 2008; RAMIRES; RIBEIRO, 2011), entre outras. 6. COLABORAÇÃO JUNTO À IMPRENSA Escrever para a imprensa era uma tarefa pouco compreendida no meio acadêmico no início de minha carreira. Quando comecei a colaborar com a Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo, na década de 1990, recebia olhares de surpresa de colegas, que estranhavam minha disposição em comentar temas contemporâneos. Felizmente a divulgação científica já sofre menos preconceito na universidade. Cada vez mais pesquisadores envolvem-se com a produção de conteúdo para o grande público por meio de redes sociais. Pode ser uma trilha a seguir no futuro. Da imprensa escrita passei à falada, por meio de colaborações com as rádios Eldorado, depois Estadão/ESPN e, por fim, Estadão. Mantive uma coluna sobre temas socioambientais que começou quinzenalmente e, quando terminou, tinha duas edições por semana. Desde 2017 comento, semanalmente, temas socioambientais na Rádio Brasil Atual, mais especificamente no Jornal Brasil Atual, que é transmitido ao vivo pela TVT (TV dos Trabalhadores) e pelos canais do Youtube destes veículos (https://www.youtube.com/watch?v=0rYSJGvJgQo). Tive várias participações na TV; destaco programas de opinião, como o Roda Viva (https://www.youtube.com/watch?v=ibKboWNOCXM) e o Panorama (https://tvcultura.com.br/videos/68061_panorama-tragedia-em-brumadinho-01-02-2019.html), na TV Cultura, além de diversas entrevistas para distintas emissoras. III. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL Além das experiências de pós-doutorado, tive oportunidade de colaborar em outras universidades por meio de disciplinas ministradas, ademais de integrar uma rede de pesquisa internacional sobre água na América Latina, experiências comentadas a seguir. 1. UNIVERSIDAD DE SEVILLA Durante minha estada no Departamento de Geografia Humana da Universidad de Sevilla, nos meses de outubro e novembro de 2008, pude conhecer diversos professores, o que me permitiu ter uma ideia geral das pesquisas geográficas que se desenvolviam naquela universidade, em especial no campo dos estudos socioambientais. A governança e as políticas públicas ambientais eram alvo de investigações. O professor Juan Suarez de Vivero recebeu-me na instituição, com quem pude discutir a governança do sistema internacional relacionada aos temas ambientais. Como grande especialista vinculado aos estudos do mar, e com larga experiência em foros de pesquisa da União Europeia, o professor Vivero tem uma produção relevante sobre as relações entre a Geografia Política e o ambiente, no caso, com os recursos marinhos em suas múltiplas dimensões. Em relação à governança, a posição do professor Vivero reconhece o caráter institucional do tema. Para ele, a governança envolve diversos atores em fóruns diferentes, o que dificulta sua implementação. Com a professora Maria Fernanda Pita, especialista em estudos climatológicos, tive a possibilidade de conhecer mais referências e fontes de pesquisa sobre estudos relacionados às mudanças climáticas na Espanha. Ela informou-me que os estudos estão mais concentrados na mitigação que na adaptação às consequências que as transformações globais trarão ao território espanhol. Com o professor Leandro Del Moral, na ocasião chefe do Departamento de Geografía Humana, pude discutir outro tema de grande interesse: a gestão da água. Ele apresentou-me o curso de mestrado Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas, em desenvolvimento na Universidad de Zaragoza, que é ministrado por um conjunto de professores de diversas universidades europeias. Nesse curso, o estudante tem contato com diversos aspectos da gestão dos recursos hídricos, como a governança, a Diretiva Marco Europeia para a água e a participação popular na gestão da água. A estada na Espanha possibilitou fazer uma visita ao professor Horacio Capel. Na ocasião, além de cumprimentá-lo pela nomeação para o prêmio Vautrin Lud, considerado o Nobel da geografia mundial, pude realizar uma interessante entrevista em conjunto com a professora Silvia Zanirato. Entre os diversos assuntos abordados na ocasião, ressalto a visão do professor sobre o prêmio, sua repercussão e impacto, mas, principalmente, a avaliação que expôs sobre a geografia espanhola, latino-americana e brasileira (RIBEIRO; ZANIRATO; CAPEL, 2010). 2. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA No período de 2013 a 2015 fui convidado a colaborar na disciplina “Território”, do “Master en Estudios Brasileños”, no Centro de Estudios Brasileños da Universidad de Salamanca. Essa disciplina era oferecida com mais dois colegas, a professora María Isabel Martín Jiménez e o professor José Luis Alonso Santos, ambos do Departamento de Geografía da Universidad de Salamanca. A primeira tratava dos aspectos naturais do território brasileiro, enquanto o segundo apresentava uma análise regional, destacando as diferenças sociais e econômicas entre as regiões brasileiras. Minha contribuição estava focada em discussões conceituais sobre território, formação territorial do Brasil, composição e dinâmica populacional do país. O master atraiu alunos de diversos países, como Espanha, Grécia, Finlândia, Canadá e Brasil, com formação também diversificada (geógrafos, economistas, cientistas políticos, advogados, pedagogos, entre outros). Ao longo de três anos, as turmas variaram entre quinze e dez alunos. Nesse projeto, os estudantes tinham que cumprir uma etapa de estudos no Brasil. Por isso o intercâmbio era muito rico e estimulante. Porém, coincidentemente ou não, após o golpe de 2016 que destituiu a Presidenta Dilma Rousseff, não houve alunos em número suficiente para iniciar novas turmas, o que interrompeu a colaboração como docente. 3. UNIVERSIDAD DE CALDAS Em 2014 fui convidado para ministrar a disciplina “Geografía y Ecología Política del Agua en América Latina”, para as maestrias em “Estudios Políticos” e em “Derecho Publico” da Universidad de Caldas, em Manizales, Colômbia. Abordei temas como: a sociedade contemporânea e o uso da água; o acesso e a oferta de água na América Latina; principais usos da água na América Latina; o Direito Humano à água e perspectivas para o futuro. O grupo de alunos mostrou-se entusiasmado e participativo. Composto em sua maioria por estudantes com formação em Direito, o grupo assimilou muito bem as teorias e reflexões expostas, gerando um debate agudo e construtivo, apesar do ritmo intenso das aulas. 4. OUTROS CASOS – MÉXICO, ÍNDIA, SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE E REDE DE PESQUISA WATERLAT/GOBACIT Um dos momentos mais relevantes que tive oportunidade de experimentar como geógrafo e professor ocorreu em 2008 na Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Naquela ocasião pude ministrar um curso para o “Posgrado de Geografía” com o tema “Geografia Política y recursos naturales”, a convite da professora Veronica Ibarra. Começava um rico diálogo. Apresentei reflexões ainda atuais que envolvem recursos hídricos e petróleo, temas de grande interesse à população mexicana, relacionando-os à Geografia Política dos recursos naturais. A assistência foi muito atenta e propiciou um estimulante debate. Com coordenação da professora Neli Mello-Thèry, da USP, o projeto “Exclusão social, território e políticas públicas: uma comparação Índia-Brasil”, foi financiado pela Agence Nationale de la Recherche da França e envolveu a Université Paris X - Nanterre, o Centro de Estudos da Índia (Ceias-Ehess), o Centre de Sciences Humaines (Delhi), a USP (DG e IEA) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (núcleo Favela e Cidadania, Escola de Serviço Social), somando vinte pesquisadores do Brasil, da França e da Índia, de 2007 a 2009. O objetivo era identificar como as áreas mais pobres das periferias urbanas de Delhi, Mumbai, Rio de Janeiro e São Paulo eram afetadas por políticas públicas para habitação e eventuais pressões sobre unidades de conservação (MELLO-THÈRY et al., 2014). Cabe ressaltar a participação no programa de cooperação entre o Brasil e São Tomé e Príncipe, no qual, sob coordenação da professora Norma Valencio, da UFSCar, analisamos o Plano de Adaptação de São Tomé e Príncipe às mudanças climáticas. Como resultado, escrevi um capítulo sobre as potencialidades ambientais de São Tomé e Príncipe (RIBEIRO, 2010) e organizei um livro, em conjunto com a professora Norma Valencio (VALENCIO; RIBEIRO, 2010). Esse projeto resultou de uma iniciativa do CNPq que visava promover uma aproximação com países africanos. Destaco a inserção na rede Waterlat, que visa congregar pesquisadores da América Latina e da Europa dedicados a analisar temas relacionados à ecologia política da água, coordenada pelo professor Jose Esteban Castro, atualmente pesquisador do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), na Argentina. A Waterlat incorporou a rede Gobacit, formando a Waterlat/Gobacit (https://waterlat.org/pt/). Participei de várias reuniões anuais da rede, na condição de coordenador da Área de Trabalho sobre águas transfronteiriças, bem como expondo resultados de pesquisas. Em 2010, organizei o segundo encontro da rede, no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP), quando cerca de 120 trabalhos foram expostos à discussão (CASTRO; RIBEIRO, 2010). IV. OUTRAS PARTICIPAÇÕES A seguir, comento alguns eventos não acadêmicos dos quais participei, que tiveram relação direta com minhas pesquisas. Um dos mais marcantes foi o Rio 92. Fui representante do Fórum Brasileiro de Organizações Não Governamentais na reunião oficial, a primeira da ONU a aceitar a presença de representantes da sociedade civil na delegação dos países. Cheguei a essa situação a partir da representação da AGB nas reuniões preparatórias para a Rio 92. Esta reunião propiciou a convivência com ambientalistas e pesquisadores de muitas partes do mundo. A presença de chefes de estado, como Fidel Castro, François Mitterrand, John Major, respectivamente presidentes de Cuba, França e primeiro-ministro do Reino Unido, despertou em mim o tema de pesquisa para o doutorado. A primeira Conferência Nacional de Meio Ambiente “Vamos cuidar do Brasil”, organizada pelo Ministério do Meio Ambiente, mobilizou mais de 60.000 pessoas de todo o Brasil, em 2003. Elas organizaram-se por segmentos da sociedade brasileira em nível municipal, estadual e regional, permitindo o encontro de trabalhadores, ambientalistas, sindicalistas, profissionais da área tecnológica, empresários, militares, entre outros, obedecendo a uma divisão de gênero. Eu fui delegado eleito a partir da representação do CREA-SP. O objetivo da Conferência foi aprimorar o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), por meio da discussão e mobilização da sociedade brasileira. Os trabalhos ocorreram na Universidade de Brasília. A Conferência Nacional de Meio Ambiente foi um marco importante na construção da cidadania no Brasil. Ela gerou uma corresponsabilidade na sociedade brasileira pela implementação de seus resultados e para a fiscalização da atuação dos governos em todas as suas esferas. Infelizmente parte desses avanços estão ameaçados por ações do Governo Federal que se instalou em janeiro de 2019. De junho de 2003 até junho de 2004, fui o representante suplente do CREA-SP no Conselho Estadual de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do estado de São Paulo (CONSEMA). Fui indicado para presidir os trabalhos da Comissão Especial de Biodiversidade, Florestas, Parques e Áreas Protegidas, que tinha como tarefa central auxiliar o Conselho Estadual na gestão e acompanhamento das unidades de conservação ambiental do estado de São Paulo. Também fui representante do CREA-SP no Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de São Paulo, nos períodos de 1998-2000 e 2004-2007. Integrei a Câmara Técnica de Saneamento Ambiental, que analisou problemas como o destino final de resíduos da área hospitalar. Participei também de um grupo de trabalho que gerou a Certificação de Qualidade Ambiental, um tipo de selo verde que deveria ser destinado a projetos de empreendimentos que salvaguardem ao máximo o ambiente. Tive, ainda, a oportunidade de fazer uma apresentação sobre “Recursos hídricos na Grande São Paulo” em uma das reuniões do CADES, por sugestão de membros do plenário, da qual resultou a indicação de se remeter para a Câmara Técnica de Saneamento Ambiental a missão de elaborar uma Campanha da Água para o município de São Paulo. Outra exposição que fiz àquele qualificado plenário foi “Mudanças climáticas e suas implicações para São Paulo”, em 2007. A convivência com técnicos da Prefeitura de São Paulo, ambientalistas e pesquisadores estimulou o debate de alternativas para os problemas ambientais desse município. Em março de 2006, tive mais uma experiência em reuniões da ONU ao participar da Oitava Conferência das Partes da Convenção de Diversidade Biológica, realizada em Curitiba (PR). Foi mais uma oportunidade de assistir negociações da ordem ambiental internacional e presenciar a pressão de ONGs, as restrições que alguns países apresentam a determinados assuntos e perceber, mais uma vez, a complexidade do tema. Destaco ainda a participação na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de Janeiro em 2012, que ficou conhecida como Rio+20. Além de organizar um evento na reunião paralela por meio do IEA, que discutiu temas socioambientais que envolviam o Brasil, fui convidado a atuar como mediador dos Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil que teve apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Essa experiência inovadora permitia a um cidadão enviar uma proposta para o plenário da Rio+20 independentemente de ser membro de governo e/ou de uma delegação. Para tal, ele teria que apresentar uma proposta em um dos dez diálogos, a saber: (i) Desemprego, trabalho decente e migrações; (ii) Desenvolvimento Sustentável como resposta às crises econômicas e financeiras; (iii) Desenvolvimento Sustentável para o combate à pobreza; (iv) Economia do Desenvolvimento Sustentável, incluindo padrões sustentáveis de produção e consumo; (v) Florestas; (vi) Segurança alimentar e nutricional; (vii) Energia sustentável para todos; (viii) Água; (ix) Cidades sustentáveis e inovação; e (x) Oceanos. As três propostas mais votadas de cada grupo seriam encaminhadas como resultado da Rio+20. Eu coordenei, com uma colega da França e outra da China, o diálogo II, no qual apresentei uma proposta de taxação das movimentações financeiras para criar um fundo para investimento em tecnologias sustentáveis. Após discussão no grupo, ela foi aprovada para ser encaminhada à plenária, que a referendou e a aprovou entre as encaminhadas aos resultados da Rio+20. Segundo informações da época, cerca de 60.000 pessoas de 193 países participaram das reuniões virtuais de abril a junho de 2012. Nesse período, organizei um livro que procurou contribuir para os debates preparatórios à Rio+20 (RIBEIRO, 2012b). V. PREMIAÇÕES E DEMAIS DISTINÇÕES Para um professor, não há nada mais relevante que o reconhecimento de seus alunos. Em meu caso, isso ocorreu em diversas passagens de minha atuação profissional. A primeira a destacar foi a honrosa indicação como paraninfo das turmas de formandos do curso de Bacharelado em Geografia de 2002 e 2003. Com muita emoção recebi a incumbência de proferir um discurso que pudesse marcar aquele nobre momento na vida dos alunos, seus familiares e amigos. Além de ressaltar a conquista pessoal de cada um, motivo para júbilo, recordo-me de lembrar-lhes a responsabilidade que teriam como profissionais, em quaisquer que fossem as atividades que viessem a desenvolver. Lembrei-lhes do pensamento crítico, uma das marcas da formação do Departamento de Geografia, mas também da importância de buscar alternativas à reprodução da vida em bases diferentes à do padrão hegemônico em nossos dias, que gera muita desigualdade social e graves problemas ambientais. Realcei também a esperança que o Brasil vivia naquele momento com a eleição de uma liderança popular como Presidente da República. O CREA-SP também honrou-me com uma distinção por serviços prestados na área ambiental em 2009. Para minha felicidade, tive várias orientandas que receberam distinções acadêmicas, listadas a seguir: • Simone Scifoni, Prêmio CAPES de melhor Tese de Doutorado de 2007; • Lucy Lerner, melhor Dissertação de Mestrado do PROCAM e Menção Honrosa de melhor Dissertação de Mestrado do Prêmio ANPPAS de 2008; • Luciana Ziglio, Premio Betinho - Cooperar Reciclando Reciclar Cooperando - CEMPRE, Camara Municipal de Sao Paulo, 2009. • Pilar Carolina Villar, melhor Dissertação de Mestrado do PROCAM do período 2008 a 2010; • Zulimar Márita Ribeiro, melhor Tese de Doutorado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema), 2010; • Pilar Carolina Villar, melhor Tese de Doutorado do PROCAM do período 2010 a 2012; • Pilar Carolina Villar, Menção Honrosa do Prêmio CAPES de melhor Tese de Doutorado de 2013; • Zenaida Luisa Lauda Rodriguez, melhor Tese de Doutorado do PROCAM 2018; • Zenaida Luisa Lauda Rodriguez, Menção Honrosa de melhor Tese de Doutorado da rede Waterlat, 2019; • Zenaida Luisa Lauda Rodriguez, Menção Honrosa de melhor Tese de Doutorado do Prêmio ANPPAS, 2019. VI. UM BALANÇO Depois de 34 anos como docente universitário, dos quais 31 no DG, afirmo que a universidade atual é muito diferente da que ingressei. A começar pela impossibilidade de ser aprovado como docente apenas com o título de Bacharel, como eu fui. Hoje, a carreira começa com o título de Doutor. Ou seja, a universidade não julga mais conveniente formar seus quadros. Isso pode trazer alguma vantagem, que é a bem-vinda interação com outras visões do conhecimento e culturas universitárias. Mas gera desvantagens, como um menor vínculo com a instituição e o desconhecimento da dinâmica e história institucional de ingressantes. Outra mudança muito importante é o produtivismo, associado à competição entre docentes, que assola corações e mentes, com sérias consequências pessoais e institucionais. Ao estabelecer métricas quantitativas de produção acadêmica, expressa em artigos publicados em revistas de elevado impacto, a universidade empobreceu, em especial, as Ciências Humanas, que não tinham, e nem necessitavam ter, as métricas empregadas por outros campos do conhecimento para aferir a qualidade de um resultado de pesquisa. Perdeu-se a possibilidade do improviso, do texto especulativo, do ensaio provocador, já que as revistas, mediadas por pares, incitam a uma normatização que transcende as regras formais de submissão. Trata-se de uma verdadeira, e avassaladora, maneira de impor um modelo de ciência, mesmo às Humanidades, que parecem estar próximas a sucumbir a essas demandas. Espero estar enganado neste diagnóstico. Atuei na CAPES junto à área Interdisciplinar e estive entre os que subscreveram o documento que criou a área de Ciências Ambientais. Participei de duras discussões para que um livro e um capítulo de livro fossem aceitos como resultados de pesquisas, o que era consenso na nova área, mas negado por outras do campo Interdisciplinar. Criaram-se parâmetros para definir um livro, com uma série de exigências a serem cumpridas por editores e autores. Foi o custo para que fossem aceitos, mas ainda com muita resistência, que não foi de todo superada. Na gestão das políticas socioambientais no Brasil, verifica-se um desmonte a partir de janeiro de 2019. O governo empossado naquele ano, entre outras tantas ações, esvaziou o Ministério do Meio Ambiente ao retirar de seu âmbito a Agência Nacional da Água, bem como o Cadastro Ambiental Rural. Também decretou mudanças no Conselho Nacional de Meio Ambiente e flexibilizou a fiscalização do desmatamento. Como resultado, assistiu-se ao maior desmatamento e quantidade de focos de incêndio da história do Brasil em 2020. Com este quadro, cabe a pergunta: valeu a pena o esforço despendido? Sim! Nestes anos convivi com colegas de diferentes áreas do conhecimento, países e unidades da Federação do Brasil, que me ensinaram a ser mais tolerante do que era no começo da minha carreira. Também agradeço aos meus professores, bem como aos geógrafos, mestres e doutores que formei até o momento, pelas ricas discussões travadas em nossas reuniões de trabalho no Laboratório de Geografia Política do DG, o GEOPO, como o chamamos. Agradeço aos pós-doutores que supervisionei até aqui. Por este grupo, que está registrado no CNPq com o nome de “Geografia política e meio ambiente”, passaram geógrafos, mas também arquitetos, advogados, internacionalistas, historiadores, sociólogos, biólogos, engenheiros, entre outros. Agradeço ao DG e às agências de fomento, que ampararam pesquisas que resultaram em mais capacidade de assimilar o complexo mundo da ordem ambiental internacional. Agradeço à Tamires Oliveira pelo convite a elaborar este texto. Por fim, mas não menos importante, espero que esse conjunto de publicações, de mestres, doutores e geógrafos formados, possam contribuir para um mundo melhor, menos desigual, no qual as relações humanas sejam pautadas pela solidariedade, tolerância e respeito, com menos impactos socioambientais. Desejo, ainda, que a Geografia que produzi conquiste aceitação política para avançar nessas trilhas. E sigo na luta, porque tem muito trabalho pela frente... REFERÊNCIAS BUCKERIDGE, Marcos; RIBEIRO, Wagner Costa. Uma visão sistêmica das origens, consequências e perspectivas das crises hídricas na Região Metropolitana de São Paulo. In: Marcos Buckeridge; Wagner Costa Ribeiro (Org.). Livro branco da água. A crise hídrica na Região Metropolitana de São Paulo em 2013-2015: origens, impactos e soluções. São Paulo: Instituto de Estudos Avançados, 2018, v. 1, p. 14-21. http://www.iea.usp.br/publicacoes/ebooks/livro-branco-da-agua. CASTRO, José Esteban; RIBEIRO, Wagner Costa. Waterlat Network International Conference: the Tension Between Environmental and Social Justice in Latin America: the Case of Water Management. São Paulo: CNPq/FAPESP, 2010. http://200.144.254.127:8080/iea/textos/waterlat/index.html. ESPÍNDOLA, Isabela Battistello; LEITE, Maria Luisa Telarolli Almeida; RIBEIRO, Wagner Costa. South-American Transboundary Waters: The Management of the Guarani Aquifer System and the La Plata Basin Towards the Future. In: R. Brears (Org.). The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies. 1ª ed. Springer International Publishing, 2020, p. 1-35. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-030-32811-5_51-1. ESPÍNDOLA, Isabela Battistello; RIBEIRO, Wagner Costa. Transboundary waters, conflicts and international cooperation - examples of the La Plata basin. Water International, v. 45, p. 1-18, 2020. DOI: 10.1080/02508060.2020.1734756. INACIO JR., Paulo; RIBEIRO, Wagner Costa. Tratado de Itaipu: geopolítica e a negociação de 2008-2009. In: Cláudio Antonio Di Mauro; Renata Ribeiro de Araújo; Antonio Cezar Leal (Org.). Sustentabilidade em bacias hidrográficas: políticas, planejamento e governança das águas. 1ª ed. Tupã: ANAP/Associação dos Amigos da Natureza da Alta Paulista, 2019, v. 1, p. 61-78. HATCH KURI, Gonzalo; TALLEDOS SÁNCHEZ, Edgar. Una mirada a la geografía política brasileña: conversación con el geógrafo Wagner Costa Ribeiro. Investigaciones Geográficas, (102), 2020. https://doi.org/10.14350/rig.60199. LEITE, Maria Luísa Telarolli de Almeida; RIBEIRO, Wagner Costa. The Guarani Aquifer System (Gas) and the Challenges for Its Management. Journal of Water Resource and Protection, v. 10, p. 1222-1241, 2018. DOI: 10.4236/jwarp.2018.1012073. MARTINEZ-ALIER, Joan. Ecologismo dos pobres. São Paulo: Contexto, 2007. MELLO-THÉRY, Neli Aparecida; BRUNO, L.; DUPONT, Veronique; ZERAH, M.; CORREIA, B. O.; SAGLIO-YATZIMIRSKY, Marie-Caroline; RIBEIRO, Wagner Costa. Public Policies, Environment and Social Exclusion. In: Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky; Frédéric Landy (Org.). Megacity slums: social exclusion, space and urban policies in Brazil and India. London: Imperial College Press, 2014, v. 1, p. 213-256. PAULA, Mariana de; RIBEIRO, Wagner Costa. Hidro-hegemonia e cooperação internacional pelo uso de água transfronteiriça. Waterlat-Gobacit Network Working Papers, v. 2, p. 92-107, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3512.0240. RAMIRES, Jane; RIBEIRO, Wagner Costa. Gestão dos Riscos Urbanos em São Paulo: as áreas contaminadas. Confins (Paris), v. 13, p. 7323, 2011. RIBEIRO, Wagner Costa. COVID-19: passado, presente e futuro. São Paulo: Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 2020. https://doi.org/10.11606/9786587621319. RIBEIRO, Wagner Costa. Shared use of transboundary water resources in La Plata River Basin: utopia or reality? Ambiente e sociedade, São Paulo, v. 20, n. 3, p. 257-270, 2017. https://doi.org/10.1590/1809-4422asocex0005v2032017. RIBEIRO, Wagner Costa. Justiça espacial e justiça socioambiental: uma primeira aproximação. Estudos Avançados, v. 31, p. 147-165, 2017a. http://dx.doi.org/10.1590/s0103-40142017.31890014. RIBEIRO, Wagner Costa. Soberania: conceito e aplicação para a gestão da água. Scripta Nova (Barcelona), v. XVI, p. 01-11, 2012. https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/14816. RIBEIRO, Wagner Costa. Por dentro da Geografia. Coleção em 4 volumes (com Manual do Professor). São Paulo: Saraiva, 2012a. RIBEIRO, Wagner Costa. Governança da ordem ambiental internacional e inclusão social. 1ª ed. São Paulo: Annablume, 2012b. RIBEIRO, Wagner Costa. Oferta e estresse hídrico na região Metropolitana de São Paulo. Estudos Avançados (USP Impresso), v. 25, p. 119-133, 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142011000100009. RIBEIRO, Wagner Costa. Biodiversidade e oferta hídrica: possibilidades para São Tomé e Príncipe. In: Norma Valencio; Wagner Costa Ribeiro (Org.). São Tomé e Príncipe, África: desafios socioambientais no alvorecer do séc. XXI. 1ª ed. São Carlos: Rima, 2010, v. 1, p. 51-69. RIBEIRO, Wagner Costa. Governança da água no Brasil: uma visão interdisciplinar. 1ª ed. São Paulo: Annablume/Fapesp/CNPq, 2009. RIBEIRO, Wagner Costa. Geografia política da água. São Paulo: Annablume, 2008. RIBEIRO, Wagner Costa. Aqüífero Guarani: gestão compartilhada e soberania. Estudos Avançados (USP Impresso), v. 22, p. 227-238, 2008a. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142008000300014. RIBEIRO, Wagner Costa. Impactos das mudanças climáticas em cidades no Brasil. Parcerias Estratégicas (Impresso), v. 27, p. 297-321, 2008b. RIBEIRO, Wagner Costa. Gestão da água em Barcelona. Scripta Nova. Barcelona, v. IX, p. 1-12, 2005. https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/982. RIBEIRO, Wagner Costa. Ecologia política: ativismo com rigor acadêmico. Biblio 3W. Barcelona, v. VII, n. 364, p. 01-20, 2002. http://www.ub.edu/geocrit/b3w-364.htm. RIBEIRO, Wagner Costa. Trabalho e ambiente: novos profissionais ou nova demanda? Scripta Nova. Barcelona, v. VI, n. 119 (98), p. 01-14, 2002a. http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-98.htm. RIBEIRO, Wagner Costa. Milton Santos: aspectos de sua vida e obra. Scripta Nova. Barcelona, v. VI, n. 124, p. 01-04, 2002b. http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-124.htm. RIBEIRO, Wagner Costa. Globalização e Geografia em Milton Santos. Scripta Nova. Barcelona, v. VI, n. 124, p. 01-09, 2002c. http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-124h.htm. RIBEIRO, Wagner Costa. Mudanças climáticas: realismo e multilateralismo. Terra Livre, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 75-84, 2002d. RIBEIRO, Wagner Costa. A ordem ambiental internacional. São Paulo: Contexto, 2001. RIBEIRO, Wagner Costa. A ordem ambiental internacional. São Paulo: Tese de Doutorado. USP, 1999. RIBEIRO, Wagner Costa. Os militares e a defesa no Brasil: a indústria de armamentos. São Paulo: 1994. Dissertação de Mestrado. USP, 1994. RIBEIRO, Wagner Costa; ARAÚJO, Regina; GUIMARÃES, Raul Borges. Construindo a Geografia. Coleção em 4 volumes (com Manual do Professor e Caderno de Atividades). São Paulo: Moderna, 1999. RIBEIRO, Wagner Costa; GAMBA, Carolina; ZIGLIO, Luciana. Geo Conecte live. Coleção em 3 volumes (com Manual do Professor e Caderno de Atividades). São Paulo: Saraiva, 2018. RIBEIRO, Wagner Costa; GUIMARÃES, Raul Borges; KRAJEWSKI, Ângela. Geografia, pesquisa e ação. São Paulo: Moderna, 2000. RIBEIRO, Wagner Costa; GUIMARÃES, Raul Borges; POLONI, Delacir Ramos. Aprendendo a construir Geografia. Coleção em 4 volumes (com Manual do Professor). Curitiba: Arco-Íris, 1994. RIBEIRO, Wagner Costa; SANT’ANNA, Fernanda Mello. Water security and interstate conflict and cooperation (Seguretat hídrica i conflicte i cooperació interestatals). Documents d'Anàlisi Geogràfica, v. 60, p. 573-596, 2014. DOI: https://doi.org/10.5565/rev/dag.150. RIBEIRO, Wagner Costa; SANT’ANNA, Fernanda Mello; VILLAR, Pilar Carolina. Desafios para a cooperação internacional nas águas transfronteiriças na América do Sul. In: Wagner Costa Ribeiro (Org.). Conflitos e cooperação pela água na América Latina. 1ª ed. São Paulo: PPGH/Annablume, 2013, p. 77-100. RIBEIRO, Wagner Costa; SANTOS, Cinthia Leone Silva; SILVA, Luis Paulo Batista. Conflito pela água, entre a escassez e a abundância: marcos teóricos. Ambientes: Revista de Geografia e Ecologia Política, v. 1, p. 11, 2019. https://doi.org/10.48075/amb.v1i2.23619. RIBEIRO, Wagner Costa; ZANIRATO, Silvia Helena; CAPEL, Horacio. Horacio Capel: una mirada sobre el mundo desde la Geografía. GEOUSP: espaço e tempo, p. 195-210, 2010. https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2010.74165. VALENCIO, Norma Felicidade; RIBEIRO, Wagner Costa (Org.). São Tomé e Príncipe, África: desafios socioambientais no alvorecer do séc. XXI. São Carlos: Rima, 2010. VILLAR, Pilar Carolina; RIBEIRO, Wagner Costa; SANT’ANNA, Fernanda Mello. Transboundary governance in the La Plata River basin: status and prospects. Water International, v. 43, p. 1-18, 2018. DOI: 10.1080/02508060.2018.1490879. VILLAR, Pilar Carolina; RIBEIRO, Wagner Costa. The Agreement on the Guarani Aquifer: a new paradigm for transboundary groundwater management? Water International, v. 36, p. 646-660, 2011. DOI: 10.1080/02508060.2011.603671. ZANIRATO, Silvia Helena; RAMIRES, Jane; AMICCI, Ana; RIBEIRO, Zulimar Márita; RIBEIRO, Wagner Costa. Sentidos do risco: interpretações teóricas. Biblio 3w (Barcelona), v. XIII, p. 1-13, 2008. http://www.ub.edu/geocrit/b3w-785.htm. ZIGLIO, Luciana Aparecida Iotti; RIBEIRO, Wagner Costa. Socioenvironmental networks and international cooperation: the Global Alliance for Recycling and Sustainable Development - GARSD. Sustentabilidade em Debate, v. 10, p. 396-425, 2019. https://periodicos.unb.br/index.php/sust/article/view/19328.
WAGNER COSTA RIBEIRO WAGNER COSTA RIBEIRO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Neste texto estão descritos momentos que vivi como geógrafo, professor e pesquisador ao longo de minha trajetória, ainda em construção. Esse exercício, de certo modo, não foi uma novidade, posto que a Universidade de São Paulo (USP), onde ingressei em 1989 como docente, exige a elaboração de memoriais para avançar na carreira. Portanto, a base do que segue foi retirada do Memorial apresentado para a obtenção do título de Livre Docente no Departamento de Geografia (DG) da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, de 2004, e do Memorial apresentado para o concurso de professor Titular, de 2010. O esforço maior decorreu da atualização de informações, bem como da seleção do que apresentar. Inicio com minha formação, desde os primeiros bancos escolares, até os dois pós-doutorados que concluí. Ressalto que sempre frequentei a escola pública e que há mais de 30 anos sou professor de uma Universidade pública. Também ressalto que parte de minha qualificação como geógrafo e pesquisador decorreu de bolsas de agências de fomento, como a de Iniciação Científica, obtida junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), e a de mestrado, junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Como já era docente da USP, não tive financiamento para o doutorado, mas meus dois pós-doutorados foram apoiados pela FAPESP e pela CAPES. Além disso, desde a década de 2000 sou bolsista Produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Essas agências foram fundamentais, para mim, mas também para o desenvolvimento de muitos estudantes que trabalharam comigo. Estar no DG na década de 1980 como aluno também foi outro momento central em minha formação. Tive a oportunidade de conviver com grandes mestres, que mostraram mais que uma Geografia crítica. Eles indicaram caminhos éticos e de luta política, reforçados após meu ingresso como docente. Recordo dessas trocas em diversas funções, como a que desenvolvi no DG, na coordenação do Doutorado Interinstitucional entre a USP e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), associado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) e à Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Com participação de 21 docentes do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana do DG, teve como objetivo ampliar a formação de doutores na Amazônia. Financiado pela CAPES, até a conclusão deste texto ainda estava em andamento. Atuar na FFLCH sempre foi estimulante porque presenciei discussões intensas, seja na Congregação, seja em seminários e bancas examinadoras, fundamentadas na melhor tradição do pensamento crítico. Espero que também possa ter contribuído para essas contendas. Minha atuação no DG foi extrapolada para outras unidades da USP. Ela começou a convite do professor Shozo Motoyama, professor Titular do Departamento de História da FFLCH, para um projeto no Centro Interunidade de História da Ciência, que ele coordenava. Mais tarde, tive oportunidade de aprofundar o debate interdisciplinar tanto no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM), que dirigi entre 2006 e 2008, quanto no Instituto de Estudos Avançados (IEA), quando participei, e depois coordenei, entre 2008 e 2012, o grupo de pesquisa de Ciências Ambientais. Outro desafio na construção deste documento era apontar elementos diferentes dos expostos em entrevista concedida a dois pesquisadores mexicanos (HATCH KURI; TALLEDOS SANCHEZ, 2020). Por isso, decidi contar uma história sobre minha vida. Essa escolha certamente tem relação com o momento em que este texto foi gerado, em plena pandemia causada pelo SARS-CoV-2, que gerou muitas perdas de vidas, em especial no Brasil, onde faltou determinação e coordenação no combate à COVID-19, como foi explicitado por vários colaboradores no livro que organizei (RIBEIRO, 2020). Além desta introdução, o texto tem mais sete partes. Na primeira, combino minha escolarização aos lugares onde vivi em São Paulo, do ensino fundamental à pós-graduação. Comento ainda os dois pós-doutorados realizados em Barcelona. Em seguida, abordo os trabalhos mais destacados, sem basear-me em levantamentos bibliométricos, mas usando minha intuição, construída a partir de conversas com muitos interlocutores ao longo de mais de três décadas de trajetória profissional como pesquisador e docente de ensino superior. A cooperação internacional é o próximo item, posto que gerou oportunidades para aprimorar temas de pesquisa e metodologias de análise, mas também muitos diálogos. Depois, comento participações em eventos não acadêmicos que influenciaram minha produção acadêmica. Após, apresento distinções que obtive, a maior parte por meio do reconhecimento de minhas alunas. Encerro com um balanço, antes de listar as referências. I. A FORMAÇÃO Mergulhar em minha existência anterior ao ingresso no curso de Geografia do DG tem como objetivo dar pistas de quem sou e de onde vim. De imediato aviso ao leitor: sou paulistano e migrei por alguns bairros da maior megacidade do Brasil. Meus pais, nascidos em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba paulista, casaram-se em 1961. Eu nasci em novembro de 1962 no Hospital do Servidor Público, localizado na Zona Sul do município de São Paulo, graças à condição de técnico agropecuário na Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de São Paulo de meu pai. Minha mãe desempenhava, com muito afinco, as funções de dona de casa, como era frequente entre as mulheres de sua geração. Depois do Servidor minha parada foi a rua Traipú, em Perdizes (Zona Oeste), onde vivi até os nove anos de idade. Na esquina de casa ficava o Cine Esmeralda. Era uma tranquilidade assistir aos filmes, comer pipoca e retornar para casa a pé. Pena que o cinema acabou. Virou uma loja de sapatos, depois de tecidos, e minha diversão foi-se. A casa onde morava foi demolida, e um edifício foi construído em seu terreno. Tudo era feito a pé, incluindo supermercado. Minhas primeiras responsabilidades foram delegadas na época e consistiam em ir à padaria ou à quitanda comprar algo que havia faltado para o almoço. Com frequência, eu, minha irmã Katya (hoje psicóloga clínica) e meus pais caminhávamos até a Praça Marechal Deodoro para tomar sorvete de massa. O Parque da Água Branca também era sempre visitado. Vi muitas vezes a avenida Pacaembu alagada devido às chuvas fortes. Eu e meus amigos ficávamos na rua Cândido Espinheira espiando o imenso rio que se formava criando um obstáculo que poucos enfrentavam, fosse motorizado ou a pé. Essa situação só deixou de ocorrer no final dos anos 1990, com a construção de reservatórios para água pluvial. Joguei muita bola contra os meninos que moravam nas ruas Capitão Messias e Cândido Espinheira. O “campo” variava entre as ruas Traipú e a Capitão, mas a maior parte das disputas ocorria na rua em que morava. Claro que minha preferência já era pelo São Paulo Futebol Clube. Vestia, com orgulho, a camisa 10 de Gerson, depois usada por Pedro Rocha... Quantas vezes fui ao estádio do Morumbi acompanhar aquele time? Não me lembro, mas foram muitas, incluindo outras tantas ao estádio do Pacaembu, onde me sentava ao lado de torcedor do outro time sem problema algum, apesar de estar usando a camisa do São Paulo, sempre em companhia de meu pai. Deixei de jogar contra a turma da Capitão e da Cândido graças a um prefeito que não tinha sido eleito, conforme descobri alguns anos depois. Ele inventou uma nova diversão para a garotada, talvez para compensar o fim da nossa “cancha”: uma autopista para andar de bicicleta com os amigos, o que exigia um pacto de silêncio dos envolvidos. Ai se alguma mãe soubesse… Durante as obras ficou impossível jogar bola na Traipú! Eram muitos caminhões transitando, o que indicava uma mudança nessa parte da outrora pacata rua. Em paralelo a isso, durante meses (ou teria sido um ano letivo?), a bela Praça do Largo Padre Péricles, que abrigava o povo depois da missa, na qual senti pela primeira vez o gosto de vinho que acompanhava a hóstia, transformou-se em um buraco. Era muito interessante observar aquela terra vermelha e dava mesmo era vontade de descer até o fundo. Uma dessas manhãs, antes de sair para o colégio, vi no jornal de meu pai uma foto da autopista, chamada de Elevado Costa e Silva, apelidada de Minhocão, que teve seu nome alterado em 2016 para Elevado Presidente João Goulart. Tratava-se de uma das maiores intervenções urbanas registradas no município: um viaduto de cerca de 3 km de extensão que liga a Zona Oeste à Zona Central, até desaguar o trânsito na Avenida Radial Leste, que leva à Zona Leste. Ele foi inaugurado em 25 de janeiro de 1971, ano que marcou o fim dos passeios proibidos de bicicleta e, também, das partidas de futebol na Traipú, que passou a receber muito tráfego em sua última quadra. 1. O ENSINO FUNDAMENTAL Minha vida não era só correr atrás de bola e andar de bicicleta. Estudava no então Grupo Escolar Pedro II, que ainda está lá, na rua Marta, esquina com Tagipuru. Aquela era uma excelente escola! Tinha merenda e até um oftalmologista, que passava por lá de vez em quando e me afastou um pouco da bola depois que constatou uma miopia. Ganhei óculos antes de completar sete anos, o que não me impediu de jogar futebol na rua Traipú. No começo, estranhei um pouco, mas depois continuei firme, embora sem sonhar tanto em virar boleiro. A escola era muito interessante. Dona Nanci ensinou-me a escrever em 1969. Dona Juraci a fazer contas, na segunda série, e na quarta série eu tinha três ou quatro professoras, que se dividiam para dar aulas de português, matemática e estudos sociais, pelo que me lembro. Era, apurei muitos anos mais tarde, um projeto experimental para preparar os alunos para enfrentar a maior quantidade de disciplinas e de professores na quinta série. Pouco mais de um ano depois da inauguração do Minhocão, mudamos para o bairro do Limão, na Zona Norte de São Paulo. No caminho para a casa que meu pai comprou vi muitos campos de futebol, o que me indicava que a camisa do São Paulo ia ser novamente usada. Criei novas amizades e mantive as partidas de futebol. Mas havia outras novidades: empinar pipas, rodar pião, jogar bolinha de gude, guerra de mamonas, jogar taco, enfim, havia grandes áreas sem uso, os chamados vazios urbanos, muitas usadas como campos de futebol, outras para improvisar o que seriam pistas de bicicross, em linguagem atual. Uma maravilha, não fosse pelo tom avermelhado da terra e as broncas de minha mãe por causa da roupa suja. Ia a pé para a Escola Estadual Luiz Gonzaga Righini, na Avenida Deputado Emílio Carlos, onde estudei da quinta à oitava série. Lá surgiram novas experiências: as primeiras namoradas, a primeira peça de teatro, os primeiros livros: Julio Verne, Machado de Assis, contos de Drummond, Monteiro Lobato, entre outros. Naquela escola também tive professores dedicados. Lembro-me do professor Herrera, de Matemática, com seus compassos para giz, mais tarde substituído por Dona Leila, muito mais nova que o anterior. A professora Conceição, de Biologia, incentivou-me muito a prestar o vestibulinho para a então Escola Técnica Federal de São Paulo. A professora Leonor ensinava Redação, Gramática e Literatura. O seu Marinho, de Geografia, era temido por ser severo e tinha outra peculiaridade: havia escrito o livro usado em suas aulas. Tinha também a Silvia, que lecionava Estudos Sociais, que nos obrigava a ler jornal toda semana e comentar por escrito uma notícia. No Righini fui, finalmente, campeão de futebol de salão do colégio na oitava série. Seleção do colégio? Nunca fui chamado, o que encerrou o sonho de ser jogador de futebol. Nesses quatro anos eu e o bairro nos transformamos. Passei a andar menos de bicicleta, até porque os terrenos livres foram transformados, dando lugar a prédios. Minha irmã mais nova, Ana Rosa, hoje psicóloga clínica e mãe de duas meninas – Isadora e Rafaela –, não teve a mesma sorte que eu. Andar de bicicleta para ela só na rua de casa, a José Machado Ribeiro. Aos poucos, comecei a descobrir a “cidade”, em especial o centro antigo. No início, para assistir a filmes em cinemas, como o Independência, no largo do Paissandu, o Marrocos, na rua Conselheiro Crispiniano, e o Comodoro, na avenida São João. Mais tarde, no segundo semestre de 1976, ingressei em um curso preparatório para o vestibulinho, e a rotina de andar de ônibus instalou-se. Diariamente ia ao largo do Arouche (Zona Central) para assistir às aulas depois do colégio e retornava em ônibus lotado no início da noite. 2. DO ENSINO MÉDIO À UNIVERSIDADE Ingressei na Escola Técnica Federal de São Paulo em 1977, atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia São Paulo (IFT-SP), que fica na Rua Pedro Vicente, no Canindé, bairro de ligação entre o Centro e a Zona Leste de São Paulo. Exercendo a adolescência, descobri o metrô e a metrópole. Na “Federal”, como ainda hoje é chamada, tinha amigos de todos os cantos da pauliceia – nome que já podia emprestar de Mário de Andrade depois de ler alguns de seus livros –, mas também de municípios da Região Metropolitana de São Paulo, como Caieiras e Franco da Rocha. A metrópole apresentava-se diante de meus olhos por meio de novas amizades escolares. A convivência na Federal era intensa. As aulas começavam à tarde, mas pela manhã tínhamos Educação Física. Além disso, como todo mundo morava longe de lá, as reuniões de trabalho aconteciam na biblioteca da escola. Resultado: saía de casa pela manhã e retornava no início da noite, em companhia dos amigos no metrô e depois enfrentando ônibus lotado. Uma das experiências mais inusitadas na Federal foi praticar rúgbi no primeiro ano. Apesar dos óculos, era veloz e acabei jogando como ponta-esquerda no time do colégio. Não era o titular, mas ingressei durante alguns jogos e iniciei outros menos importantes, sem saber por que até hoje. O grande momento era o treino. Era muito interessante pertencer àquele grupo, que se distinguia dos demais times da escola pela organização autônoma. Não havia um professor de Educação Física que acompanhasse os treinamentos, como ocorria com as equipes de basquete ou de voleibol da temida Federal. O técnico era um estudante de Medicina, de quem lembro apenas o primeiro nome: Paulo, o Paulinho, como o chamávamos. O rúgbi, que teve destaque na organização do esporte moderno na Inglaterra no século XIX, também serviu para que eu aprendesse a reivindicar. Como a atividade não estava regulamentada, foi acordado com os professores de Educação Física que o treino de rúgbi não seria considerado atividade física regular, ou seja, as aulas de Educação Física tinham que ser frequentadas pelos praticantes de rúgbi. Os treinamentos, que ocorriam no campo de futebol, só poderiam ser realizados em horários livres, depois que as demais modalidades o usassem. Por isso eles eram realizados próximo ao almoço. Também foi negado apoio material, o que levou à necessidade de organizar rifas para a compra de bolas e uniforme para os jogos. Solidariedade e espírito de grupo foram agregados à minha formação pelo rúgbi. Como dizia o Paulinho, nesse esporte você não consegue avançar sozinho. É raro conseguir dar mais que três passos sem contato com algum oponente. O primeiro te desequilibra, o segundo te empurra e o terceiro, certamente, te derruba. Por isso era tão importante passar a bola e avançar sempre com o apoio dos companheiros para não ser “esmagado” pelos adversários. Os jogos contra os principais times da época exerciam fascínio em todos. Os maiores rivais eram o Liceu Pasteur, o Colégio Objetivo, o Colégio Rio Branco e o Colégio Santo Américo, todos de elite. A Federal era a única escola pública, o que dava um caráter de “luta de classes” aos jogos. Ao final, havia o cumprimento, uma prática que permanece até hoje entre os praticantes dessa modalidade esportiva, incluindo mulheres. Mas a rivalidade só crescia a cada jogo. Os anos na Federal propiciaram uma série de indagações. O país era governado por uma ditadura militar desde 1964, e a organização estudantil estava proibida. Como não havia Grêmio, começou um movimento no colégio para que ele fosse criado. Depois de muita negociação, sem assembleia, proibida na época, o Grêmio foi instalado em uma sala com mesas de pingue-pongue e de bilhar. O professor que se responsabilizou pelos estudantes diante da direção era Nelson Massataki, professor de Geografia que trabalhou no Departamento de Geografia da USP antes da Federal. Estudei muito nos anos em que permaneci no ensino médio. Na Federal o ritmo era um mês e meio de aulas e quinze dias de “martírio” (isso do ponto de vista de um estudante, obviamente), período em que eram cobrados relatórios, provas e seminários. As disciplinas de Humanas, Geografia, História e Teatro foram ministradas no primeiro ano e eram vistas com muito preconceito entre os alunos. Só no terceiro ano fui ter Sociologia, com o professor Lima, algo como estudos dos problemas brasileiros, literatura e redação. A professora Candelária, responsável por Literatura Brasileira, apesar das dificuldades, sensibilizava os alunos, o mesmo ocorrendo com o professor de Redação, de quem infelizmente não recordo o nome. Alguns amigos da Federal começaram a se politizar, e me envolvi nesse processo. Comparecíamos a eventos ligados à luta pela anistia aos presos políticos e aos exilados do país, em especial shows e concentrações populares. Durante o quarto ano, que servia como profissionalização para formar um Técnico em Mecânica, título que obtive, frequentei também o curso preparatório para vestibular do Equipe, com apoio de uma bolsa que reduziu muito a mensalidade, que ficava na rua Martiniano de Carvalho, na Bela Vista, área central do município de São Paulo. Lá, outras tantas mudanças ocorreram em minha vida. Existiam grupos que faziam panfletagens em porta de fábrica na região de Santo Amaro, na época com grande concentração de fábricas na Zona Sul de São Paulo. Engajei-me e participei de algumas dessas iniciativas. Eu ficava com a impressão de que os metalúrgicos não prestavam muita atenção aos nossos papéis. De todo modo, foi uma experiência importante, porque me mostrou um lado da megalópole paulista que eu não conhecia até então: lugares do trabalho operário. A maior reivindicação na época de cursinho era o direito à carteira de estudante e às suas vantagens, como a de comprar passe escolar, pagar meia-entrada em eventos culturais, entre outras. Isso era muito distante do mundo dos operários! Em um dia de 1980, alguém apareceu no Equipe e falou algo como: “To indo pra Vila Euclides. Vai ter uma concentração por lá e é preciso muita gente junta porque os milicos vão querer descer o pau”. Naquela hora surgiu um espírito que combinou aventura com curiosidade. Lá fui eu para São Bernardo do Campo. Foi impressionante ver o estádio lotado e militares no entorno enquanto Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, discursava. O “pau não comeu” e retornei para casa sem problemas. No cursinho, as aulas de Humanas começaram a me atrair. Tive aula com Sergio Rosa de Geografia, com Laura Toti e José Genoíno – depois Deputado Federal e Presidente do Partido dos Trabalhadores – de História, com Gilson de Redação, cujos ensinamentos procuro empregar até hoje, e com o Luís, um professor de Literatura que mostrou um outro olhar sobre romances e contos. No intervalo, pela manhã, ocorriam dois eventos todos os dias: a passagem de uma viatura da polícia e uma atividade cultural. Podia ser uma intervenção artística, uma canja com cantores locais, entre eles Mario Manga do Premeditando o Breque, o grupo Língua de Trapo ou os Titãs (ainda com outro nome), de que me recordo bem. Nos finais de semana voltava ao Equipe, mas não para estudar. Ia assistir aos shows organizados por Sérgio Groisman, agitador cultural do colégio que depois se tornou um importante comunicador para a juventude. No auditório e no pátio do Equipe assisti a apresentações de Itamar Assunção, Arrigo Barnabé e sua banda, Premeditando o Breque, Raul Seixas, A Cor do Som e Gilberto Gil, entre outros. Vivi intensamente aquele ambiente ao longo do ano. Todo esse conjunto refletiu em minha opção para o vestibular. Não desejava mais cursar Engenharia e inscrevi-me para cursar Geologia. Não passei na primeira fase da Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST), que organiza o vestibular para a USP, e também não fui aprovado na Universidade Estadual Paulista (UNESP). O ano seguinte foi diferente. Não tinha mais paciência para cursinho. Resolvi estudar sozinho e trabalhar. O primeiro emprego bateu à porta de minha casa. Uma equipe de venda de assinaturas do Círculo do Livro (um “clube” de leitores que oferecia livros por meio de um catálogo mensal) visitou minha rua. O rapaz insistiu muito para que eu aderisse ao plano, chamando até seu chefe de equipe para tentar me convencer. Para eles era absurdo alguém ler tanto como eu e não ingressar como cliente da empresa. Eu dizia que queria ter liberdade de escolha. Ao final da polêmica não me filiei e ainda recebi um convite do chefe: “Olha, vai ter uma seleção para novas equipes. Por que você não aproveita e passa por lá?” Não hesitei. Trabalhar com livros era algo que me atraía, ao mesmo tempo que ia voltar para a rua. Fui aprovado na seleção e acabei me destacando como o segundo ou terceiro em vendas de assinatura no Estado de São Paulo por vários meses seguidos. Acredito que isso ocorreu porque gostava de ler e conhecia parte do catálogo, que aliás era cheio de best-sellers, a seção que eu conhecia menos... mas tinha lá peças teatrais, clássicos da política, literatura brasileira, entre outros temas. Novamente aprendi a importância do grupo. Os resultados e o salário eram quantificados individualmente, mas havia também um objetivo para a equipe que deveria ser atingido. Fui convidado a chefiar equipes, mas não aceitei. Minha intuição me dizia que não devia ampliar meu compromisso com aquela empresa de capital estrangeiro. Outro aspecto muito interessante era que as equipes, compostas por sete promotores (expressão deles) mais um chefe, percorriam ruas de determinadas regiões do município de São Paulo, criadas pelo diretor da área comercial. As equipes que integrei sempre atuaram na Zona Sul, num amplo espectro que partia da Vila Mariana até os limites com a Via Anchieta! Com isso percorri muitas ruas e avenidas observando as diferenças socioespaciais de São Paulo. Em meio a isso veio o vestibular de 1982. Como gostava de escrever, prestei para Jornalismo. Estava feita a transição para as Ciências Humanas. Em meu segundo vestibular da FUVEST, passei para a segunda fase e aí parei. Avancei em relação ao ano anterior, o que me motivou a tentar mais um ano. No vestibular de 1983 inscrevi-me para Geografia e fui aprovado! 3. A GRADUAÇÃO De imediato, uma surpresa. Ao chegar ao DG como aluno, percebi que poucos colegas sabiam que existia a profissão de geógrafo. Talvez por isso, passei a militar desde as primeiras aulas pela categoria, seja no Centro Acadêmico Capistrano de Abreu (CEGE), seja na Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) e, mais tarde, como Conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP), onde atuei por nove anos, o equivalente a três mandatos. As aulas iniciais assustavam porque eram carregadas de discussão teórica, algo muito distante mesmo das melhores escolas. Apesar das dificuldades, em especial pela conjuntura na qual se afirmava uma suposta crise da Geografia, concluí o primeiro semestre, mas meio desiludido. Isso foi se alterando aos poucos. O convívio com geógrafos e estudantes de Geografia foi intenso no período de 1983 a 1986. As aulas na USP eram excelentes e ministradas por mestres como Ana Fani Alessandri Carlos, Antonio Carlos Robert Moraes, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Armando Correa da Silva, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, Gil Sodero de Toledo, Iraci Gomes de Vasconcelos Palheta, José Pereira de Queiróz Neto, Jurandyr Sanches Ross, Manoel Seabra, Maria Elena Simielli, Sandra Lencioni, Wanderley Messias da Costa, entre outros. No final de 1983, junto com vários colegas, como Regina Gagliardi, Eduardo Sasaki, Nelson Fujimoto, Marina e Irene Uehara, realizamos a GERARTE, um dia inteiro repleto de atividades culturais. Esse evento, em um domingo de novembro (seria o último?), levou ao prédio de Geografia e História grupos de música, de teatro, oficinas e mostra de filmes, atraindo os usuários do campus, que naquela época ainda era aberto à comunidade paulistana aos domingos. Participei de dois Encontros Nacionais de Estudantes de Geografia. O primeiro serviu como estímulo a continuar o curso. Realizado em São Luís do Maranhão, em 1983, permitiu-me conhecer colegas de vários pontos do Brasil que também estavam empenhados em discutir e tratar dos problemas da Geografia, como Deise Alves e Francisco Mendonça. A primeira tornou-se ativista do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e o segundo, professor da Universidade Federal do Paraná. Meu envolvimento foi ainda mais intenso no Encontro de 1985. Integrei a comissão que discutiu o temário do evento. Em minhas lembranças ficaram festas e viagens inesquecíveis para Vitória, no Espírito Santo. E muita atividade política, que na época envolvia a luta pela volta das eleições diretas em todos os níveis e a reforma agrária, entre outros assuntos. Destaco ainda as idas de trem a Rio Claro (SP) para tratar do movimento estudantil paulista e da União Paulista dos Estudantes de Geografia (UPEGE). No âmbito da USP, minha participação no CEGE ocorreu de forma mais intensa em 1985, embora fosse pontual nos dois anos iniciais da Faculdade, com a vitória de uma proposta anarquista. A chapa “Nunca fomos tão felizes” ganhou de um grupo liderado por membros do Partido Comunista. Nossa maior luta foi pela reforma curricular, resultando em plenárias cheias de gente envolvida na discussão da formação do geógrafo. Além disso, houve engajamento junto às lutas do Diretório Central dos Estudantes da USP, culminando com a invasão da reitoria pela exigência de eleições diretas para reitor e para presidente. O convívio com colegas da graduação da USP, como Bernardo Mançano Fernandes (atualmente na UNESP), Eduardo Sazaki, Luis Paulo Ferraz, Sérgio Magaldi (professor na UNESP), Regina Gagliardi, Irene Uehara, Fernanda Padovesi (atualmente colega na USP) e Regina Araújo, foi profícuo e, se não selou com todos uma amizade que perdura até hoje, foi exatamente pela Geografia da vida, que nos levou a lugares distantes. Também foi nessa época que conheci Lourdes Carril (atualmente professora na Universidade Federal de São Carlos - UFSCar), com quem vivi por alguns anos depois de formado. Dessa relação nasceu nossa filha, Ana Clara. As principais discussões na época da graduação eram sobre o currículo do curso de Geografia, o ensino de Geografia e a afirmação de uma Geografia marxista, de múltiplas matrizes. Também havia uma exagerada crítica à Geografia Física, classificada por alguns como atividade de gente reacionária. A luta por eleições diretas acompanhou minha graduação. A campanha pelas Diretas Já ocupou grande parte do primeiro semestre de 1984 até a votação em abril. Participei de quase todos os comícios na Praça da Sé e no Vale do Anhangabaú (Zona Central de São Paulo), sempre junto à famosa bandeira vermelha com a inscrição “Geografia – USP” em branco, que tive a honra de carregar algumas vezes. Fiquei afastado dessa bandeira até a campanha Fora Collor, em 1992, quando ela voltou às ruas e era referência para agrupar-me aos alunos e colegas nas manifestações. A movimentação social gerada pelas Diretas Já foi uma grande festa cívica que teve um final infeliz. Lembro-me bem do dia da votação, em pleno Vale do Anhangabaú, lotado, ainda com o “buraco do Adhemar”, acompanhando o voto de cada deputado. Foi doloroso assistir à derrota da proposta do deputado Dante de Oliveira. Mas os tempos estavam mudando. Em 1985 tivemos eleição para prefeito e, no ano seguinte, para governador do estado. Esses fatos geravam muitas discussões acaloradas entre diferentes grupos no âmbito da esquerda, embora houvesse uma hegemonia petista entre os estudantes de Geografia da USP. Também fazíamos uma espécie de loteria para acertar a ordem da votação dos candidatos. Como todo mundo apostava em candidatos de esquerda, nos primeiros lugares não havia ganhadores... Melhor para o CEGE, que conseguia “fazer caixa”, principal objetivo da loteria. Outros momentos de descontração ocorreram, como as inúmeras festas e o famoso “jogo das saias”, no qual homens vestiam roupas femininas para jogar futebol no Centro de Práticas Esportivas da USP (CEPEUSP). O ingresso ao campo era triunfal em um sábado por ano. Mas o jogo acabava ficando sério, apesar das dificuldades em correr com saias e vestidos. Durante os anos de graduação também atuei na AGB, ocupando cargos em diretoria e organizando eventos. Destaco a convivência com mestres do Departamento de Geografia como Manoel Seabra, Iraci Palheta e Ariovaldo de Oliveira, que passaram horas falando de Geografia enquanto desenvolvíamos atividades rotineiras como embalar cartas ou publicações. Foi um verdadeiro curso paralelo, que me permitiu ampliar enormemente o entendimento da Geografia que se produzia no DG e no mundo. Tive a oportunidade de ser estagiário na Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo (EMPLASA). Para mim, era a busca da condição de tornar-me um profissional em Geografia. Atuei na área de Cartografia, participando de projetos como atualização permanente das cartas 1:10.000, de manutenção das referências de nível e de fiscalização da área de mananciais (embora esse projeto constasse de outra divisão). Outro aspecto relevante foram as visitas de campo pela Região Metropolitana de São Paulo acompanhado por técnicos de diferentes formações, ampliando meu conhecimento sobre essa realidade. E, claro, o time de futebol de salão do setor de Cartografia, que contava com o professor do DG Flavio Sammarco Rosa no gol, na época Superintendente de Cartografia da EMPLASA, que disputava o campeonato interno. Também estagiei no Laboratório de Geografia Humana do então Instituto de Geografia da USP, coordenado pela professora Ana Maria Marangoni. Lá participei do programa de pesquisa “Municipalização do Estado de São Paulo”, coordenado por ela, desenvolvendo um trabalho de iniciação científica, com bolsa da FAPESP, com o título “O processo de municipalização da Região Administrativa do Vale do Paraíba”, sob orientação da professora Claudette Junqueira. Estudei o processo de desmembramento municipal no Vale do Paraíba, produzindo uma base cartográfica digital, além de associar as transformações territoriais com a ocupação da região administrativa. Ao final da graduação, em 1986, obtive o título de Bacharel em Geografia, o que me habilitou a ingressar no mercado de trabalho e na pós-graduação. Minha escolha pela segunda opção veio, em parte, pelo parecer final da bolsa de iniciação da FAPESP, no qual havia uma recomendação para que eu continuasse a pesquisa no mestrado. Também concluí, em 1988, a Licenciatura em Geografia, sem maiores destaques a não ser a divulgação dos resultados de estágio no primeiro Fala Professor, encontro organizado pela AGB para tratar especificamente do ensino de Geografia. Esse trabalho foi realizado em conjunto com Bernardo Mançano Fernandes e orientado pela geógrafa Delacir Ramos Poloni, que mais tarde obteve o título de Doutora em Geografia, sob orientação de Armando Correa da Silva, e que atuou como professora no IFT-SP, com grande envolvimento também no sindicato de trabalhadores dessa instituição. Alguns anos mais tarde ela convidou-me a escrever uma coleção didática. 4. A PÓS-GRADUAÇÃO O ingresso na pós-graduação ocorreu logo ao término do curso de Bacharelado em Geografia, em 1987. Comecei preocupado em entender os chamados movimentos sociais urbanos e submeti um projeto ao professor José Willian Vesentini para verificar a existência deles em São José dos Campos (São Paulo), aproveitando parte da pesquisa de iniciação científica. O desenrolar dos trabalhos indicou-me outros caminhos. Ao estudar mais São José, surgiu um novo objeto: as indústrias de armamentos sediadas no município. Elas estavam em pleno vigor, exportando para o Iraque em guerra com o Irã. Isso dava ao país a condição de principal vendedor de armas, à exceção dos países ricos, o que justificava a pesquisa. Queria fazer uma Geografia das indústrias de armamentos no Brasil, indicando os principais fluxos de matéria-prima e de clientes. Isso mostrou-se impossível ao longo dos anos. As informações não eram disponibilizadas, o que me levou a alterar o projeto para a compreensão da política científica e tecnológica empreendida pelos governos militares que possibilitaram o surgimento do que denominei de “polo industrial armamentista no Brasil” (RIBEIRO, 1994). Entre as disciplinas cursadas para obtenção de créditos, ressalto a do próprio professor Vesentini, que tratava da Geografia Política, e a do professor Armando Correia da Silva, com o título Epistemologia da Geografia Humana. Nesta disciplina pude apreciar uma belíssima reflexão do professor Armando sobre as teorias da pós-modernidade e sua repercussão na Geografia, além de contar com colegas que estimulavam o debate, como Carlos Augusto Amorim Cardoso, hoje professor na Universidade Federal da Paraíba, e Marcos Bernardino, atualmente na USP. Ressalto o ano de 1988, quando participei de um estágio na Université de Pau et dês Pays de L’Adour, em Pau, no sul da França. Nessa ocasião, acompanhei seminários de pesquisa, aulas no curso de graduação e trabalhos de campo de professores como François Dascon e Gui di Meo, todos indicados pelo professor Milton Santos. O maior objetivo era desenvolver a língua francesa, dado que o estágio foi de pouco mais de um mês, mas a viagem permitiu tomar contato com a realidade do ensino superior de Geografia na França e uma incursão rápida a Barcelona e Madri. Também acompanhei por um semestre os seminários da professora Marilena Chauí sobre Spinoza, no Departamento de Filosofia. Esse encontro deu-se no segundo semestre de 1990, quando eu já era professor do DG, onde ingressei em dezembro de 1989. Apesar do restrito grupo, a professora Marilena não hesitava em demonstrar conhecimento e paixão por um dos maiores filósofos da história. Para mim, essa convivência possibilitou estudar um pouco mais de Filosofia Moderna, uma paixão que não pude cultivar muito, mas que, como toda paixão, tem repentes explosivos que me embriagam de prazer pela leitura e discussão de autores e suas ideias. Ressalto a gentileza da professora em aceitar-me em seu grupo de pesquisa, além de sua delicadeza em introduzir de maneira didática para mim passagens da obra do filósofo. Para o doutorado, cujo ingresso ocorreu em 1994, mantive a orientação do professor Vesentini, mas alterei minha linha de pesquisa. A atividade docente no DG e a representação da AGB na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992, envolvendo mais de uma centena de chefes de estado e milhares de pessoas por meio de organizações não governamentais de todo o mundo, despertaram-me a curiosidade para acompanhar os tratados internacionais sobre o ambiente. Estava diante de uma nova frente de pesquisa, que se mantém até hoje. Dela derivaram uma série de trabalhos publicados ainda antes da defesa do doutorado, que ocorreu em dezembro de 1999. No doutorado, a disciplina Análise das Relações Internacionais, ministrada pelo professor Leonel Mello no Departamento de Ciência Política, foi de muita valia. Além de permitir-me conhecer teorias das relações internacionais, propiciou um amplo debate sobre temas contemporâneos. Essas etapas de formação coincidiram com outras mudanças por São Paulo, todas na Zona Oeste. Inicialmente, morei em Vila Beatriz, mais próxima à USP. Lá fiquei até 1997, quando fui viver no Alto da Lapa. Em meados de 2003 mudei para a Vila Madalena. Assisti a uma grande transformação em Vila Beatriz. Casas unifamiliares deram lugar a edifícios de alto padrão. Mesmo em áreas dotadas de infraestrutura os efeitos foram sentidos. Um deles foi o aumento na queda do fornecimento de energia. Mas alguns serviços, que já eram bons, ficaram ainda melhores e mais caros. Era hora de mudar. No Alto da Lapa estava junto a uma área mais consolidada do ponto de vista da produção do espaço urbano. Mas isso não me impediu de assistir à verticalização da linha do horizonte. Muitos prédios foram subindo em direção ao pôr do sol na rua Carlos Weber e adjacências. O mesmo ocorreu na Vila Madalena. Diversos edifícios surgiram, entremeados de bares e casas noturnas, naquele que foi um bairro refúgio de estudantes sem dinheiro para pagar aluguel ou de famílias negras, que chegaram bem antes que os expulsos do Conjunto Residencial da USP (CRUSP), pela repressão da ditadura militar. Mas de onde vivo ainda consigo ver o horizonte sem prédios por perto, embora observe claramente a aproximação da mancha de concreto sobre minha janela. 5. PÓS-DOUTORADO Participar de uma experiência de pesquisa em uma instituição com a tradição e relevância da Universidade de Barcelona foi estimulante diante de novas perspectivas de interação com pesquisadores. Esta etapa de minha trajetória foi financiada pela FAPESP, entre dezembro de 2001 e fevereiro de 2002. Foram diversas idas e vindas pelos trens do metrô de Barcelona até a universidade, às vezes até em final de semana, para buscar interlocutores seja na palavra escrita, seja na palavra falada. E eles estavam lá, à espera de quem quisesse adentrar no mundo do debate acadêmico, gerados pela ordem ambiental internacional. De pronto procurei o professor Horacio Capel, catedrático que exerce sua sabedoria de maneira singular estimulando os mais novos a produzir artigos e seminários. Nossos encontros iniciais logo passaram do estranhamento natural para acaloradas discussões teóricas. Inicialmente foi traçado um objetivo para os dois meses de convivência, a saber, produzir um artigo (RIBEIRO, 2002), um texto para apresentar no IV Colóquio Internacional de Geocrítica (RIBEIRO, 2002a) e organizar um número especial da revista eletrônica Scripta Nova com artigos sobre a vida e obra do Professor Milton Santos (RIBEIRO, 2002b, 2002c). Em nossos encontros trocamos impressões sobre a Geografia produzida tanto no Brasil quanto na Espanha. Além das atividades descritas acima, frequentei bibliotecas da Universidad de Barcelona, da Universidad Autónoma de Barcelona e públicas, como a Biblioteca da Catalunya. Em todas foi possível descobrir obras de interesse ao meu trabalho. Visitei também as Universidades de Lisboa e de Coimbra, em Portugal, graças à complementação de recursos oferecida pela Comissão de Cooperação Internacional da USP. Em Lisboa, meu contato ocorreu principalmente com a professora Teresa Salgueiro, especialista em Planejamento Urbano. Em Coimbra, tive o apoio da professora Lucilia Caetano, que pesquisava o desenvolvimento industrial em Portugal e era bastante envolvida com a temática dos polos tecnológicos, tema que trabalhei em meu mestrado. Discutimos algumas variáveis locacionais de empresas de alta tecnologia. O momento mais precioso de nosso encontro foi uma visita que ela proporcionou às instalações da Universidade de Coimbra, como a biblioteca e a sala de eventos. Tradição combinada com arte resume minhas impressões acerca dos ambientes visitados. A convivência com colegas do programa de doutorado permitiu retomar ideias e questões sobre o sistema internacional e discutir metodologias de pesquisa em Geografia Humana. Além disso, aproveitei para estreitar relações com professores do Departamento de Geografia Humana da Universidad de Barcelona e do Departamento de Economia e História Econômica da Universidad Autónoma de Barcelona. Desse diálogo, surgiu a possibilidade de traduzir o livro O ecologismo dos pobres, do economista Joan Martinez-Alier (2007), para o qual realizei a revisão técnica e escrevi a apresentação da edição brasileira. Minha segunda estada na Universidad de Barcelona, entre outubro de 2004 e janeiro de 2005, foi financiada pela CAPES. Dessa vez fui recebido pelo professor Carles Carreras, catedrático especialista em consumo. Nesta ocasião, havia a necessidade de contribuir para a análise comparativa Barcelona/São Paulo, pesquisa coordenada por ele e pela professora Ana Fani Carlos. Grande parte de meu tempo foi dedicado a conhecer a gestão da água em Barcelona. Para tal, realizei um levantamento bibliográfico referente à temática do abastecimento hídrico nessa cidade e aos conceitos de soberania, desenvolvimento sustentável e segurança ambiental internacional. Também entrevistei atores importantes, como técnicos da “Aigues de Barcelona”, empresa responsável pela gestão da água na capital catalã (RIBEIRO, 2005). Entretanto, tive oportunidade de desenvolver outras atividades. Participei do IV Congresso Ibero sobre Gestão e Planejamento da Água, realizado em Tortosa, na Espanha, no período de 8 a 12 de dezembro de 2004, com um trabalho sobre água na Região Metropolitana de São Paulo. Nessa reunião conheci o sociólogo argentino José Esteban Castro, na época professor na Oxford University. Desse contato surgiu sua participação como professor visitante no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM), na USP. A cooperação avançou com a criação da rede de pesquisa Waterlat/Gobacit, que será tratada adiante. Ao longo da segunda estada em Barcelona, tive oportunidade de conhecer o Centre de Recherche sur le Brésil Contemporain, da École dês Hautes Études, da Université Paris-Sorbonne, a convite da professora Martine Droulers, que me convidou ainda para uma conferência ministrada no curso de pós-graduação do Centre de Recherche et de Documentation de l’Amérique Latine, da Université Paris VII, com o tema “Gestion du l’eau au Brésil: le cas du São Paulo”. Nesta ocasião discuti a gestão dos recursos hídricos em São Paulo e no Brasil, detalhando os comitês de bacia de São Paulo. II. TRABALHOS DESTACADOS Existem diversas métricas para indicar a relevância de determinados trabalhos. Em geral, tomam-se os mais citados, ou aqueles que receberam mais críticas, positivas ou negativas. Não usei esses critérios nesta seleção. Minha escolha, como já anunciado, partiu de minha intuição e de conversas com inúmeros interlocutores em mais de trinta anos de vida acadêmica. Os textos mais comentados nesses encontros estão nesta série, somados a textos mais recentes relacionados às pesquisas que desenvolvo. 1. A ORDEM AMBIENTAL INTERNACIONAL Para a obtenção do título de Doutor, apresentei, em 1999, ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana do Departamento de Geografia da USP, a tese A ordem ambiental internacional (RIBEIRO, 1999). O objetivo central da pesquisa foi identificar os atores, mecanismos e eficácia de um conjunto de instrumentos jurídicos internacionais focados em questões ambientais. No texto final, constam os primeiros tratados internacionais – que foram criados para regular a ação das metrópoles imperialistas no continente africano. Depois, tratei do período da Guerra Fria, época em que o destaque ficou para a atuação da ONU e seus organismos internos, bem como para reuniões internacionais que eles realizaram. Por fim, apresentei as convenções internacionais pós Guerra Fria, destacando a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, seus documentos, e reuniões que se seguiram a ela. Neste trabalho fiz uma primeira aproximação teórica da Geografia Política envolvendo problemas ambientais. Minha intenção foi estabelecer um marco conceitual a partir do qual pudesse continuar a desenvolver estudos da intrincada rede de relações que cercam a temática ambiental envolvendo países. Temas como segurança ambiental internacional, sustentabilidade e soberania emergiram como questões centrais em minhas reflexões e produção acadêmica. A pesquisa do doutorado foi facilitada após o advento da rede mundial de computadores. Recordo que este aspecto foi realçado pela banca, já que, na época, ainda não era frequente como se verifica hoje em dia, o levantamento de dados a partir de informações oficiais divulgadas em páginas eletrônicas de governos, organismos internacionais e entidades ambientalistas. Mas não basta captar a informação, é preciso analisar os dados. Entretanto, cabe aqui um alerta. Lamentavelmente, as informações não estão mais disponíveis como antes. Muitos países, e mesmo organizações multilaterais e secretariados de convenções internacionais, deixaram de expor os dados na rede mundial de computadores. O resultado é uma maior dificuldade na obtenção de indicadores que no final da década de 1990. A propalada democratização por meio das redes de computadores tornou-se relativa e seletiva. Participaram da banca de doutorado a geógrafa Maria Encarnação Beltrão Sposito, o geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves, o cientista político Leonel Itaussu de Almeida Mello, o geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira e o geógrafo José William Vesentini – orientador. Após os trabalhos, a banca decidiu pela aprovação com distinção, recomendando a tese para publicação. Publicada como livro (RIBEIRO, 2001), A ordem ambiental internacional alcançou uma repercussão junto a três campos do conhecimento científico: a Geografia, o Direito Internacional e as Relações Internacionais. A obra passou a ser discutida em disciplinas de graduação e pós-graduação dessas áreas, o que me envolveu em uma série de seminários e formas de cooperação em pesquisas e bancas. 2. GEOGRAFIA POLÍTICA DA ÁGUA O trabalho que submeti como parte de minha Livre Docência (RIBEIRO, 2004), no Departamento de Geografia da USP, Geografia Política da Água, discute a ausência de um instrumento internacional que garanta o acesso a essa substância fundamental à reprodução da vida. Inicio com uma análise da gestão dos recursos hídricos na escala internacional, com a mesma metodologia da tese de doutorado. Nesse texto procurei expressar o impacto da distribuição política da água e projetar perspectivas para o abastecimento para os próximos anos. Primeiramente, discorri sobre a oferta hídrica por país e analisei o uso da água. Depois, dediquei um capítulo para as convenções internacionais que tratam dos recursos hídricos, no qual constatei a ausência de uma regulação multilateral aceita pela maior parte dos integrantes do sistema internacional. Também abordei o direito humano à água, na época um tema emergente no debate internacional, que em 2010 foi reconhecido pela Assembleia Geral da ONU. Em seguida, tratei de verificar as formas de acesso à água, que são basicamente duas: o comércio e o conflito. O primeiro caso foi abertamente difundido pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional, que difundiu a privatização dos serviços da água e, ao mesmo tempo, defendeu interesses de grandes grupos privados que já atuavam no comércio de água engarrafada ou por meio da aquisição da prestação de serviços hídricos. Em relação aos conflitos, a projeção da carência de água em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os que mais usam água no mundo, gera uma perspectiva sombria. Parte deles dispõe de relevante capacidade estratégico-militar e podem desejar usá-la para obter água. Uma ocupação territorial para tomar literalmente a água de países que têm oferta hídrica considerável, como é o caso do Brasil e de muitos da América do Sul, não pode ser descartada, ainda que ela não deva ocorrer nos moldes que se deram, por exemplo, no Iraque, para controlar a extração de petróleo. Bombardear uma área com água seria pouco inteligente, dado que vai degradar exatamente o objetivo a ser conquistado. Portanto, a dominação e o conflito pela água são mais sutis que uma guerra por petróleo. Por fim, o texto defende uma nova cultura da água, na qual seu uso deve ser adequado à oferta hídrica de cada país. A banca examinadora de minha Livre Docência foi composta pela geógrafa Ana Fani Carlos, pelo geógrafo Eliseu Sposito, pela geógrafa Helena Ribeiro, pelo engenheiro agrônomo Waldir Mantovani e pelo geógrafo José Bueno Conti, presidente. Em 2008 a tese ganhou o formato de livro (RIBEIRO, 2008), que também alcançou repercussão importante nas áreas de Geografia, Direito Internacional e Relações Internacionais. 3. ÁGUA TRANSFRONTEIRIÇA Nos últimos anos venho me dedicando a compreender os conflitos , tensões e possibilidades de cooperação que envolvem a água transfronteiriça (RIBEIRO; SANT’ANNA, 2014; RIBEIRO; SANTOS; SILVA, 2019). Como foco de análise, a bacia do Prata foi escolhida por apresentar uma gama de aspectos que envolvem o uso múltiplo da água, como a produção de energia, o abastecimento de grandes contingentes populacionais, a produção agrícola e industrial (RIBEIRO; SANT’ANNA; VILLAR, 2013). Água transfronteiriça é a que perpassa ao menos duas unidades políticas por meio de um corpo de água, seja ele superficial ou subterrâneo. Rios, lagos e represas podem estar entre duas unidades políticas, sejam elas internacionais ou internas a um país, caracterizando água transfronteiriça superficial. Um aquífero pode ocorrer sob duas unidades políticas e, como nas situações anteriores, transcender países ou unidades territoriais internas a um país (RIBEIRO, 2008a; VILLAR; RIBEIRO, 2011; LEITE; RIBEIRO, 2018; ESPÍNDOLA; LEITE; RIBEIRO, 2020). Dois conceitos ajudam muito a interpretar as relações entre unidades políticas envolvendo água transfronteiriça: hidropolítica e hidro-hegemonia. O primeiro relaciona-se ao uso político da água para o exercício do poder de uma unidade política sobre a outra. O segundo ocorre quando a relação de poder resulta na hegemonia de uma unidade política sobre a outra (PAULA; RIBEIRO, 2005). Além disso, é necessário revisitar o conceito de soberania (RIBEIRO, 2012). Esses conceitos podem ser usados para analisar situações internas ao Brasil, como as consequências da transposição do rio São Francisco, que alterou as relações de poder entre estados do Nordeste. Outro exemplo de aplicação foram os conflitos gerados por ocasião da crise de gestão da água na Região Metropolitana de São Paulo entre 2013 e 2015, envolvendo os estados do Rio de Janeiro e São Paulo (BUCKERIDGE; RIBEIRO, 2018). No caso da bacia do Prata, foco das análises nos últimos anos, os conflitos envolvendo a Itaipu Binacional mobilizaram diferentes governos (RIBEIRO, 2017). O Paraguai reivindicou tarifas mais elevadas, no que foi parcialmente atendido pelo Brasil, e também reivindicou soberania para vender o excedente de energia livre no mercado, em vez de, por contrato, ter que vendê-la ao Brasil. Sobre este ponto as negociações não avançaram (INÁCIO JR.; RIBEIRO, 2019). A existência do Comitê Intergovernamental Coordenador dos Países da Bacia do Prata, desde 1968, além de várias outras instituições, aponta a necessidade de uma análise política do papel e alcance de cada instituição. Apesar da existência desse conjunto de órgãos dedicados à gestão da água na bacia do Prata, eles são pouco eficazes em função da ausência de recursos para implementar projetos e por não disporem de corpos técnicos independentes (VILLAR; RIBEIRO; SANT’ANNA, 2018; ESPÍNDOLA; RIBEIRO, 2020). Como resultado, os estudos sobre a bacia estão sujeitos ao financiamento externo, que evidentemente não chega desinteressado. 4. ENSINO DE GEOGRAFIA Discutir o ensino de Geografia é uma de minhas paixões. A reflexão sobre esse tema nasceu de minha militância na AGB. Por mais de uma vez presenciei debates fecundos no Anfiteatro do DG lotado para tratar da renovação da Geografia e sua aplicação no ensino fundamental e médio. Assisti também a inúmeras avaliações da Proposta Curricular de Ensino de Geografia, produzida pela então Coordenadoria de Ensino e Normas Pedagógicas (CENP), ao longo da década de 1980. A principal mudança sugerida era a indicação da categoria “trabalho” como eixo central das discussões. Havia também uma grave lacuna: a dinâmica da natureza. Naquele momento de radicalismo, chegou-se a decretar a morte da Geografia Física. Pior, muitos colegas que se dedicaram a ela foram rotulados como conservadores por empregarem “métodos positivistas” em seus trabalhos. A discussão sobre o ensino de Geografia foi retomada com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, ao longo da década de 1990. Novos debates tensos ocorreram, envolvendo seus elaboradores e a comunidade geográfica. Participei de alguns. Mais recentemente, as discussões ainda mais polêmicas que envolveram a definição da Base Nacional Comum Curricular, de 2018, ofereceram outras oportunidades para tratar do ensino de Geografia. Por fim, aponto as coleções e livros de apoio didático que tive a oportunidade de publicar, resultado de muita investigação de fontes e discussão com vários colaboradores. O começo da produção didática veio a partir de um convite da professora Delacir Poloni, que resultou em uma coleção para os quatro anos iniciais (RIBEIRO; GUIMARÃES; POLONI, 1994). Depois, vieram novos projetos destinados ao ensino fundamental II (RIBEIRO; ARAÚJO; GUIMARÃES, 1999; RIBEIRO, 2012a) e ao ensino médio (RIBEIRO; GUIMARÃES; KRAJEWSKI, 2000; RIBEIRO; GAMBA; ZIGLIO, 2018). Algumas dessas obras chegaram à terceira edição, e duas ainda estão em catálogo. 5. OUTROS TEMAS Também tive a oportunidade de discutir questões como cooperação internacional e redes de atores não estatais (ZIGLIO; RIBEIRO, 2019), justiça ambiental e justiça espacial (RIBEIRO, 2017a), mudanças climáticas (RIBEIRO, 2002d, 2008b), governança da água no Brasil e em São Paulo (RIBEIRO, 2009, 2011), sociedade do risco (ZANIRATO et al., 2008; RAMIRES; RIBEIRO, 2011), entre outras. 6. COLABORAÇÃO JUNTO À IMPRENSA Escrever para a imprensa era uma tarefa pouco compreendida no meio acadêmico no início de minha carreira. Quando comecei a colaborar com a Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo, na década de 1990, recebia olhares de surpresa de colegas, que estranhavam minha disposição em comentar temas contemporâneos. Felizmente a divulgação científica já sofre menos preconceito na universidade. Cada vez mais pesquisadores envolvem-se com a produção de conteúdo para o grande público por meio de redes sociais. Pode ser uma trilha a seguir no futuro. Da imprensa escrita passei à falada, por meio de colaborações com as rádios Eldorado, depois Estadão/ESPN e, por fim, Estadão. Mantive uma coluna sobre temas socioambientais que começou quinzenalmente e, quando terminou, tinha duas edições por semana. Desde 2017 comento, semanalmente, temas socioambientais na Rádio Brasil Atual, mais especificamente no Jornal Brasil Atual, que é transmitido ao vivo pela TVT (TV dos Trabalhadores) e pelos canais do Youtube destes veículos (https://www.youtube.com/watch?v=0rYSJGvJgQo). Tive várias participações na TV; destaco programas de opinião, como o Roda Viva (https://www.youtube.com/watch?v=ibKboWNOCXM) e o Panorama (https://tvcultura.com.br/videos/68061_panorama-tragedia-em-brumadinho-01-02-2019.html), na TV Cultura, além de diversas entrevistas para distintas emissoras. III. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL Além das experiências de pós-doutorado, tive oportunidade de colaborar em outras universidades por meio de disciplinas ministradas, ademais de integrar uma rede de pesquisa internacional sobre água na América Latina, experiências comentadas a seguir. 1. UNIVERSIDAD DE SEVILLA Durante minha estada no Departamento de Geografia Humana da Universidad de Sevilla, nos meses de outubro e novembro de 2008, pude conhecer diversos professores, o que me permitiu ter uma ideia geral das pesquisas geográficas que se desenvolviam naquela universidade, em especial no campo dos estudos socioambientais. A governança e as políticas públicas ambientais eram alvo de investigações. O professor Juan Suarez de Vivero recebeu-me na instituição, com quem pude discutir a governança do sistema internacional relacionada aos temas ambientais. Como grande especialista vinculado aos estudos do mar, e com larga experiência em foros de pesquisa da União Europeia, o professor Vivero tem uma produção relevante sobre as relações entre a Geografia Política e o ambiente, no caso, com os recursos marinhos em suas múltiplas dimensões. Em relação à governança, a posição do professor Vivero reconhece o caráter institucional do tema. Para ele, a governança envolve diversos atores em fóruns diferentes, o que dificulta sua implementação. Com a professora Maria Fernanda Pita, especialista em estudos climatológicos, tive a possibilidade de conhecer mais referências e fontes de pesquisa sobre estudos relacionados às mudanças climáticas na Espanha. Ela informou-me que os estudos estão mais concentrados na mitigação que na adaptação às consequências que as transformações globais trarão ao território espanhol. Com o professor Leandro Del Moral, na ocasião chefe do Departamento de Geografía Humana, pude discutir outro tema de grande interesse: a gestão da água. Ele apresentou-me o curso de mestrado Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas, em desenvolvimento na Universidad de Zaragoza, que é ministrado por um conjunto de professores de diversas universidades europeias. Nesse curso, o estudante tem contato com diversos aspectos da gestão dos recursos hídricos, como a governança, a Diretiva Marco Europeia para a água e a participação popular na gestão da água. A estada na Espanha possibilitou fazer uma visita ao professor Horacio Capel. Na ocasião, além de cumprimentá-lo pela nomeação para o prêmio Vautrin Lud, considerado o Nobel da geografia mundial, pude realizar uma interessante entrevista em conjunto com a professora Silvia Zanirato. Entre os diversos assuntos abordados na ocasião, ressalto a visão do professor sobre o prêmio, sua repercussão e impacto, mas, principalmente, a avaliação que expôs sobre a geografia espanhola, latino-americana e brasileira (RIBEIRO; ZANIRATO; CAPEL, 2010). 2. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA No período de 2013 a 2015 fui convidado a colaborar na disciplina “Território”, do “Master en Estudios Brasileños”, no Centro de Estudios Brasileños da Universidad de Salamanca. Essa disciplina era oferecida com mais dois colegas, a professora María Isabel Martín Jiménez e o professor José Luis Alonso Santos, ambos do Departamento de Geografía da Universidad de Salamanca. A primeira tratava dos aspectos naturais do território brasileiro, enquanto o segundo apresentava uma análise regional, destacando as diferenças sociais e econômicas entre as regiões brasileiras. Minha contribuição estava focada em discussões conceituais sobre território, formação territorial do Brasil, composição e dinâmica populacional do país. O master atraiu alunos de diversos países, como Espanha, Grécia, Finlândia, Canadá e Brasil, com formação também diversificada (geógrafos, economistas, cientistas políticos, advogados, pedagogos, entre outros). Ao longo de três anos, as turmas variaram entre quinze e dez alunos. Nesse projeto, os estudantes tinham que cumprir uma etapa de estudos no Brasil. Por isso o intercâmbio era muito rico e estimulante. Porém, coincidentemente ou não, após o golpe de 2016 que destituiu a Presidenta Dilma Rousseff, não houve alunos em número suficiente para iniciar novas turmas, o que interrompeu a colaboração como docente. 3. UNIVERSIDAD DE CALDAS Em 2014 fui convidado para ministrar a disciplina “Geografía y Ecología Política del Agua en América Latina”, para as maestrias em “Estudios Políticos” e em “Derecho Publico” da Universidad de Caldas, em Manizales, Colômbia. Abordei temas como: a sociedade contemporânea e o uso da água; o acesso e a oferta de água na América Latina; principais usos da água na América Latina; o Direito Humano à água e perspectivas para o futuro. O grupo de alunos mostrou-se entusiasmado e participativo. Composto em sua maioria por estudantes com formação em Direito, o grupo assimilou muito bem as teorias e reflexões expostas, gerando um debate agudo e construtivo, apesar do ritmo intenso das aulas. 4. OUTROS CASOS – MÉXICO, ÍNDIA, SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE E REDE DE PESQUISA WATERLAT/GOBACIT Um dos momentos mais relevantes que tive oportunidade de experimentar como geógrafo e professor ocorreu em 2008 na Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Naquela ocasião pude ministrar um curso para o “Posgrado de Geografía” com o tema “Geografia Política y recursos naturales”, a convite da professora Veronica Ibarra. Começava um rico diálogo. Apresentei reflexões ainda atuais que envolvem recursos hídricos e petróleo, temas de grande interesse à população mexicana, relacionando-os à Geografia Política dos recursos naturais. A assistência foi muito atenta e propiciou um estimulante debate. Com coordenação da professora Neli Mello-Thèry, da USP, o projeto “Exclusão social, território e políticas públicas: uma comparação Índia-Brasil”, foi financiado pela Agence Nationale de la Recherche da França e envolveu a Université Paris X - Nanterre, o Centro de Estudos da Índia (Ceias-Ehess), o Centre de Sciences Humaines (Delhi), a USP (DG e IEA) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (núcleo Favela e Cidadania, Escola de Serviço Social), somando vinte pesquisadores do Brasil, da França e da Índia, de 2007 a 2009. O objetivo era identificar como as áreas mais pobres das periferias urbanas de Delhi, Mumbai, Rio de Janeiro e São Paulo eram afetadas por políticas públicas para habitação e eventuais pressões sobre unidades de conservação (MELLO-THÈRY et al., 2014). Cabe ressaltar a participação no programa de cooperação entre o Brasil e São Tomé e Príncipe, no qual, sob coordenação da professora Norma Valencio, da UFSCar, analisamos o Plano de Adaptação de São Tomé e Príncipe às mudanças climáticas. Como resultado, escrevi um capítulo sobre as potencialidades ambientais de São Tomé e Príncipe (RIBEIRO, 2010) e organizei um livro, em conjunto com a professora Norma Valencio (VALENCIO; RIBEIRO, 2010). Esse projeto resultou de uma iniciativa do CNPq que visava promover uma aproximação com países africanos. Destaco a inserção na rede Waterlat, que visa congregar pesquisadores da América Latina e da Europa dedicados a analisar temas relacionados à ecologia política da água, coordenada pelo professor Jose Esteban Castro, atualmente pesquisador do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), na Argentina. A Waterlat incorporou a rede Gobacit, formando a Waterlat/Gobacit (https://waterlat.org/pt/). Participei de várias reuniões anuais da rede, na condição de coordenador da Área de Trabalho sobre águas transfronteiriças, bem como expondo resultados de pesquisas. Em 2010, organizei o segundo encontro da rede, no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP), quando cerca de 120 trabalhos foram expostos à discussão (CASTRO; RIBEIRO, 2010). IV. OUTRAS PARTICIPAÇÕES A seguir, comento alguns eventos não acadêmicos dos quais participei, que tiveram relação direta com minhas pesquisas. Um dos mais marcantes foi o Rio 92. Fui representante do Fórum Brasileiro de Organizações Não Governamentais na reunião oficial, a primeira da ONU a aceitar a presença de representantes da sociedade civil na delegação dos países. Cheguei a essa situação a partir da representação da AGB nas reuniões preparatórias para a Rio 92. Esta reunião propiciou a convivência com ambientalistas e pesquisadores de muitas partes do mundo. A presença de chefes de estado, como Fidel Castro, François Mitterrand, John Major, respectivamente presidentes de Cuba, França e primeiro-ministro do Reino Unido, despertou em mim o tema de pesquisa para o doutorado. A primeira Conferência Nacional de Meio Ambiente “Vamos cuidar do Brasil”, organizada pelo Ministério do Meio Ambiente, mobilizou mais de 60.000 pessoas de todo o Brasil, em 2003. Elas organizaram-se por segmentos da sociedade brasileira em nível municipal, estadual e regional, permitindo o encontro de trabalhadores, ambientalistas, sindicalistas, profissionais da área tecnológica, empresários, militares, entre outros, obedecendo a uma divisão de gênero. Eu fui delegado eleito a partir da representação do CREA-SP. O objetivo da Conferência foi aprimorar o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), por meio da discussão e mobilização da sociedade brasileira. Os trabalhos ocorreram na Universidade de Brasília. A Conferência Nacional de Meio Ambiente foi um marco importante na construção da cidadania no Brasil. Ela gerou uma corresponsabilidade na sociedade brasileira pela implementação de seus resultados e para a fiscalização da atuação dos governos em todas as suas esferas. Infelizmente parte desses avanços estão ameaçados por ações do Governo Federal que se instalou em janeiro de 2019. De junho de 2003 até junho de 2004, fui o representante suplente do CREA-SP no Conselho Estadual de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do estado de São Paulo (CONSEMA). Fui indicado para presidir os trabalhos da Comissão Especial de Biodiversidade, Florestas, Parques e Áreas Protegidas, que tinha como tarefa central auxiliar o Conselho Estadual na gestão e acompanhamento das unidades de conservação ambiental do estado de São Paulo. Também fui representante do CREA-SP no Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de São Paulo, nos períodos de 1998-2000 e 2004-2007. Integrei a Câmara Técnica de Saneamento Ambiental, que analisou problemas como o destino final de resíduos da área hospitalar. Participei também de um grupo de trabalho que gerou a Certificação de Qualidade Ambiental, um tipo de selo verde que deveria ser destinado a projetos de empreendimentos que salvaguardem ao máximo o ambiente. Tive, ainda, a oportunidade de fazer uma apresentação sobre “Recursos hídricos na Grande São Paulo” em uma das reuniões do CADES, por sugestão de membros do plenário, da qual resultou a indicação de se remeter para a Câmara Técnica de Saneamento Ambiental a missão de elaborar uma Campanha da Água para o município de São Paulo. Outra exposição que fiz àquele qualificado plenário foi “Mudanças climáticas e suas implicações para São Paulo”, em 2007. A convivência com técnicos da Prefeitura de São Paulo, ambientalistas e pesquisadores estimulou o debate de alternativas para os problemas ambientais desse município. Em março de 2006, tive mais uma experiência em reuniões da ONU ao participar da Oitava Conferência das Partes da Convenção de Diversidade Biológica, realizada em Curitiba (PR). Foi mais uma oportunidade de assistir negociações da ordem ambiental internacional e presenciar a pressão de ONGs, as restrições que alguns países apresentam a determinados assuntos e perceber, mais uma vez, a complexidade do tema. Destaco ainda a participação na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de Janeiro em 2012, que ficou conhecida como Rio+20. Além de organizar um evento na reunião paralela por meio do IEA, que discutiu temas socioambientais que envolviam o Brasil, fui convidado a atuar como mediador dos Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil que teve apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Essa experiência inovadora permitia a um cidadão enviar uma proposta para o plenário da Rio+20 independentemente de ser membro de governo e/ou de uma delegação. Para tal, ele teria que apresentar uma proposta em um dos dez diálogos, a saber: (i) Desemprego, trabalho decente e migrações; (ii) Desenvolvimento Sustentável como resposta às crises econômicas e financeiras; (iii) Desenvolvimento Sustentável para o combate à pobreza; (iv) Economia do Desenvolvimento Sustentável, incluindo padrões sustentáveis de produção e consumo; (v) Florestas; (vi) Segurança alimentar e nutricional; (vii) Energia sustentável para todos; (viii) Água; (ix) Cidades sustentáveis e inovação; e (x) Oceanos. As três propostas mais votadas de cada grupo seriam encaminhadas como resultado da Rio+20. Eu coordenei, com uma colega da França e outra da China, o diálogo II, no qual apresentei uma proposta de taxação das movimentações financeiras para criar um fundo para investimento em tecnologias sustentáveis. Após discussão no grupo, ela foi aprovada para ser encaminhada à plenária, que a referendou e a aprovou entre as encaminhadas aos resultados da Rio+20. Segundo informações da época, cerca de 60.000 pessoas de 193 países participaram das reuniões virtuais de abril a junho de 2012. Nesse período, organizei um livro que procurou contribuir para os debates preparatórios à Rio+20 (RIBEIRO, 2012b). V. PREMIAÇÕES E DEMAIS DISTINÇÕES Para um professor, não há nada mais relevante que o reconhecimento de seus alunos. Em meu caso, isso ocorreu em diversas passagens de minha atuação profissional. A primeira a destacar foi a honrosa indicação como paraninfo das turmas de formandos do curso de Bacharelado em Geografia de 2002 e 2003. Com muita emoção recebi a incumbência de proferir um discurso que pudesse marcar aquele nobre momento na vida dos alunos, seus familiares e amigos. Além de ressaltar a conquista pessoal de cada um, motivo para júbilo, recordo-me de lembrar-lhes a responsabilidade que teriam como profissionais, em quaisquer que fossem as atividades que viessem a desenvolver. Lembrei-lhes do pensamento crítico, uma das marcas da formação do Departamento de Geografia, mas também da importância de buscar alternativas à reprodução da vida em bases diferentes à do padrão hegemônico em nossos dias, que gera muita desigualdade social e graves problemas ambientais. Realcei também a esperança que o Brasil vivia naquele momento com a eleição de uma liderança popular como Presidente da República. O CREA-SP também honrou-me com uma distinção por serviços prestados na área ambiental em 2009. Para minha felicidade, tive várias orientandas que receberam distinções acadêmicas, listadas a seguir: • Simone Scifoni, Prêmio CAPES de melhor Tese de Doutorado de 2007; • Lucy Lerner, melhor Dissertação de Mestrado do PROCAM e Menção Honrosa de melhor Dissertação de Mestrado do Prêmio ANPPAS de 2008; • Luciana Ziglio, Premio Betinho - Cooperar Reciclando Reciclar Cooperando - CEMPRE, Camara Municipal de Sao Paulo, 2009. • Pilar Carolina Villar, melhor Dissertação de Mestrado do PROCAM do período 2008 a 2010; • Zulimar Márita Ribeiro, melhor Tese de Doutorado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema), 2010; • Pilar Carolina Villar, melhor Tese de Doutorado do PROCAM do período 2010 a 2012; • Pilar Carolina Villar, Menção Honrosa do Prêmio CAPES de melhor Tese de Doutorado de 2013; • Zenaida Luisa Lauda Rodriguez, melhor Tese de Doutorado do PROCAM 2018; • Zenaida Luisa Lauda Rodriguez, Menção Honrosa de melhor Tese de Doutorado da rede Waterlat, 2019; • Zenaida Luisa Lauda Rodriguez, Menção Honrosa de melhor Tese de Doutorado do Prêmio ANPPAS, 2019. VI. UM BALANÇO Depois de 34 anos como docente universitário, dos quais 31 no DG, afirmo que a universidade atual é muito diferente da que ingressei. A começar pela impossibilidade de ser aprovado como docente apenas com o título de Bacharel, como eu fui. Hoje, a carreira começa com o título de Doutor. Ou seja, a universidade não julga mais conveniente formar seus quadros. Isso pode trazer alguma vantagem, que é a bem-vinda interação com outras visões do conhecimento e culturas universitárias. Mas gera desvantagens, como um menor vínculo com a instituição e o desconhecimento da dinâmica e história institucional de ingressantes. Outra mudança muito importante é o produtivismo, associado à competição entre docentes, que assola corações e mentes, com sérias consequências pessoais e institucionais. Ao estabelecer métricas quantitativas de produção acadêmica, expressa em artigos publicados em revistas de elevado impacto, a universidade empobreceu, em especial, as Ciências Humanas, que não tinham, e nem necessitavam ter, as métricas empregadas por outros campos do conhecimento para aferir a qualidade de um resultado de pesquisa. Perdeu-se a possibilidade do improviso, do texto especulativo, do ensaio provocador, já que as revistas, mediadas por pares, incitam a uma normatização que transcende as regras formais de submissão. Trata-se de uma verdadeira, e avassaladora, maneira de impor um modelo de ciência, mesmo às Humanidades, que parecem estar próximas a sucumbir a essas demandas. Espero estar enganado neste diagnóstico. Atuei na CAPES junto à área Interdisciplinar e estive entre os que subscreveram o documento que criou a área de Ciências Ambientais. Participei de duras discussões para que um livro e um capítulo de livro fossem aceitos como resultados de pesquisas, o que era consenso na nova área, mas negado por outras do campo Interdisciplinar. Criaram-se parâmetros para definir um livro, com uma série de exigências a serem cumpridas por editores e autores. Foi o custo para que fossem aceitos, mas ainda com muita resistência, que não foi de todo superada. Na gestão das políticas socioambientais no Brasil, verifica-se um desmonte a partir de janeiro de 2019. O governo empossado naquele ano, entre outras tantas ações, esvaziou o Ministério do Meio Ambiente ao retirar de seu âmbito a Agência Nacional da Água, bem como o Cadastro Ambiental Rural. Também decretou mudanças no Conselho Nacional de Meio Ambiente e flexibilizou a fiscalização do desmatamento. Como resultado, assistiu-se ao maior desmatamento e quantidade de focos de incêndio da história do Brasil em 2020. Com este quadro, cabe a pergunta: valeu a pena o esforço despendido? Sim! Nestes anos convivi com colegas de diferentes áreas do conhecimento, países e unidades da Federação do Brasil, que me ensinaram a ser mais tolerante do que era no começo da minha carreira. Também agradeço aos meus professores, bem como aos geógrafos, mestres e doutores que formei até o momento, pelas ricas discussões travadas em nossas reuniões de trabalho no Laboratório de Geografia Política do DG, o GEOPO, como o chamamos. Agradeço aos pós-doutores que supervisionei até aqui. Por este grupo, que está registrado no CNPq com o nome de “Geografia política e meio ambiente”, passaram geógrafos, mas também arquitetos, advogados, internacionalistas, historiadores, sociólogos, biólogos, engenheiros, entre outros. Agradeço ao DG e às agências de fomento, que ampararam pesquisas que resultaram em mais capacidade de assimilar o complexo mundo da ordem ambiental internacional. Agradeço à Tamires Oliveira pelo convite a elaborar este texto. Por fim, mas não menos importante, espero que esse conjunto de publicações, de mestres, doutores e geógrafos formados, possam contribuir para um mundo melhor, menos desigual, no qual as relações humanas sejam pautadas pela solidariedade, tolerância e respeito, com menos impactos socioambientais. Desejo, ainda, que a Geografia que produzi conquiste aceitação política para avançar nessas trilhas. E sigo na luta, porque tem muito trabalho pela frente... REFERÊNCIAS BUCKERIDGE, Marcos; RIBEIRO, Wagner Costa. Uma visão sistêmica das origens, consequências e perspectivas das crises hídricas na Região Metropolitana de São Paulo. In: Marcos Buckeridge; Wagner Costa Ribeiro (Org.). Livro branco da água. A crise hídrica na Região Metropolitana de São Paulo em 2013-2015: origens, impactos e soluções. São Paulo: Instituto de Estudos Avançados, 2018, v. 1, p. 14-21. http://www.iea.usp.br/publicacoes/ebooks/livro-branco-da-agua. CASTRO, José Esteban; RIBEIRO, Wagner Costa. Waterlat Network International Conference: the Tension Between Environmental and Social Justice in Latin America: the Case of Water Management. São Paulo: CNPq/FAPESP, 2010. http://200.144.254.127:8080/iea/textos/waterlat/index.html. ESPÍNDOLA, Isabela Battistello; LEITE, Maria Luisa Telarolli Almeida; RIBEIRO, Wagner Costa. South-American Transboundary Waters: The Management of the Guarani Aquifer System and the La Plata Basin Towards the Future. In: R. Brears (Org.). The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies. 1ª ed. Springer International Publishing, 2020, p. 1-35. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-030-32811-5_51-1. ESPÍNDOLA, Isabela Battistello; RIBEIRO, Wagner Costa. Transboundary waters, conflicts and international cooperation - examples of the La Plata basin. Water International, v. 45, p. 1-18, 2020. DOI: 10.1080/02508060.2020.1734756. INACIO JR., Paulo; RIBEIRO, Wagner Costa. Tratado de Itaipu: geopolítica e a negociação de 2008-2009. In: Cláudio Antonio Di Mauro; Renata Ribeiro de Araújo; Antonio Cezar Leal (Org.). Sustentabilidade em bacias hidrográficas: políticas, planejamento e governança das águas. 1ª ed. Tupã: ANAP/Associação dos Amigos da Natureza da Alta Paulista, 2019, v. 1, p. 61-78. HATCH KURI, Gonzalo; TALLEDOS SÁNCHEZ, Edgar. Una mirada a la geografía política brasileña: conversación con el geógrafo Wagner Costa Ribeiro. Investigaciones Geográficas, (102), 2020. https://doi.org/10.14350/rig.60199. LEITE, Maria Luísa Telarolli de Almeida; RIBEIRO, Wagner Costa. The Guarani Aquifer System (Gas) and the Challenges for Its Management. Journal of Water Resource and Protection, v. 10, p. 1222-1241, 2018. DOI: 10.4236/jwarp.2018.1012073. MARTINEZ-ALIER, Joan. Ecologismo dos pobres. São Paulo: Contexto, 2007. MELLO-THÉRY, Neli Aparecida; BRUNO, L.; DUPONT, Veronique; ZERAH, M.; CORREIA, B. O.; SAGLIO-YATZIMIRSKY, Marie-Caroline; RIBEIRO, Wagner Costa. Public Policies, Environment and Social Exclusion. In: Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky; Frédéric Landy (Org.). Megacity slums: social exclusion, space and urban policies in Brazil and India. London: Imperial College Press, 2014, v. 1, p. 213-256. PAULA, Mariana de; RIBEIRO, Wagner Costa. Hidro-hegemonia e cooperação internacional pelo uso de água transfronteiriça. Waterlat-Gobacit Network Working Papers, v. 2, p. 92-107, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3512.0240. RAMIRES, Jane; RIBEIRO, Wagner Costa. Gestão dos Riscos Urbanos em São Paulo: as áreas contaminadas. Confins (Paris), v. 13, p. 7323, 2011. RIBEIRO, Wagner Costa. COVID-19: passado, presente e futuro. São Paulo: Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 2020. https://doi.org/10.11606/9786587621319. RIBEIRO, Wagner Costa. Shared use of transboundary water resources in La Plata River Basin: utopia or reality? Ambiente e sociedade, São Paulo, v. 20, n. 3, p. 257-270, 2017. https://doi.org/10.1590/1809-4422asocex0005v2032017. RIBEIRO, Wagner Costa. Justiça espacial e justiça socioambiental: uma primeira aproximação. Estudos Avançados, v. 31, p. 147-165, 2017a. http://dx.doi.org/10.1590/s0103-40142017.31890014. RIBEIRO, Wagner Costa. Soberania: conceito e aplicação para a gestão da água. Scripta Nova (Barcelona), v. XVI, p. 01-11, 2012. https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/14816. RIBEIRO, Wagner Costa. Por dentro da Geografia. Coleção em 4 volumes (com Manual do Professor). São Paulo: Saraiva, 2012a. RIBEIRO, Wagner Costa. Governança da ordem ambiental internacional e inclusão social. 1ª ed. São Paulo: Annablume, 2012b. RIBEIRO, Wagner Costa. Oferta e estresse hídrico na região Metropolitana de São Paulo. Estudos Avançados (USP Impresso), v. 25, p. 119-133, 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142011000100009. RIBEIRO, Wagner Costa. Biodiversidade e oferta hídrica: possibilidades para São Tomé e Príncipe. In: Norma Valencio; Wagner Costa Ribeiro (Org.). São Tomé e Príncipe, África: desafios socioambientais no alvorecer do séc. XXI. 1ª ed. São Carlos: Rima, 2010, v. 1, p. 51-69. RIBEIRO, Wagner Costa. Governança da água no Brasil: uma visão interdisciplinar. 1ª ed. São Paulo: Annablume/Fapesp/CNPq, 2009. RIBEIRO, Wagner Costa. Geografia política da água. São Paulo: Annablume, 2008. RIBEIRO, Wagner Costa. Aqüífero Guarani: gestão compartilhada e soberania. Estudos Avançados (USP Impresso), v. 22, p. 227-238, 2008a. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142008000300014. RIBEIRO, Wagner Costa. Impactos das mudanças climáticas em cidades no Brasil. Parcerias Estratégicas (Impresso), v. 27, p. 297-321, 2008b. RIBEIRO, Wagner Costa. Gestão da água em Barcelona. Scripta Nova. Barcelona, v. IX, p. 1-12, 2005. https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/982. RIBEIRO, Wagner Costa. Ecologia política: ativismo com rigor acadêmico. Biblio 3W. Barcelona, v. VII, n. 364, p. 01-20, 2002. http://www.ub.edu/geocrit/b3w-364.htm. RIBEIRO, Wagner Costa. Trabalho e ambiente: novos profissionais ou nova demanda? Scripta Nova. Barcelona, v. VI, n. 119 (98), p. 01-14, 2002a. http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-98.htm. RIBEIRO, Wagner Costa. Milton Santos: aspectos de sua vida e obra. Scripta Nova. Barcelona, v. VI, n. 124, p. 01-04, 2002b. http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-124.htm. RIBEIRO, Wagner Costa. Globalização e Geografia em Milton Santos. Scripta Nova. Barcelona, v. VI, n. 124, p. 01-09, 2002c. http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-124h.htm. RIBEIRO, Wagner Costa. Mudanças climáticas: realismo e multilateralismo. Terra Livre, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 75-84, 2002d. RIBEIRO, Wagner Costa. A ordem ambiental internacional. São Paulo: Contexto, 2001. RIBEIRO, Wagner Costa. A ordem ambiental internacional. São Paulo: Tese de Doutorado. USP, 1999. RIBEIRO, Wagner Costa. Os militares e a defesa no Brasil: a indústria de armamentos. São Paulo: 1994. Dissertação de Mestrado. USP, 1994. RIBEIRO, Wagner Costa; ARAÚJO, Regina; GUIMARÃES, Raul Borges. Construindo a Geografia. Coleção em 4 volumes (com Manual do Professor e Caderno de Atividades). São Paulo: Moderna, 1999. RIBEIRO, Wagner Costa; GAMBA, Carolina; ZIGLIO, Luciana. Geo Conecte live. Coleção em 3 volumes (com Manual do Professor e Caderno de Atividades). São Paulo: Saraiva, 2018. RIBEIRO, Wagner Costa; GUIMARÃES, Raul Borges; KRAJEWSKI, Ângela. Geografia, pesquisa e ação. São Paulo: Moderna, 2000. RIBEIRO, Wagner Costa; GUIMARÃES, Raul Borges; POLONI, Delacir Ramos. Aprendendo a construir Geografia. Coleção em 4 volumes (com Manual do Professor). Curitiba: Arco-Íris, 1994. RIBEIRO, Wagner Costa; SANT’ANNA, Fernanda Mello. Water security and interstate conflict and cooperation (Seguretat hídrica i conflicte i cooperació interestatals). Documents d'Anàlisi Geogràfica, v. 60, p. 573-596, 2014. DOI: https://doi.org/10.5565/rev/dag.150. RIBEIRO, Wagner Costa; SANT’ANNA, Fernanda Mello; VILLAR, Pilar Carolina. Desafios para a cooperação internacional nas águas transfronteiriças na América do Sul. In: Wagner Costa Ribeiro (Org.). Conflitos e cooperação pela água na América Latina. 1ª ed. São Paulo: PPGH/Annablume, 2013, p. 77-100. RIBEIRO, Wagner Costa; SANTOS, Cinthia Leone Silva; SILVA, Luis Paulo Batista. Conflito pela água, entre a escassez e a abundância: marcos teóricos. Ambientes: Revista de Geografia e Ecologia Política, v. 1, p. 11, 2019. https://doi.org/10.48075/amb.v1i2.23619. RIBEIRO, Wagner Costa; ZANIRATO, Silvia Helena; CAPEL, Horacio. Horacio Capel: una mirada sobre el mundo desde la Geografía. GEOUSP: espaço e tempo, p. 195-210, 2010. https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2010.74165. VALENCIO, Norma Felicidade; RIBEIRO, Wagner Costa (Org.). São Tomé e Príncipe, África: desafios socioambientais no alvorecer do séc. XXI. São Carlos: Rima, 2010. VILLAR, Pilar Carolina; RIBEIRO, Wagner Costa; SANT’ANNA, Fernanda Mello. Transboundary governance in the La Plata River basin: status and prospects. Water International, v. 43, p. 1-18, 2018. DOI: 10.1080/02508060.2018.1490879. VILLAR, Pilar Carolina; RIBEIRO, Wagner Costa. The Agreement on the Guarani Aquifer: a new paradigm for transboundary groundwater management? Water International, v. 36, p. 646-660, 2011. DOI: 10.1080/02508060.2011.603671. ZANIRATO, Silvia Helena; RAMIRES, Jane; AMICCI, Ana; RIBEIRO, Zulimar Márita; RIBEIRO, Wagner Costa. Sentidos do risco: interpretações teóricas. Biblio 3w (Barcelona), v. XIII, p. 1-13, 2008. http://www.ub.edu/geocrit/b3w-785.htm. ZIGLIO, Luciana Aparecida Iotti; RIBEIRO, Wagner Costa. Socioenvironmental networks and international cooperation: the Global Alliance for Recycling and Sustainable Development - GARSD. Sustentabilidade em Debate, v. 10, p. 396-425, 2019. https://periodicos.unb.br/index.php/sust/article/view/19328. SALETE KOZEL TEIXEIRA BIOGRAFIA SALETE KOZEL TEIXEIRA ERA UMA VEZ... E O INÍCIO FOI ASSIM.... “Os fundamentos do que é ‘grande’, em oposição ao que é ‘apenas comum’, são conquistados no início da vida, no meio ou mais tarde... muitas vezes mediante enormes fracassos, elevações do espírito, decisões equivocadas e recomeços impetuosos”. (Estés, 2007) Com os encantos da lua uma garotinha aterrissa no planeta Terra, às 4:40 horas do dia 25 de novembro de 1947, na Maternidade Cruz Azul, em São Paulo-SP. Uma “paulistana”, conforme o desejo de meus pais, paulistas de nascimento e de coração. Embora nascida na metrópole paulista, fui registrada em Brotas - SP, local de nascimento de meu pai Saulo de Oliveira Teixeira e residência dos familiares paternos. Mamãe, Maria Ottilia Kozel Teixeira, era paulistana, assim como seus irmãos. Como dizia papai: “você é fruto de uma boa miscigenação: português, espanhol, bugre e tcheco”. No ramo paterno, a mistura de português, espanhol e bugre (minha bisavó): Oliveira Pinto e Teixeira de Almeida. No ramo materno, português e tcheco: Monteiro França e Kozel. Muito das escolhas, e da minha formação, tiveram origem na relação com meus pais. Mamãe era uma mulher muito além de seu tempo, com valores de “outras terras”. Como filha de imigrante europeu teve formação em escola alemã, falava fluentemente o inglês e o alemão. Quando o Brasil passou a participar do conflito da 2ª guerra mundial, em 1942, as escolas alemãs foram fechadas e todo estudo nelas cursados foi invalidado. Na época, o presidente da República, Getúlio Vargas, confiscou todo o patrimônio adquirido pelos imigrantes estrangeiros. Assim, vovô Bohumil Kozel perdeu sua marcenaria, ficou doente e veio a óbito. Mamãe precisou trabalhar para ajudar no sustento da família, atuando como cobradora de porta em porta, secretária, balconista etc. Durante a 2ª guerra serviu o exército como datiloscopista e, posteriormente, conseguiu um emprego numa multinacional americana, coordenando um setor com público majoritariamente masculino. Imaginem essa proeza na década de 40 do século passado! Foi neste contexto que mamãe conheceu papai, que era irmão de um colega de trabalho. Apaixonaram-se e casaram em outubro de 1946. Assim, mamãe precisou se demitir visto que papai não permitia que sua esposa continuasse a trabalhar. Papai tinha formação em contabilidade e era fluente em francês. Fixaram residência em Brotas, no casarão da família Oliveira Teixeira, a casa paterna. Podem imaginar o que representou essa mudança para mamãe, uma mulher livre e “descolada”, tendo que se adequar às lides domésticas na pomposa casa dos sogros, uma família tradicional paulista de antigos fazendeiros? Foi em meio a essas circunstâncias que eu cheguei, em 1947, cercada de mimos e muito amor. Entretanto, apesar de todo conforto meus pais não estavam felizes; precisavam ter vida própria e resolveram alçar novos voos. Em busca de novas oportunidades, em 1949 integraram a frente migratória paulistana rumo ao norte do Paraná. A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná foi responsável pela colonização do norte do Paraná, com a venda de terras, tendo em vista, principalmente, o cultivo do café e a demarcação de vilas, que deram origem às principais cidades como Maringá, São Jorge do Ivaí, Mandaguari, Mandaguaçu, Apucarana e outras. Seguindo o modelo inglês de parcelamento rural em pequenas propriedades, a companhia foi criando áreas urbanas ao longo do espigão, a cada 10 a 15 quilômetros, ampliando a ferrovia e construindo estradas. É importante lembrar que a destruição da mata para a instalação das cidades e dos lotes rurais alterou a organização do espaço, levando ao extermínio da população indígena e ao desaparecimento de espécies vegetais e animais. Neste contexto, com dois anos de idade eu, meus pais e Tio Homero, irmão de papai, rumamos para Maringá, e no ano seguinte, para São Jorge do Ivaí, onde papai conseguiu emprego como contador, numa serraria. Nossa residência era na colônia dos trabalhadores. Em 1950 nasce minha irmã Selma e, em 1952, Solange. Vivemos esse período em meio aos montes de serragem e das “toras” trazidas pelos caminhões. Era muito triste ver tantas árvores cortadas e a floresta sendo derrubada. Em 1953, com seis anos, fui matriculada na primeira série do grupo escolar São Jorge, tendo Professora Carmem como a minha primeira professora e alfabetizadora. Em 1954 nasce meu irmão “Saulinho, o caçulinha”, e neste mesmo ano transferimos residência para Paranavaí no noroeste do Estado. Em Paranavaí, os aventureiros se reorganizaram com suas famílias: Tio Homero como proprietário da torrefação “Café Paranavaí” e papai agente da Transportadora Paulista. A primeira conquista de papai foi comprar para a família uma casa simples de madeira, na Rua Mato Grosso, 484. Foi preciso perfurar um poço no quintal, de onde retirávamos água com balde puxado pelo sarilho. Todos os dias puxávamos vários baldes de água do poço para encher um tambor e ter água para o uso doméstico. Não existia luz elétrica e nossa casa era iluminada com lamparinas e um lampião Aladim, a querosene. Ao vir para o Paraná meus pais enfrentaram muitos desafios, visto que foram criados em situação bem mais confortável. Muitas vezes vi mamãe chorar por todas as dificuldades que precisava superar e pelo medo, pois todos os dias os moradores fechavam suas casas devido ao tiroteio. Ao amanhecer sempre tinha pessoas mortas nas ruas, por causa da disputa de terras entre os capangas do Capitão Telmo Ribeiro, que detinha o poder na região, e pessoas que adquiriam os lotes de terra. Era um verdadeiro banditismo Guardo com carinho muitas lembranças e aprendizados que tive com papai neste período. À noite, muitas vezes, ficávamos sentados na área externa da casa a observar os astros, quando me dava aulas sobre constelações, recitava poemas em francês como: J’aime deux choses, La rose et voix, La rose par um jour e Et voux pour toujours. Ou a lei de Lavoisier: “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. Nesta época tive, também, as primeiras lições de direção, num jeep 51, quando papai dizia: “muito cuidado com estradas arenosas e poças d’água, mas, principalmente, tenha cuidado com os outros”. Grande sabedoria, que guardo até hoje ao dirigir um carro. Ele era um aventureiro sonhador, um grande companheiro, uma pessoa maravilhosa. Na nova cidade, prossegui os estudos na Escola Paroquial Nossa Senhora do Carmo, cursando a 2.ª série com a professora Durvalina, e as 3.ª e 4.ª séries com a professora Rosa Noguti. Na época, ao término do antigo “Primário” era necessário fazer um exame de Admissão para ingressar no “Ginásio”, praticamente um vestibular, e era preciso cursinho preparatório. Cursei o preparatório durante um ano, mas não consegui vaga no Colégio Estadual de Paranavaí. Em 1958 prestei novamente o exame de Admissão em Alto Paraná, município vizinho, onde fui aprovada. Portanto, foi preciso cursar a primeira série ginasial na Escola Estadual Agostinho Stefanello, em Alto Paraná, a 18 km de Paranavaí. Isso só foi possível por ter conseguido um passe de estudante, na Viação Garcia, me permitindo realizar essas viagens diárias gratuitamente. No natal ganhei uma bicicleta de presente, que era um meio transporte de casa à rodoviária. Ficava guardada na sala de espera da rodoviária esperando-me para voltar para casa. Foi uma aventura e um desafio muito interessante, tanto as viagens, os colegas e as aulas, sobretudo decorar as declinações em latim para a prova do professor Olímpio e fazer chinelos com bucha vegetal nas aulas de trabalhos manuais com a professora Ilze. No final do ano de 1959 papai ficou doente e foi levado às pressas de avião para São Paulo. Mamãe e tio Homero foram com ele e nós ficamos na casa da Tia Amélia, esposa do Tio Homero. Após uma semana ele não resistiu e partiu para o plano celeste, em 29 de novembro de 1959. Meu mundo caiu e todos nós vivemos momentos muito angustiantes. Mamãe, viúva, com quatro filhos menores; eu era a mais velha com apenas 11 anos. A família aristocrata do papai tentou intervir propondo repartir as crianças na certeza de que a mamãe não conseguiria gerir a situação. Eu, sob a tutela de meus avós, fui enviada para o Colégio São José, um internato para moças, em Jaú, próximo a Brotas. A ideia foi da minha tia Maria Agnes, irmã Francisca Teresa, que pertencia à Congregação de São José, que dirigia o Colégio em Jaú. Mamãe lutou contra os desmandos da família Oliveira Teixeira e conseguiu a guarda de meus três irmãos: Selma com 9 anos, Solange com 7 e Saulinho com 5 anos. Passou a trabalhar para sustentar a casa e os filhos. Felizmente tínhamos um teto para nos abrigar. Num primeiro momento, ela fez a contabilidade da Torrefação Café Paranavaí, que era de propriedade do Tio Homero, Mas como precisava cuidar dos filhos menores, e da casa, resolveu se dedicar à costura. No início costurava apenas para vizinhos e amigos, mas aos poucos a freguesia foi aumentando devido ao seu primoroso trabalho. Atendia as freguesas em casa e tinha proventos para o sustento da família, possibilitando acompanhar a educação dos filhos. No internato vivi um dos períodos mais conflituosos de minha vida. Tinha perdido meu querido pai, me arrancaram de casa e me colocaram no colégio, uma prisão. Ferida emocionalmente, e revoltada, ainda era preciso conviver com o rigor imposto pelas irmãs, e com as alterações hormonais da adolescência. O resultado foi uma grande rebeldia. Estava sempre de castigo. Assim cursei a 2ª série do ginásio, e apesar das agruras me destaquei em geografia, sobretudo pela paixão pelos mapas, e pelo desenho, visto que os mesmos eram desenhados no quadro negro, à mão livre. Naquela época tínhamos exames finais escritos e orais obrigatórios para todos os alunos, independente da média. Nos exames orais de geografia eram sorteados os pontos e tínhamos que desenhar o mapa com o respectivo tema solicitado. Era algo muito instigante! Ao final do ano mamãe foi me buscar, não permitindo que eu ficasse no internato, contrariando o previsto pela família Oliveira Teixeira, que dizia: “Salete ficará no convento e seguirá os estudos para ser freira”. Retornando a Paranavaí dei continuidade ao curso ginasial, cursando a 3ª e 4ª séries no Colégio Estadual de Paranavaí, concluindo o ginásio em 1962. Nessa época, existiam 12 matérias no currículo escolar ginasial, incluindo Latim, Francês, Inglês, Canto, Desenho, Educação física, Trabalhos manuais, Geografia geral, História geral, e OSPB. Lembro com saudades de alguns professores como professora Neusinha, de História, e o professor Carlos Cagnani, de música. Eram motivadores, encantadores. Entretanto, quando cursava a 4ª série ginasial tive duas experiências angustiantes e apavorantes que, contraditoriamente, me motivaram a seguir a carreira do magistério. Numa aula de Português a professora Elza apresentou minha redação toda marcada em vermelho e, ao invés de me entregar, amassou e jogou no lixo, desconsiderando totalmente o meu trabalho, causando constrangimento perante os colegas de sala. Outra situação chocante ocorreu na aula de matemática. Quando adentramos à sala o quadro negro estava todo preenchido com letras, números e outros símbolos, despertando minha curiosidade... o que seria aquilo? Questionei o professor Gilberto: o que fazem os números junto com as letras? E onde vamos utilizar isso em nossa vida? A resposta foi imediata...“Fora da sala de aula aluna inconveniente”! Fui penalizada com a suspensão das aulas por três dias e mamãe foi convocada a ir ao colégio assinar uma advertência pelo comportamento desrespeitoso da filha. Foram situações horríveis que me marcaram profundamente. Eu não concebia que numa escola onde se interage com o conhecimento, que deveria ser prazeroso, fosse castigada e penalizada pela relação entre acertos e erros e pela curiosidade própria da idade. Foram situações que me levaram a desafiar a mim mesma. Iria seguir a carreira do magistério, pois precisava praticar algo totalmente diferente: estabelecer uma relação respeitosa com os alunos ao mediar o conhecimento. Nessa fase da vida mamãe se dividia entre as costuras, as lides domésticas e a educação dos filhos. Os cadernos eram todos encapados com papel impermeável colorido e o nome das disciplinas desenhado com letras góticas, em nanquim, ilustrados com lindas alegorias. Tudo com muito capricho e esmero. Nossos uniformes escolares também eram impecáveis. Como mamãe costurava para as proprietárias da Livraria Santa Helena, ficava mais fácil adquirir os materiais escolares para os filhos, permutando com costura. Nessa ocasião, mamãe adquiriu a duras penas uma Enciclopédia Delta Larousse, com 15 volumes e uma coleção de Dicionários Caldas Aulete, para subsidiar o estudo dos filhos e a elaboração dos trabalhos escolares. Solicitou ao Sr. David, marceneiro, uma prateleira para colocar essas preciosidades, a qual foi colocada na sala de casa, em destaque. Mamãe sempre achava um tempinho entre os afazeres para ler um trecho dos livros. Chegou a ler todos os volumes da enciclopédia. Ao concluir o Curso ginasial a próxima fase era o segundo grau ou colegial. Na época, havia quatro opções: cursar o clássico, científico, contabilidade ou magistério. Num primeiro momento pensei em cursar o científico para me preparar para curso de biologia, mas a vontade de ser professora foi mais forte. Dessa forma, me inscrevi no exame seletivo para ingressar na Escola Normal Colegial Leonel Franca. Fui aprovada e cursei os três anos de magistério com orgulho e satisfação. Ser “normalista” era um privilégio! Na época, os professores eram valorizados e respeitados. O curso foi interessante e os estágios com os alunos da Escola de Aplicação apontavam novas perspectivas. Nas aulas de filosofia o professor Elpídio nos apresentou o “Pequeno Príncipe”, relacionando o conteúdo da disciplina com a obra. Foi algo que jamais esqueci, principalmente a fala da raposa: “tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas”. As aulas de psicologia, ministradas por D. Graça, nos faziam compreender intuição, percepção, ego, superego e Id. Além de aulas interessantes, tinha um grupo de amigas muito solidárias, sobretudo a Toninha, Meire, Livinha, Loris, Marfisa e Eliete. Ainda hoje tenho contato com esse grupo nas redes sociais. Foi um curso libertador! Mamãe também ficou feliz por eu cursar o magistério, uma realização pessoal, visto que almejava ser professora, mas as adversidades não permitiram. Concluí o curso do magistério em 1965, cujo diploma foi motivo de orgulho. Recebi o diploma das mãos de meu sogro Josias Soares de Lima, que considerava um pai. Novo ciclo se fechou. Era preciso pensar em ingressar numa faculdade. Em princípio, tinha interesse em cursar Agronomia, paixão antiga pela natureza e especialmente pela terra. Mas, naquela época, dificilmente uma moça saía para morar e estudar fora de casa e o curso almejado era a Escola de Agronomia Luiz de Queiroz, de Piracicaba - SP. Foi um sonho, que não era viável por motivos econômicos, sociais e culturais. Em 1966, com grande alarde pela classe política da época, foi inaugurada a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Paranavaí. Oferecia os cursos de Pedagogia, Letras, Ciências e Geografia. A escolha entre os cursos oferecidos ficou com a Geografia pela correlação com a terra, astros e mapas, que me fascinavam. Era necessário enfrentar o cursinho e novo vestibular, o que aconteceu durante o ano de 1966. Fui aprovada no exame vestibular e ingressei, em 1967, na 2ª turma de geografia da FAFIPA. Este ano foi emblemático. Ingressei no ensino superior, me casei em 23 de setembro e iniciei minha carreira profissional com a aprovação em concurso para professores nas séries iniciais, no Estado do Paraná: Professora Efetiva Estadual Símbolo MN-1, Nível 12 - 13/03/1967. Inicia uma nova fase da minha vida, com novos desafios. A minha primeira turma de alunos foi uma primeira série A, onde atuei como alfabetizadora, tendo como base a Cartilha Caminho Suave, na Escola de Aplicação da Escola Normal Colegial Leonel Franca, que funcionava na Rua Rio Grande do Norte, o mesmo prédio que era ocupado pela Escola Normal e pela FAFIPA. No primeiro ano do curso de geografia na FAFIPA me encantavam as aulas do professor Jesus nos apresentando uma Biogeografia “viva”, genial! A Geografia Física, ministrada pelo controverso professor Niéce, era desafiadora e consistia basicamente em Astronomia. Em 1968 cursei o 2º ano da faculdade, juntamente com a gravidez de minha primeira filha, Alexandra, que veio ao mundo em 17/11/68. Felizmente ela era uma criança saudável e eu consegui aprovação em todas as disciplinas. Em 1969 cursei o 3º ano e contei com a ajuda da minha família para cuidar de minha filha. Posteriormente, apareceu um anjo em nossas vidas, D. Chiquinha, que passou a morar em casa e ajudar a cuidar de minha filha e da casa, permitindo que me dedicasse aos estudos e às aulas de uma nova turma na Escola de Aplicação. O Último ano da faculdade também foi conturbado, tendo que conciliar meus estudos com a segunda gravidez, de Larissa, que era aguardada para janeiro. Antecipou-se, após uma queda, chegando em nossa família em 17/12/1970, prematura e com problemas de saúde. A FAFIPA, como uma faculdade recém-criada, não contava com boa estrutura. Era essencialmente “aulista”, deficiente em biblioteca e laboratórios. Durante os quatro anos do curso de graduação não houve sequer uma aula de campo. Entretanto, nos reuníamos no Diretório Acadêmico Tristão de Ataíde para discutir as questões internas da faculdade, assim como o contexto social e político vigente no momento. Apesar das agruras, fiz ótimos amigos neste período como a Ivone, Maria Maris, Osvaldo, Alcides e José Maria. A formatura da Faculdade ocorreu em 1971. Com o curso de Licenciatura em geografia concluído foi possível intensificar o trabalho docente de 1ª a 4ª série, no período vespertino, pelo padrão do Estado; e, no período matutino ou noturno, as aulas extraordinárias (5ª a 8ª) de desenho, EMC e Geografia. Foi um momento de grande aprendizado e parcerias. E, neste contexto, em 1972, durante o período de repressão, discutindo a inexistência de democracia no país nas aulas que ministrava de Educação Moral e Cívica, fui advertida pelo diretor, o qual tinha escuta em sua sala. No ano seguinte, fui enquadrada no AI-5 (1) e não me foram atribuídas aulas extraordinárias. O primeiro Padrão, referente à 1ª a 4ª séries, em 1971 foi colocado à disposição da secretaria do Colégio Estadual de Paranavaí e, posteriormente, realocado na secretaria da Escola Estadual Adélia Rossi Arnaldi, EPG, no distrito de Sumaré, onde residi e trabalhei no período de 5/3/1971 a 19/11/1976. Nesse interstício, tive mais uma gravidez, e, em 08/07/1974, a família é agraciada com a chegada de Igor, “o caçulinha”. Esse período exigia mais dedicação e atenção com a fase de infância das crianças, o que só foi possível conciliar pela inestimável ajuda de Tia Chiquinha (Francisca Luiza Moreira), que morava conosco e era a 2ª mãe das crianças, enquanto eu e o pai trabalhávamos arduamente. Voltamos a residir em Paranavaí, agora na casa onde vivi desde a infância, pois mamãe mudou-se para Curitiba com meus irmãos Saulo, Solange e o sobrinho Christian. Então, retomei as aulas de 1ª a 4ª série, agora na Escola Leonel Franca, EPG, atuando até 1978. Foi uma fase em que a maior preocupação era o currículo escolar a ser trabalhado, pois os conteúdos eram fragmentados e distantes da realidade, precisando muitas vezes ser readequados mesmo sem a aprovação da coordenação. Eu priorizava as aulas fora da sala, promover competições, exposições, entrevistas e nada disso era visto com bons olhos pela coordenação e direção da escola. Por ser uma pessoa contestadora, fui eleita, pelos professores, em 10/05/1979, diretora da Escola e estive no cargo até 14/05/1981. Foi uma experiência complexa gerir pessoas e lidar com os meandros do poder. Um grande desafio! Não foi uma experiência agradável, pela falta de responsabilidade de alguns, bajulação de outros, enfim, o jogo do poder. No ano de 1980 participei do concurso para professores licenciados do Estado do Paraná e fui aprovada como Professora Efetiva Estadual MPP - 103 Classe “C” nível 3 – disciplina Estudos Sociais. Ao escolher vaga tive minha lotação fixada na Escola Unidade Polo de Paranavaí, onde trabalhei apenas um ano, por não me adaptar com alunos filhos de pais abastados, desrespeitosos e sem limites. Pedi transferência para a Escola Estadual Enira de Moraes Ribeiro, EPG. Esta escola, localizada num bairro periférico, tinha uma comunidade escolar ávida pelo saber, o que me possibilitou desenvolver um trabalho bem mais gratificante. Nesta escola, exerci o cargo de vice diretora no período de 07/10/1983 a 02/07/1984, quando fui convidada a assumir a Coordenação da Área de Ensino de Geografia no Núcleo Regional de Educação de Paranavaí. De 1971 a 1982 a geografia foi suprimida dos currículos escolares, sendo substituída por Estudos Sociais, abrangendo História e Geografia. Os professores das áreas de geografia e história estavam muito descontentes. Organizou-se, então, um grande movimento nacional liderado pala AGB e professores dessas áreas foram em caravanas até Brasília, reivindicando a abertura da área e que a Geografia voltasse aos currículos escolares. Depois de muita luta conseguimos nosso intento desmembrando a área de Estudos Sociais e a Geografia retorna à grade curricular, com autonomia. A minha trajetória profissional na educação iniciou com a vigência da Lei 4024/61, passou pela Lei 5692/71 e finalizou com a Lei 7044/82. Em 1984 vivemos momentos de grande euforia na educação paranaense. Foram elaboradas propostas de modificações pedagógicas e a criação dos 22 núcleos de Educação, em todo o território paranaense. Grande debate educacional foi deflagrado, através dos Seminários “Políticas da SEED”, com a participação de todos os educadores. Nesse momento passei a integrar a equipe de Ensino do Núcleo Regional de Educação de Paranavaí, atuando na coordenação dos professores de geografia dos 28 municípios a ele jurisdicionados. O trabalho com os professores de geografia foi uma das realizações mais interessantes de minha vida profissional, com a organização de vários Seminários e grupos de estudo. Foi possível, ainda, a realização de um Curso de Aperfeiçoamento em geografia para professores de 1º e 2º graus, em três polos: Nova Esperança, Paranavaí e Nova Londrina. O curso, de 120 horas, foi organizado para atender a demanda dos 260 professores do NRE, durante o ano de 1988. O Curso foi estruturado em três etapas, com sete minicursos de 16 a 24 horas, ministrados por docentes convidados da UEM e da FAFIPA, cujas temáticas foram: Enfocando Fundamentos da geografia, Estudo do meio, Noção de espaço e tempo, Geografia do Paraná, Quantificação em geografia, Noções de cartografia e Metodologia de ensino de geografia. Posteriormente, este curso se constituiu na pesquisa empírica da minha Dissertação de Mestrado. Paralelamente à realização de atividades pedagógicas junto aos professores de Geografia, em 28/09/1988 houve RDT, a qual possibilitou a junção dos 2 padrões, em apenas um: como Professora Efetiva Estadual PQ-0585, RDT- 40 horas, o que foi uma grande conquista profissional. Durante sete anos, de 1984 a 1991, desenvolvi atividades na coordenação da área de Geografia no NRE de Paranavaí. Nesse período ingressei como docente no 3º grau, intensificando minha formação profissional em Geografia, com a participação em dois cursos de Especialização, aprovação em concurso na UEM, ingresso no Mestrado em Geografia na FFLCH/USP, o que abordarei com detalhes no próximo tópico. Em 1991 completei 25 anos de serviço no magistério Público paranaense e solicitei a aposentadoria, o que aconteceu oficialmente em 30/04/1991. A SAGA DA PÓS-GRADUAÇÃO A década de 80 representou um divisor de águas em minha vida profissional, com novas perspectivas, novos e instigantes horizontes. Em 1982 ocorreu o convite para substituir o professor Vicente na disciplina de Geografia Econômica na FAFIPA. Foi algo inusitado visto que eu não tinha intenção de atuar na docência do terceiro grau. Mas, enfim, decidi aceitar o desafio. A experiência foi árdua e provocativa, tive que estudar muito e me reinventar, pois entre os alunos existiam bancários, empresários e profissionais com diversas formações. Senti necessidade de continuar os estudos. Foi quando surgiu a oportunidade de um curso de Especialização em Geografia Humana, na PUC (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), em Belo Horizonte. Os cursos eram oferecidos em módulos de 15 dias, durante as férias (julho e Janeiro), com duração de 360 horas, no período de 1884 a 1986. A proposta foi irrecusável, pois os cursos eram oferecidos gratuitamente a professores que quisessem se capacitar. Assim, eu e mais quatro colegas de áreas distintas aceitamos o desafio. Formamos um grupo contemplando as áreas de Matemática (Mirian), História (Helena), Psicologia (Ana), Ciências (Rosinha) e Geografia (Salete). O curso foi muito interessante, tanto pelo conteúdo como pela capacidade dos docentes e a parceria de colegas provenientes de vários estados do Brasil. Dentre os docentes destaco os professores Oswaldo Bueno Amorim Filho, Janine Le Sann, Lucy Philadelpho Marion e João Francisco de Abreu. Ao ministrar Geografia Urbana, o professor Oswaldo me possibilitou participar pela primeira vez de uma aula de campo, na cidade de Itaúna. Ele também ministrou a disciplina de Geografia Política encantando a todos com seu incrível conhecimento e didática. Nas aulas de Cartografia, Janine Le Sann nos apresentou a Semiologia Gráfica de Bertin. As aulas da professora Lucy Marion, em Geografia Social e Percepção Ambiental, também deixaram saudades, pois me permitiram entrar em contato com uma geografia que eu desconhecia até o momento. Em janeiro de 1986 conclui o curso, com êxito. Assim, no período de 1982 a 1986 atuei como docente na FAFIPA, ministrando aulas nas disciplinas de Geografia Econômica, Geografia Humana e Regional. O esforço em fazer o melhor trabalho foi reconhecido pelos alunos, sendo homenageada, em 1984, como paraninfa, juntamente com professor Emílio Eugênio Niéce (patrono). Ainda cursando a especialização em Belo Horizonte, e atuando na coordenação dos professores de geografia do NRE de Paranavaí, me senti provocada pela falta de conhecimento sobre a Geografia do Estado do Paraná, pois esse conhecimento não constou no currículo do Curso de Geografia da FAFIPA, ficando uma lacuna. Os professores, em geral, também tinham grande interesse em conhecer melhor a geografia do Estado. Dessa forma, em março de 1985, a Universidade Estadual de Maringá ofereceu um Curso de Especialização em Geografia Física do Paraná, com duração de 450 horas. Prosseguindo a saga em busca de preencher as lacunas em minha formação, eu me inscrevi. Com muito sacrifício conciliei as atividades profissionais e familiares percorrendo, com frequência, os 70 km entre Paranavaí a Maringá para assistir as aulas e desenvolver as atividades que o curso exigia. O curso era composto pelas disciplinas: Cartografia Aplicada e Geografia Física, Climatologia do Paraná, Metodologia e Técnicas de Pesquisa, Geologia do Paraná, Solos do Paraná, Geomorfologia do Paraná, Biogeografia do Paraná, Trabalho de campo I, Trabalho de campo II, Metodologia do Ensino Superior, Teorias de Regionalização em Geografia Física e a elaboração da Monografia. As aulas corresponderam às expectativas, proporcionando um grande aprendizado e muitas descobertas. O ponto alto do curso foram as aulas de campo: a primeira, em âmbito regional, na área circundante a Maringá; e, a segunda, um campo integrado com todos os professores numa viagem de 10 dias pelo estado do Paraná. professores numa viagem de 10 dias pelo estado do Paraná. Nessa viagem de campo aconteceu a integração entre os conhecimentos anteriormente abordados, com a participação conjunta dos professores, nos permitindo adentrar numa seara inimaginável. Os professores Sergio e Issa iniciavam com a Geologia, Giacomini com a Climatologia e a Geomorfologia, Paulo com os Solos, Maria Eugênia com a Biogeografia e Marcos com as Orientações Cartográficas. Pudemos confirmar que “a geografia se faz com os pés”. Fomos muito além dos ensinamentos dos livros, algo que ficou marcado em minha vida. Como a monografia era obrigatória, escolhi como orientador o professor Paulo Nakashima, que ministrava a disciplina de Solos. A antiga paixão pelos solos aflorou novamente e optei por desenvolver a pesquisa: “Dinâmica de ocupação e uso do solo no vale do Ribeirão Suruquá, em Paraíso do Norte - PR”. A pesquisa teve por objetivo desenvolver estudo sobre uma área delimitada no município de Paraíso do Norte de latossolo roxo, com a aplicação da metodologia de André Journaux, fundamentada na elaboração da Carta da Dinâmica ambiental, que possibilitava realizar a análise da qualidade do solo enfatizando sua conservação e a necessidade de equilíbrio ecológico entre os elementos existentes na área. A capa da monografia foi uma criação do colega e amigo Roberto Pereira da Silva, geógrafo e destacado artista paranavaiense, propiciando um toque artístico. A representação reflete a ocupação da área, a espacialização e o desenvolvimento da pesquisa. O curso foi concluído em janeiro de 1988, com a defesa da monografia. Devido ao meu envolvimento na Universidade Estadual de Maringá fui convidada a me inscrever no concurso para professores, sendo aprovada como Professora auxiliar II T-9, em 8/3/1987. Na ocasião não pude ser contratada com T-40 por ainda atuar no NRE de Paranavaí. Entretanto, com a aposentadoria em 1991, pude intensificar minha carga horária como docente na UEM, transferindo a residência para Maringá, juntamente com a família. Neste período, fui docente de várias disciplinas como Geomorfologia Ambiental, Cartografia, Geografia Regional e Geografia do Paraná. Desta forma, tive oportunidade de desenvolver diversos trabalhos com os alunos, aplicando os conhecimentos adquiridos nos cursos de especialização anteriormente desenvolvidos. A docência na UEM foi muito marcante. Houve momentos mágicos em que se pode construir o conhecimento de maneira compartilhada e interessante, sobretudo na sala de aula. Entretanto, a parte institucional dessa relação com os colegas, a maioria com maior titulação (mestres e doutores), foi conflituosa desde o início, quando ainda não tinha ampliado a carga horária para 40 horas. Por exemplo: numa das reuniões do Departamento foi apresentado o Projeto Porto Rico, com possibilidade de ampliar o grupo de pesquisa e eu demonstrei interesse em participar. A reação dos coordenadores foi imediata, questionando sobre minha titulação... “qual é a sua titulação para pretender integrar este projeto”? Foi uma situação conflituosa, pois eu não tinha a titulação necessária. Naquela mesma semana, quando fui a uma reunião na Secretaria de Educação em Curitiba, decidi ir a São Paulo me inscrever no mestrado, na melhor universidade do país na época, a USP. Ao chegar ao prédio do Departamento de Geografia da USP me senti perdida num imenso universo, totalmente desconhecido. Ao pé da rampa do prédio avistei o professor Gil Sodero de Toledo, o qual já conhecia de Eventos para formação de professores de Geografia. Consegui acalmar meu coração quando ele me convidou para conversarmos em seu gabinete. Expliquei a ele a minha intenção em fazer o Mestrado e a situação vivida junto aos colegas na UEM. A acolhida do professor Gil foi providencial, me encaminhando à secretaria para fazer a inscrição no mestrado e me orientando sobre os quesitos necessários. Assim, retornei a Maringá e elaborei o projeto para apresentar na seleção, tendo por base a experiência como coordenadora de Geografia no NRE de Paranavaí. O projeto teve como título: “O Processo de capacitação docente e o ensino de geografia: angústias e reflexões”. Felizmente, fui aprovada e iniciei os créditos em 1989, viajando toda semana para São Paulo, não esquecendo de que nessa ocasião ainda estava trabalhando no NRE em Paranavaí e ministrando algumas aulas na UEM. Foi uma loucura, sobretudo porque não tinha bolsa da Capes, devido ao vínculo empregatício. Assim, era preciso arcar com o custo de passagens e alimentação semanais. Saía de Paranavaí toda terça feira, às 22:00 horas, pela Viação Garcia e chegava em São Paulo às 6:30 horas. Mal dava para tomar um café, pois as aulas iniciavam às 8:00 horas. Participava das aulas pela manhã e à tarde e retornava às 22:00 horas, chegando em Paranavaí às 6:30 horas, para iniciar minha jornada no NRE às 8:00 horas. O desgaste físico e emocional era intenso, pois houve momentos em que precisei costurar para as vizinhas para conseguir comprar as passagens e algumas vezes tive a incompreensão da chefia do NRE, descontando faltas em meu salário, “uma pedra em meu caminho”. Ao iniciar os créditos para o curso de Mestrado, novos desafios. A primeira disciplina do primeiro semestre de 1989 foi Teoria e Pesquisa em Geomorfologia (posições teóricas e técnicas de pesquisa em geomorfologia), ministrada pelo professor Adilson Avanci, sendo a bibliografia básica em língua inglesa, que eu não dominava(2). A ajuda de mamãe neste momento foi imprescindível, traduzindo o livro base do curso. No segundo semestre de 1989 cursei três disciplinas: Análise Ambiental Urbana e Sensoriamento Remoto, com a professora Magda Lombardi; A Cartografia como meio de comunicação - implicações no ensino de Geografia 1º e 2º graus, com a professora Maria Elena Simielli; e, Análise espacial, regionalização sistemática em Geografia Física - O processo climático e suas interações, ministrada por meu orientador, o professor Gil Sodero de Toledo. Embora os cursos de Especialização tivessem acrescentado muito em minha formação geográfica, os conhecimentos obtidos nesses cursos na USP foram provocativos e de grande aprendizado, mesmo com concentração em Geografia Física, enquanto minha pesquisa era em Ensino de Geografia. O seminário final do curso de Análise Ambiental foi apresentado no mirante do Parque Estadual da Cantareira, uma experiência sensacional. No 1º semestre de 1990 cursei Construção do Espaço e Política - subsídios para uma renovação da Geografia Política, com docência do professor Willian Vesentini; e o Construtivismo no Ensino das Ciências, na Faculdade de Educação da USP, sendo docente a professora Nidia Pontuska. Assim, completei os 40 créditos obrigatórios e passei a me dedicar à elaboração da dissertação, me qualificando em 29/06/1992. Terminei os créditos em 1990 e no ano seguinte consegui a aposentadoria na SEED/Paraná, transferindo minha residência para Maringá. Na década de 1990 o curso de mestrado ainda era realizado em quatro anos: cursei os créditos no período de 1989 a 1993 e defendi a dissertação em 18/05/1994, com o título: O processo de capacitação docente e o ensino de geografia: angústias e reflexões”. Em 1993 acontece uma nova ruptura em minha vida pessoal, o divórcio, após 25 anos de união, época em que Igor, meu filho caçula, é aprovado no vestibular da PUC –PR, para cursar Engenharia da computação. Mudou-se para Curitiba onde a Larissa já estava trabalhando e residindo. Foi um momento traumático! Assim, solicitei ao colegiado de curso da UEM ficar à disposição do CIMEPAR, em Curitiba, por dois anos, com o intuito de amenizar a situação. Mas para a minha surpresa o pedido foi negado e tive que tomar uma decisão drástica: assinar minha carta de demissão. Meu desligamento da UEM se consolidou com a Portaria 1950/93. O que restou da separação foi um carro Fiat 147, onde coloquei os meus pertences e rumei para a casa de meus filhos em Curitiba. Apenas com o salário da aposentadoria da SEED/PR não era possível reorganizar a vida. Precisava trabalhar. Comecei a distribuir currículos em colégios de ensino fundamental e médio. A mão divina me ajudou! Recebi um telefonema da secretaria do grupo Positivo me convidando para realizar uma entrevista. Fiquei surpresa, pois não havia entregue currículo no Positivo. Compareci ao local na hora marcada e fui entrevistada pela professora Cristina, coordenadora do novo projeto da Distribuidora Positivo que visava capacitar professores das escolas conveniadas Positivo, em todo o país. No contexto da entrevista soube que a minha indicação tinha sido de um anjo dos céus, a professora Marcia Cruz, que conhecia meu trabalho com a capacitação de professores e soube que eu estava em Curitiba à procura de trabalho. A entrevista ocorreu na 6ª feira e eu iniciei o processo de treinamento com o grupo selecionado na 2ª feira seguinte. Era um grupo composto por profissionais de diferentes áreas do conhecimento: Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês e Artes. Fui contratada como Coordenadora Pedagógica de Geografia, na Distribuidora Positivo, em 16/06/1993. Essa oportunidade profissional correspondeu a uma pós-graduação, com novos aprendizados, aliados a excelente salário. Passei a conhecer o Brasil todo, visto que existiam escolas conveniadas Positivo nas principais cidades do país. Das capitais brasileiras, apenas não conheci Boa Vista e João Pessoa. A equipe de trabalho era composta por um grupo solidário e fraterno, pois ficávamos mais tempo trabalhando juntos do que com nossos familiares. A partilha de conhecimento foi intensa, tanto entre os integrantes do grupo como com os professores das escolas visitadas. Foi um trabalho muito gratificante pelo interesse dos professores em compartilhar conhecimento. Encontrei trabalhos belíssimos desenvolvidos por grupos solitários, em áreas distantes, como no Acre, onde os próprios professores escreveram um livro, “Geografia do Acre”, para utilizar em suas aulas, formando um grupo de estudos entre eles, em local apropriado, com muitos materiais didáticos que todos podiam usar em suas atividades, algo que almejava quando ainda estava no NRE, em Paranavaí. Já atuava na Distribuidora Positivo quando defendi o mestrado em 18/05/1994 e fui homenageada pelos colegas com uma festa surpresa. Na ocasião, a primeira integrante do grupo a defender um mestrado, algo muito significativo para todos. Essa titulação me garantiu alguns privilégios. Um deles foi acrescentar nos cursos oferecidos aos professores elementos de Epistemologia da Geografia para que pudessem entender melhor o material do Positivo, que era eclético, mesclando várias orientações teórico-metodológicas, sobretudo por ser escrito por várias pessoas, com convicções diferenciadas. Isso tornou os professores mais críticos e passaram a exigir mais, questionando o conteúdo e as atividades que eram apresentados nas apostilas do Positivo. Neste sentido, ministramos inúmeros cursos para professores em todo o Brasil, de 1993 a março de 1995. Em 1993/1994 ministramos cursos para professores de 5ª a 8ª séries das escolas conveniadas positivo, nas seguintes localidades: Criciúma, São José, Tubarão e Florianópolis (SC); Cuiabá, Tangará da Serra e Rondonópolis (MT); Campo Grande (MS); Brasília (DF); Curitiba, Londrina, Pato Branco e Apucarana (PR); Canoas e Esteio (RS); Rio de Janeiro (RJ); Salvador (BA); Recife (PE); Mossoró (RN); Belém (PA); Manaus (AM); Rio Branco (AC); Porto Velho e Ji-paraná (RO); Anápolis (GO); Belo Horizonte (MG); Vitoria (ES); Campinas, Araçatuba e Agudos (SP); São Luiz (MA); Macapá (AP) e, Gurupi (TO). Em 1995, fizemos capacitação em geografia para professores de 1ª a 4ª série e seminários de avaliação, nas seguintes localidades: Várzea Grande, Sinop e Barra do Garça (MT); Brasília (DF);Campo Grande (MS); Jundiaí, Lins e Avaré (SP); Uberlândia, Pouso Alegre e Belo Horizonte (MG); Carazinho, Canoas e Bajé (RS); Vitória e Guarapari (ES); Salvador, Teixeira de Freitas e Jacobina (BA); Aracajú (SE); Maceió (AL); Goiânia e Caldas Novas (GO); Rio de Janeiro (RJ); Manaus (AM); Belém, Bragança e Altamira (PA); São Luiz (MA); Mossoró (RN); Recife (PE); Ji-paraná (RO); Rio Branco (AC); Tubarão e Lages (SC); Crato (CE); Floriano (PI); e, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins (TO). Nesta oficina foram construídas maquetes de Caldas Novas e apresentadas como alternativas didáticas ao ensino de Geografia. Nesses três anos viajando foi possível desenvolver muitos trabalhos interessantes e inovadores, rompendo com o trabalho pré-definido apresentado pelas apostilas, ou seja, ministramos cursos que propiciassem “ir além da apostila e desenvolver uma geografia mais viva e interessante”. Entretanto, embora motivador e instigante, este trabalho foi cansativo e rompia com os vínculos familiares: nas datas importantes sempre estávamos fora de casa, em viagem. A família eram os colegas de viagem. Em dezembro de 1995, quando cheguei em Curitiba, soube que haveria no final de 1996 um concurso em Geografia Humana, para docentes, no Departamento de Geografia da UFPR. Ao refletir sobre a situação resolvi me inscrever, embora minha formação básica fosse na área de Geografia Física. Apesar de ainda estar vinculada ao Positivo, com a aprovação no concurso teria que fazer uma escolha. Optei pela Universidade. Enfim, voltaria a ser docente em uma universidade pública! Fui contratada como Professora Assistente-I DE, da Universidade Federal do Paraná-PR, pela portaria n. 6678 de 7/2/ 96. No início foi difícil, pois o salário do Positivo era muito maior do que o da UFPR, mas me adaptei às novas condições, pois foi uma escolha bem consciente. Na UFPR iniciei com a docência das disciplinas Geografia Humana e Fundamentos da Geografia e, posteriormente, Geografia Regional e Percepção em Geografia. Não foi fácil enfrentar as disciplinas da área humana, pois, como já disse, minha formação básica era prioritariamente na área de Geografia Física. Alguns colegas questionavam: “Afinal, você é da área Humana ou Física”? Como ingressei na vaga do professor Lineu Bley, que lecionava Percepção em Geografia, me vi na obrigação de dar continuidade a esse legado e tive respaldo dos conhecimentos adquiridos nas aulas de Lucy Marion, na PUC-MG, quando cursei a especialização. Novos desafios.... Devido à minha trajetória e a paixão pelo ensino de geografia reorganizei o LABOGEO (Laboratório de Geografia) e passei a desenvolver projetos como a “Feira Geográfica Itinerante”, que apresentava a Geografia nas escolas de Ensino Fundamental e Médio de Curitiba. Passei a atuar mais detidamente na licenciatura, com um grupo de bolsistas. Atuei como coordenadora do Projeto PROLICEN/LICENCIAR, da Feira Geográfica Itinerante e do Projeto “A geografia do Cotidiano na sala de aula - a construção da Maquete ambiental”, no Colégio Estadual Leôncio Corrêa, EPSG, de março a dezembro de 1996. Estávamos num período de grande reestruturação curricular norteados pelos pressupostos teóricos/éticos da Lei 9394/96, onde o Ensino Médio é entendido como aprofundamento do Ensino Fundamental, pelo viés metodológico, privilegiando uma abordagem interdisciplinar entre as áreas do conhecimento e os saberes disciplinares do seu aprendizado. Assim, recebi o convite para participar da organização do “Seminário Curricular para o Ensino Médio - Perspectivas da Implantação”, que ocorreu em Faxinal do Céu (Centro de Treinamento de Professores da SEED), no período de 19 a 23/10/1998 (3). Neste seminário aconteceram Oficinas, Mesas Redondas e Palestras, visando a interdisciplinaridade entre as três áreas: Ciências Humanas e suas tecnologias, Linguagens Códigos e suas tecnologias e Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Cerca de 1200 professores de todo o estado do Paraná estiveram presentes. A Equipe de trabalho foi composta pelos professores: Salete Kozel (Geografia), Jairo Marçal (Filosofia), Rubens Tavares (História) e Wanirley Pedroso Guelfi (Sociologia). O Projeto “A Geografia do Cotidiano na sala de aula - a construção da Maquete ambiental” também teve desdobramentos em 2002. A convite da UNILIVRE (Universidade Livre do Meio Ambiente) e da SEED-PR integrei uma equipe de professores para organizar o Curso “Capacitação em Mapas e Maquetes: os diferentes olhares para as representações do Espaço paranaense”, destinado a professores de Geografia e História da rede estadual paranaense. O objetivo era fazer uma reflexão sobre as representações histórico-geográficas no estado do Paraná, por meio da construção e utilização de mapas e maquetes e sua implantação como material pedagógico. Vários materiais e textos foram elaborados, cujas dinâmicas foram apresentadas pelas seguintes atividades: Entre o real e o imaginário, Do simbólico ao real, Do bidimensional ao tridimensional, Trilhas e rumos, O espaço virtual, O olhar dos viajantes, Ações e reações - o espaço dinâmico. Participaram destas oficinas 1500 professores, em 3 grupos de 500. A equipe foi composta pelos professores Elton Luiz Barz e Ione Moro Cury (História), Leny Mary Góes Toniolo (Educação Ambiental), Mário Cezar Lopes (Geografia), Nilson Cesar Fraga (Geografia), Rubens Tavares (História), Salete Kozel Teixeira (Geografia), e os oficineiros Hugo Moura Tavares (História), Marcia Cruz (geografia), Marcia M. Fernandes Oliveira (Geografia), Maria Alice Collere (Geografia) e Martin Antonio Boska (Geografia). Neste momento, o Departamento de Geografia da UFPR estava se organizando para propor a pós-graduação em Geografia. Precisava, portanto, de docentes com maior titulação. Assim, houve o incentivo para que todos fizessem o doutorado. Novamente a necessidade de alçar novos voos. Fiz minha inscrição para a seleção no doutorado na USP, no início de 1997. Com a aprovação, iniciei os créditos em abril de 1997. Apresentei o projeto “Proposta de simbologia Cartográfica aplicada à Educação ambiental e ao ensino de geografia”, tendo a Profa. Maria Elena Simielli como orientadora. É importante ressaltar que no Doutorado pude, enfim, concretizar meu antigo sonho: “estudar os solos e cursar agronomia na ESALQ de Piracicaba”, o que aconteceu no período de 7 a 19 de julho, referente ao 1º semestre/97, quando cursei a disciplina “Análise Estrutural da Cobertura pedológica”, com docência do professor Alain Ruellan,CNRS-França e a equipe de solos da ESALQ de Piracicaba. Curso concentrado e realizado nas dependências de uma Escola Agrícola em Espírito Santo do Pinhal - SP (10 créditos). Neste curso, os conhecimentos teóricos e empíricos se interconectaram e realizamos em equipe vários trabalhos como “Analise da Cobertura pedológica”, de uma área delimitada previamente. “UMA GRANDE REALIZAÇÃO”! Como não havia conseguido dispensa das atividades na UFPR, no 2º semestre de 1997 decidi cursar, como ouvinte, uma disciplina no MADE/UFPR, que me despertou grande interesse: Epistemologia da complexidade - tendo como docente a professora Iria Zanoni Gomes. Foi um curso excelente, proporcionando grande reflexão a partir das leituras de Capra, Prigogine e Atlán. No primeiro semestre de 1998 cursei a disciplina: Visualização da Informação geográfica - Teoria e Técnica, na USP, ministrada pela professora Regina Araújo Almeida. Em julho de 1999 me qualifiquei e me preparei para viajar. Em 1/10/1999 parti para a França com uma Bolsa sanduíche no Laboratoire Espace et Culture - Paris IV Sorbonne - sob a orientação do professor Paul Claval. Fixei residência na Maison Avicene na Cité Universitaire em Paris. Foi um intenso período de desafios, estudos e aprendizados tendo em vista a elaboração da tese. Com as leituras e a orientação do professor Claval houve uma mudança no projeto de pesquisa e os mapas mentais foram o principal aporte para o desenvolvimento da pesquisa empírica. O período de vigência da bolsa foi de outubro de 1999 a janeiro de 2000. Terminei de escrever a tese e defendi em 23/11/2001, com o título: “Das imagens às linguagens do geográfico: A Curitiba capital ecológica”. Enfim, estava titulada para encarar a vida acadêmica sem restrições. Um momento de grande realização profissional e emocional, sobretudo para mamãe, que estava muito feliz com a filha doutora pela USP, a maior e mais conceituada universidade do país. Um sonho familiar realizado. A trajetória relacionada à titulação acadêmica tem mais um capítulo em 2010 (1/8/2010 a 31/12/2010) com o Estágio de Pós-doutorado realizado no LABOTER, na UFG, em Goiânia/GO, sob a supervisão da Profa. Maria Geralda de Almeida, a quem dedico grande apreço e admiração. A pesquisa proposta foi o “Delineamento paradigmático e aprofundamento teórico-metodológico sobre: ‘espaço e representação’ e ‘geografia humanista/cultural’”, que teve por objetivo “Identificar e analisar os ‘paradigmas que sustentam a abordagem Humanista/cultural’ na geografia brasileira contemporânea”. Os aprendizados foram muitos com a inserção em atividades e projetos realizados no LABOTER, cujo enfoque era basicamente em Geografia Humana. Participei de trabalhos de campo na Comunidade Quilombola dos Kalunga e, em Goiânia, acompanhando pesquisadores que estudavam Folias de Reis e Festejos da padroeira em Moquém, GO. Neste período tive a oportunidade de conhecer e estabelecer parceria com a brilhante pesquisadora italiana Giuliana Andreotti, que na ocasião era professora visitante na UFG. Participamos juntas, com um grupo de alunos, em um trabalho de campo em Brasília, desenvolvendo pesquisa sobre Geografia emocional. Este trabalho gerou a publicação de Andreotti “Brasília, capital de paixões antes que de poder”, publicado na revista Presença Geográfica, UNIR – vol. 03, n.01, 2016. Houve, ainda, o desenvolvimento de cooperação científica e técnica entre as instituições envolvidas, como a realização de atividades previstas nos protocolos de cooperação estabelecidos entre os Departamentos de Geografia das Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal do Paraná. Posteriormente, recebi o convite da professora Giuliana para atuar como professora visitante na Universitá degli Study di Trento - Itália (Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali), o que ocorreu no período de janeiro a 31 de julho de 2011. COM A CHANCELA DO DOUTORADO A VIDA ACADÊMICA SE INTENSIFICA Com a defesa do doutorado as atividades na UFPR se intensificam. Além da docência na graduação e na especialização, elaborei um projeto na área ambiental: “Diagnósticos e perspectivas da Educação ambiental na Bacia do Alto Iguaçu e Região Metropolitana”, subprojeto de pesquisa integrada ao projeto: “Apropriação da natureza FIGURA 26 – Momento da defesa. Professores que compuseram a banca e minha família presente. e tipologia de paisagens da Região Metropolitana de Curitiba e Bacia do Alto Iguaçu”. Este projeto tinha por objetivo estabelecer um diagnóstico sobre os Projetos de Educação ambiental desenvolvidos nos municípios integrantes da Bacia do Alto Iguaçu e Região Metropolitana. Como integrante do Projeto PROLICEN/LICENCIAR dei continuidade, no LABOGEO, ao projeto “Feira Geográfica Itinerante”, com a realização de palestras, cursos e feiras, na perspectiva de divulgar o curso de Geografia e estabelecer parcerias com os professores que atuavam nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, e o LABOGEO. PUBLICAR É PRECISO ... Logo após concluir o mestrado, em 1991, elaborei o primeiro artigo: “Análise crítica das representações cartográficas nos livros didáticos de 1º e 2º graus”, que foi publicado no Boletim Paulista de Geografia (70), 2º sem. AGB-SP, São Paulo, 1991. Os ecos de uma intensa trajetória pelas searas do ensino de geografia ainda se faziam presentes com a dissertação defendida recentemente e várias publicações subsequentes. Em 1996, quando já atuava como docente da UFPR, houve o convite da Editora FTD para escrever um livro de Metodologia para professores de Geografia. A experiência de vários anos trabalhando com a capacitação de professores de Geografia serviu de base para desenvolver essa obra. Convidei o Prof. Roberto Filizola para escrevermos em parceria algo que preenchesse a lacuna percebida na formação dos docentes, em vários cursos que atuamos conjuntamente. Assim, em novembro de 1996 foi publicado o livro: “Didática de Geografia: Memórias da Terra. O Espaço vivido”, publicado pela Editora FTD, São Paulo-SP, fazendo parte da coleção Metodologias. No mesmo ano, publiquei na Revista Ra’E Ga – O espaço geográfico em análise (1), Departamento de Geografia da UFPR, o artigo “Subsídios ao conceito espontâneo em localização espacial e o ensino da geografia”. Ressalta-se a importância do entendimento das inter-relações existentes no espaço geográfico, para que as pessoas tenham clareza quanto aos conceitos que envolvem essa compreensão. Nessa perspectiva, propus averiguar como o conceito de "localização espacial" é elaborado por alunos de diferentes faixas etárias, tendo como aporte o Construtivismo Piagetiano. A pesquisa teve por objetivo demonstrar a importância de se conhecer como os conceitos geográficos são construídos e sua implementação no ensino de 1° e 2° graus. Em 1998, ainda, movida pelo questionamento sobre o papel da Geografia nos currículos escolares elaborei o artigo “Ensinar geografia no terceiro milênio. Como? Por quê?”, publicado na Revista Ra’E Ga – O espaço geográfico em análise. O objetivo foi discutir o conhecimento geográfico nos diferentes momentos históricos, marcado pela dinâmica social, assim como seu reflexo no ensino fundamental, médio e universitário, propondo analogias entre o fazer pedagógico vigente e os diversos paradigmas. A proposta era propiciar a reflexão quanto à importância da geografia para os habitantes do Planeta Terra, no século XXI. Com o desenvolvimento do projeto “Maquete ambiental” junto aos alunos do Colégio Leôncio Correia, EPSG, em 1999, documentei e apresentei os resultados obtidos no artigo “Produção e reprodução do espaço na escola: o uso da maquete ambiental”, que foi publicado na Revista Paranaense de Geografia. No mesmo ano, em parceria com Amélia Nogueira, foi elaborado o artigo “A geografia das representações e sua aplicação pedagógica: contribuições de uma experiência vivida”, que foi publicado na Revista do Departamento de Geografia (13), da FFLCH - USP. Nesse período eu tinha concluído os créditos do doutorado e tanto eu como Amélia desenvolvíamos pesquisa relacionada às representações e os mapas mentais, sob a orientação da Profa. Maria Elena Simielli. O objetivo deste artigo era ampliar as discussões a respeito da geografia, que se constroem a partir da apreensão do espaço vivido, ressaltando as percepções e representações do espaço e tendo como pesquisa empírica experiências realizadas com alunos. A partir do debate sobre “mapas mentais”, com o respaldo em vários autores, propusemos uma ampliação do entendimento do conceito de representação e sua importância no cotidiano das pessoas. Em novembro de 2001, o colega de departamento Francisco Mendonça e eu organizamos o primeiro Colóquio Nacional de Pós-Graduação em Geografia, tendo como temática central “A epistemologia da geografia contemporânea face a sociedade global”. O colóquio teve uma conferência/debate com o Professor Paul Claval e três mesas redondas temáticas: Geografia Crítica, Geografia Ambiental e Geografia Cultural, ramos da geografia brasileira que sobressaíam como importantes correntes do pensamento geográfico brasileiro. Esse evento teve por objetivo fortalecer a pós-graduação que se estruturava no Departamento de Geografia da UFPR. Tive oportunidade de participar das discussões na Mesa redonda sobre Geografia cultural, expondo parte da pesquisa desenvolvida no doutorado sobre as Representações no geográfico. A preocupação com as representações espaciais sempre esteve presente, tanto no cotidiano dos grupos sociais como nas pesquisas geográficas, sendo posteriormente estruturadas pela cartografia, incorporando aportes linguísticos, da comunicação, cultura, valores, significados e ideologias. O conceito de representação espacial para os geógrafos se estrutura na fusão de várias correntes contemporâneas, incorporando o conceito de representação social oriundo da sociologia da representação ao arcabouço da psicologia social. (4) Esse colóquio gerou o livro: “Elementos de Epistemologia da geografia contemporânea”, publicado pela Editora da Universidade Federal do Paraná, em 2002, com impressão da 2ª edição em 2004. Ainda decorrente da pesquisa da tese publiquei, em 2005, um capítulo do Livro: “A Aventura cartográfica. Perspectivas, pesquisas e reflexões sobre a cartografia humana”, organizado por Jörn Seemann. O capítulo intitulado “Comunicando e representando: mapas como construções socioculturais” evidencia que uma imagem, ao ser construída ou decodificada, passa por diversos filtros e linguagens e este caminho propicia desvendar os marcos significativos das representações, perpassados pelos aspectos socioculturais. As pesquisas com viés ambiental se intensificam com os projetos desenvolvidos tanto no LABOGEO “A geografia do cotidiano e a construção da maquete ambiental”, como na docência do curso de Especialização em Ensino de geografia e Educação ambiental, na UFPR e no projeto Banpesq: “Diagnósticos e perspectivas da Educação ambiental na Bacia do Alto Iguaçu e Região metropolitana”. Essas pesquisas geraram alguns artigos como “Educar ‘ambientalmente correto’ desafio ou simulacro para a sociedade consumista do século XXI?”. Neste artigo procurei evidenciar aspectos da crise ambiental e de percepção, o que exige ressignificação das maneiras de apropriação do espaço e das relações sociais ressaltando, ainda, a importância da educação ambiental para além da retórica, em direção a ações transformadoras. No livro “Geografia, ciência do complexus: ensaios transdisciplinares”, organizado por Aldo Dantas da Silva e Alex Galeno, em 2008, publiquei o artigo: “Das ‘velhas certezas’ à (Re) significação do geográfico”. Neste artigo, refleti sobre a busca e a superação do pensamento dicotômico que separa sociedade e natureza, destacando a importância dos aspectos socioculturais para a compreensão do espaço geográfico, ressaltando a necessidade de compreender os fenômenos em sua inteireza, pois entendemos que os estudos de partes isoladas não nos permitem apreendê-los em sua essência. Com o incentivo da CAPES/ PROCAD/Amazônia, integrando UNIR e UFPR, foi possível ampliar as parcerias com o Projeto “A Festa do Boi Bumbá em Parintins - AM: Espaço e Representação”, integração que ocorreu no período de 2007 a 2011. Com a inquietação de um grupo de amigos surgiu o ousado e desafiador projeto, cujas questões norteadoras foram: Qual seria o papel do boi na cultura amazônica? Como os festejos relacionados ao boi surgiram e se estruturaram em Parintins, uma ilha situada no rio Amazonas? O objetivo do projeto foi investigar as representações culturais das comunidades ribeirinhas, ao longo dos rios Amazonas e Madeira, no que tange à festa do Boi Bumbá, bem como identificar o processo de formação das comunidades ribeirinhas a partir de sua história recente e referencial espacial, por meio de discussão teórica e trabalho de campo com equipe interdisciplinar e interinstitucional, visando pesquisar a identidade cultural e sua espacialidade. Para investigar o que se propunha era necessário ir a campo. Assim, o professor Josué, docente da UNIR, organizou e coordenou uma expedição que nos possibilitou ir a campo. Um barco recreio, típico dos meios fluviais amazônicos foi fretado para a viagem de 29 dias, percorrendo os rios Madeira e Amazonas. Partimos de Porto Velho, com destino a Parintins, aportando em alguns núcleos urbanos e comunidades ribeirinhas, investigando as representações culturais ao longo do trajeto, quando vivemos situações que causaram variadas sensações: surpresa, medo, êxtase ou até indignação. A equipe de pesquisa foi uma mescla de graduandos, pós-graduandos e professores/pesquisadores. Os representantes da UNIR foram: Prof. Josué da Costa Silva, Profa. Maria da Graça Nascimento Silva, pós-graduandos Wendell Tales de Lima, Gustavo Abreu e Adnilson de Almeida Silva, além dos graduandos em Geografia, Lindinalva Azevedo de Oliveira e Josimone Batista Martins. Os professores da UFPR foram: Salete Kozel, Sylvio Fausto Gil Filho e Roberto Filizola; os pós-graduandos em Geografia Fernando Rosseto Galego, Ana Helena C. de Freitas Gil; e os graduandos Camila Jorge, Mayara Morokawa e Leandro Bamberg. Como pesquisadores convidados tivemos a companhia do Prof. Paul Claval, da Paris IV Sorbonne e Benhur Pinós da Costa, da UFAM. Na condução e comando do barco o experiente capitão João, auxiliado por mais 5 tripulantes, entre eles Dimas, um brilhante cozinheiro. Nossa expedição foi empreendida entre 10 de junho e 7 de julho de 2007. Vivemos uma experiência ímpar e inusitada, que relatamos no livro: EXPEDIÇÃO AMAZÔNICA: Desvendando espaço e representações dos festejos em comunidades amazônicas. “A festa do boi-bumbá: Um ato de fé”. Enfim, “(...) o barco que navegou pelas águas dos rios da Amazônia levando nossos primeiros olhares, nossas emoções, nossos sonhos, nos apresentou uma Amazônia única e pessoal. Sentimo-nos como os primeiros geógrafos a desvendar um mundo novo”. Os resultados das pesquisas foram documentados na publicação acima citada, que veio a lume em 2009. O livro é composto por 11 artigos, organizados em tópicos: Festividades e religiosidade na Amazônia, O brincar de boi em Parintins, Imagens fotográficas da Expedição Amazônica e Múltiplas representações: questão indígena, esporte, educação e saúde. Lembro que todos os artigos foram elaborados pelos integrantes da expedição. Cabe ressaltar que os mapas mentais foram o eixo norteador da pesquisa que desenvolvemos em parceria com Luciley de Feitosa Souza, em Parintins, com o título: “Parintins, que espaço é esse? Representação espacial sob a ótica do morador e do visitante”. “A pesquisa nos levou a perceber as significações tanto individuais como coletivas que emergem no espaço parintinense. Os mapas mentais como aporte metodológico nos propiciaram refletir sobre os homens históricos e sociais que ao longo de suas vivências e experiências incorporam diferentes vozes, criando um complexo universo de signos, propiciando o Dialogismo”. A parceria UFPR/UNIR iniciada com o PROCAD Amazônia, foi ampliada entre as duas instituições, em 2011, com a aprovação do DINTER. Com a inquietação em busca das origens das festividades do boi na Amazônia em 2009 fomos a São Luiz no Maranhão, juntamente com Josué e Roberto, integrantes da expedição amazônica, participar dos festejos do Bumba meu boi. Nessa busca, detectamos que a origem da festividade tem o seu embrião no estado do Maranhão. Ouvimos depoimentos de que se brinca de boi nas diversas comunidades maranhenses há mais de 100 anos, se constituindo numa tradição cultural. Com a migração de contingentes nordestinos para a Amazônia, no ciclo da borracha, a tradição relacionada à festa do boi se expandiu para este espaço. As festividades relacionadas ao boi nos motivaram a aprofundar o tema com o projeto “Espacialidades da Festa do boi no contexto das festividades em território brasileiro” (2012 a 2015), tendo como objetivo investigar o papel do festejo do boi na estruturação do espaço brasileiro, tendo em vista a reflexão sobre a espacialidade e as territorialidades, à luz da Geografia Cultural. Com esse projeto procuramos revelar o que esses festejos possuem em comum. O boi de mamão, por exemplo, é um espetáculo festivo, que consegue colocar nas ruas os problemas da sociedade e, através da música e do humor, criticá-los. Há quem diga que essa brincadeira do litoral paranaense cura todos os males... O boi-bumbá amazônico, por sua vez, incorporou ao mito da morte e ressurreição do boi, ritos indígenas. Nas quentes noites do festival guajaramirense os brincantes compõem tribos que dramatizam nas pistas do bumbódromo rituais que promovem o reviver do boi. Coreografias incorporam mitos e lendas da Amazônia para potencializar os poderes de um pajé. O mesmo pode ser dito em relação aos festejos em São Luís, no Maranhão, e em Santo Antônio de Leverger, no Mato Grosso, onde, igualmente, os costumes sofrem mudanças ao mesmo tempo em que oferecem resistência à exploração imposta pelas relações de poder. Não se trata, portanto, de uma tradição congelada no tempo, mas de um conjunto de práticas integrantes da cultura popular. Neste projeto foram desenvolvidas quatro teses de doutorado: Maísa F. Teixeira (2014), com o tema: As representações espaciais simbólicas e os sentidos do lugar da Festa do Boi à serra em Santo Antonio de Leverger/MT; Luciléa F. Lopes Gonçalves (2016), com o tema: Entre sotaques, brilhos e fitas: tecendo geograficidades por meio dos bois Rama Santa e Maioba; Roberto Filizola (2014), Duelo na Fronteira: entre a dimensão de uma nova espacialidade e a construção de uma identidade de resistência; e, Beatriz Furlanetto (2011), com a tese: Paisagem sonora do boi-de-mamão no litoral paranaense: a face oculta do riso. A pesquisa “Das imagens às linguagens do geográfico: Curitiba, a Capital ecológica”, defendida como tese de doutorado no Departamento de Geografia da USP – São Paulo, em 2001, teve como objetivo investigar como as pessoas constroem e decodificam signos referentes ao espaço geográfico, tendo como parâmetro o estudo de caso sobre Curitiba, a “Capital ecológica”, cuja estratégia metodológica foi desenvolvida por meio de mapas mentais e turísticos, visto que essas representações podem refletir condutas e atividades cotidianas das pessoas em relação ao ambiente, tornando-se o fio condutor das práticas dos sujeitos num movimento constante de pensar, sentir e agir. Desde a defesa da tese, o trabalho com mapas mentais foi se consolidando e inúmeras monografias, dissertações e teses se estruturaram, reforçando a validade e a importância desse procedimento metodológico, que recebeu o nome de “Metodologia Kozel”. Essa perspectiva me motivou a publicar a tese, o que aconteceu em 2018, pela Editora da Universidade Federal do Paraná, abrilhantada com o prefácio do estimado Professor Paul Claval, emérito pesquisador da Université Paris IV Sorbonne - França. A síntese do trabalho de pesquisa e de orientação, com a metodologia que desenvolvi a partir dos Mapas mentais, foi estruturada na obra: “Mapas mentais: Dialogismo e Representação”. Tive a grata satisfação de ter essa obra prefaciada pelo eminente Professor Oswaldo Bueno Amorim Filho, da PUC/MG. O livro foi organizado em duas partes: a primeira, “Um panorama sobre os Mapas mentais”, onde estruturei teoricamente o tema, enfatizando aspectos importantes de sua aplicação nas pesquisas, sobretudo como diagnóstico e aspectos controversos apontados pela subjetividade inerente. A segunda, “Dando voz aos protagonistas da pesquisa”, é constituída por vinte artigos evidenciando as pesquisas desenvolvidas por meus ex-orientandos, abordando temas variados com a aplicação da metodologia dos mapas mentais, como: Representação e ensino, Educação indígena, Educação ambiental, Percepção e representação da paisagem e do lugar, Representação do turismo e Espacialidades das festas. Cabe ressaltar, ainda, a importância das parcerias estabelecidas entre a UNIR e a UFPR que, após a realização do PROCAD/Amazônia, com a expedição geográfica, cursos e orientações de teses, tivemos aprovado o DINTER/UNIR/UFPR. Foi um processo de aperfeiçoamento acadêmico, em que 22 professores foram selecionados e dentre eles estiveram sob a minha orientação: Alex Mota dos Santos, Gustavo do Amaral Gurgel, Gustavo Henrique de Abreu Silva e Klondy Lúcia de Oliveira Agra. Após trilhar pelas searas da pesquisa teórica e empírica e vários trabalhos de campo, todos defenderam suas teses. Alex com a tese intitulada: Cartografia dos povos e das terras indígenas de Rondônia (2014); Gustavo Gurgel com Geografia da Re-Existência: Conhecimentos, Saberes e Representações geográficas na Educação Escolar Indígena do Povo Oro Wari - RO (2016); Gustavo Abreu com a tese: A paisagem musical rondoniense: poéticas de uma urbanidade beradera (2016); e, Klondy, com Águas da Amazônia: sentidos, percepções e representações (2015). Ainda sob esse prisma, vale ressaltar que foram publicados artigos síntese da tese de Gustavo Amaral e de Alex, na obra “Mapas mentais: Dialogismo e Representação”, por desenvolverem procedimentos metodológicos utilizando os mapas mentais; o artigo do Gustavo intitulado: Mapas mentais e as representações geográficas na educação escolar indígena do povo OroWari-RO; e, de Alex Mota dos Santos, O olhar de professores indígenas de Rondônia sobre o lugar. Com a orientação dessas pesquisas tive a oportunidade de participar de vários trabalhos de campo em aldeias indígenas no estado de Rondônia e conhecer uma realidade até então desconhecida. Dessa parceria também decorreu o convite para participar como coautora da obra: Geografia da Re-existência: conhecimento, saberes e representações geográficas na educação escolar indígena do povo OroWari-RO, juntamente com Gustavo Amaral Gurgel, em 2019. Em 2013, na UFG foi organizada uma publicação em homenagem ao eminente geógrafo Paul Claval: “É geografia é Paul Claval”, Editora FUNAPE/UFG, Goiânia, GO, tendo como organizadores Maria Geralda Almeida e Tadeu Alencar Arrais. Convidada a participar, surge o artigo “Contribuição de Paul Claval à Geografia Brasileira”, escrito em coautoria com Luciley de Feitosa, uma ex-orientanda da UNIR. Ao pensar a trajetória acadêmica sob o prisma das parcerias e ampliação dos horizontes, emerge a ponta de um grande iceberg: a fundação da rede NEER (Núcleo de Estudos em Espaço e Representação), em 2004, no DGEO/ UFPR. Surge durante um importante Evento da pós-graduação, realizado em Florianópolis, em 2002, no momento em que muitos pesquisadores da ciência geográfica se encontravam inquietos ao perceber que suas pesquisas não se encaixavam nos temas propostos. Observou-se que 66% dos trabalhos apresentados caracterizavam-se na categoria OUTROS, inclusive o meu trabalho. Algo estranho estava acontecendo! Afinal, qual era a proposta dos pesquisadores encaixados em OUTROS? Basicamente questões sociais, culturais, ambientais, e do ponto de vista teórico epistemológico, fundamentados na teoria da representação. Diante dessa realidade, pensamos em convidar colegas que compunham este grupo para criar um novo espaço, onde fosse possível amplificar e aprofundar o diálogo acerca das pesquisas marcadas pelos fundamentos teóricos e metodológicos ligados à Geografia Social e à Geografia Cultural, e tendo como fio condutor a teoria das representações. O embrião desse grupo, com ampla vivência nas chamadas geografias marginais, foi formado pelos professores Oswaldo Bueno Amorim Filho (PUC-MG), com experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Urbana, atuando principalmente com cidades médias; e também com Geopolítica, epistemologia da Geografia e Geografia humanista cultural; Sylvio Fausto Gil Filho (UFPR), com atuação em Geografia Cultural, epistemologia da Geografia Humana, Geografia da Religião e Filosofia da Religião; e, Salete Kozel (UFPR), com desempenho em Geografia, Ensino e Representação, Educação ambiental, Estudos de percepção em Geografia, Mapas Mentais, Linguagem e Representação, Geografia e manifestações culturais. (5) Aproveitando a presença do Prof. Paul Claval, pesquisador da Universidade de Paris IV Sorbonne - Paris, que se encontrava na UFPR participando de atividades acadêmicas, apresentamos, para sua apreciação, nossa proposta de criação do Núcleo de estudos. Tendo seu aval, nos reunimos para o “lançamento da pedra fundamental”, em 19 de outubro de 2004, nas dependências do Departamento de Geografia da UFPR. O incentivo e o aval do Prof. Paul Claval nos encorajaram a dar prosseguimento à proposta, e estendemos o convite para alguns colegas comporem o grupo, realizando, em 2006, o primeiro Colóquio do NEER, nas instalações da UFPR, em Curitiba. As primeiras parcerias ocorreram em 2004 e 2005, e envolveram o Prof. Dario de Araújo Lima (FURG), com inserção em Geografia Cultural e Curadoria, destacando produção científica de curadoria e pesca artesanal; Josué da Costa Silva (UNIR), com atuação em Geografia Cultural, Espaço e Representações, Religiosidade Popular, Populações Tradicionais; Maria Geralda Almeida (UFG), com destacada atuação na área de Geografia Cultural, particularmente temas como: Manifestações Culturais, Turismo, Territorialidade e Sertão; Álvaro Luiz Heidrich (UFRGS), com inserção em Geografia Humana, atuando com os temas: Geração e perda de vínculos territoriais, Territorialidades humanas, Identidade e Globalização; Nelson Rego (UFRGS), proveniente da Educação, com atuação em Ensino e Representação, com ênfase em geração de ambiências e instrumentalização para o ensino de Geografia; Icléia Albuquerque de Vargas (UFMS), atuante nas áreas da Geografia e da Educação, principalmente com os temas: Educação Ambiental, Geografia Cultural, Pantanal, Meio Ambiente, Turismo e Percepção Ambiental; Ângelo Serpa (UFBA), atuante nas áreas de Geografia Urbana, Geografia Cultural, Planejamento Urbano e Planejamento Paisagístico; Wolf Dietrich Sahr (UFPR), atuando com Geografia Social e Geografia Cultural; Roberto Filizola (UFPR), voltado ao Ensino e Representação de Geografia e Formação de professores, Fronteira Emocional em espaços escolares, Metodologia do Ensino e Interculturalidade, na perspectiva das geografias emocionais Alexandre M. Diniz (PUC/MG) com experiência na área de Geografia Humana, atuando principalmente com Geografia do Crime e da Violência, Geografia Urbana e Geografia Regional. Como se pode observar, esse grupo de pesquisadores, embora com formação diversa e atuação distinta, tinham sua inserção nas áreas cultural, social e ambiental, tangenciando planejamento e educação. Nessa perspectiva, o NEER se propôs a ampliar e aprofundar a abordagem cultural na Geografia, focando nos estudos sobre o espaço e suas representações, entendendo as representações como uma ampla mediação, que permite integrar o social e o cultural, além de contemplar a temática do ensino de Geografia. Isso exposto, em novembro de 2006 foi realizado o I Colóquio do NEER (Núcleo de Estudos em Espaço e Representação), na UFPR, em Curitiba. Com a realização do I Colóquio, o NEER se consolidou como núcleo de estudos e, de acordo com a composição dos quatro eixos temáticos (Epistemologia da Geografia, Representação e Ensino, Geografia da Religião e Territorialidades e suas representações), previamente definidos, ficou estabelecida a participação dos pesquisadores nesses grupos, tendo em vista a apresentação das pesquisas e as parcerias firmadas. Vale recordar que na reunião dos pesquisadores, ocorrida durante esse evento, ficou acordado que o NEER (Núcleo de Estudos em Espaço e Representação) seria uma rede não formal e não hierarquizada, interinstitucional. Uma rede temática que, de fato, possibilitasse a integração de Programas de Pós-graduação e de pesquisadores isolados, assim como núcleos, grupos e projetos de pesquisa. Ficou definida a realização do II Colóquio, em 2007, em Salvador, na UFBA, sob a coordenação do Prof. Dr. Ângelo Serpa, o que de fato se consumou. Em 2007 foi lançada uma publicação que sintetizou as apresentações dos pesquisadores no I Colóquio Nacional do NEER, ocorrido em 2006, em Curitiba. Trata-se do livro “Da percepção e cognição à representação: reconstruções teóricas da Geografia Cultural e Humanista” - SILVA, J. da C.; GIL FILHO, S. F.; e KOZEL, S. (org.), refletindo a vitalidade da escola cultural da geografia brasileira e sua capacidade de explorar novos rumos, cruzar tradições e reinterpretar esses domínios. Nessa obra publiquei o capítulo: “Mapas mentais - uma forma de linguagem: perspectivas metodológicas”, evidenciando o mundo cultural como um mundo que ultrapassa a soma de objetos, que tem uma forma de linguagem que emerge do sistema de relações sociais onde se imbricam valores, atitudes e vivências e essas imagens passam a ser entendidas como Mapas mentais. O II Colóquio Nacional do NEER ocorreu no período de 5 a 8 de dezembro de 2007, em terras soteropolitanas e teve como tema Espaços Culturais: Vivências, Imaginações e Representações. O evento teve o Professor Claval como conferencista e consolidou o NEER como rede de discussões e parcerias. Foram convidados mais três colegas e o NEER passou a contar com 18 pesquisadores, envolvendo 12 programas de Pós-Graduação em Geografia. Os trabalhos apresentados, as discussões e reflexões que ocorreram durante o evento, foram publicados no livro “Espaços Culturais: vivências, imaginações e representações”, organizado por Ângelo Serpa e publicado pela EDUFBA, em 2008. Após a reunião dos integrantes da rede foi definido que o III NEER aconteceria em Porto Velho (RO), em 2009, sob a coordenação do Professor Josué da Costa Silva, com o tema Espaço e Representações: Cultura e Transformações de Mundos. O Colóquio ocorreu no período de 01 a 06 de novembro de 2009, com ampliação dos temas abordados pelos pesquisadores nas mesas redondas, incluindo Sexualidade, gênero e representação do espaço; Modos de vida: imaginário e representação do lugar; e, A poética cultural da Amazônia: nossas representações. Foi enfatizada a questão regional da Amazônia, sua cultura e modos de vida, o que foi aprofundado pelos convidados que pesquisam a realidade local. Na ocasião tivemos como convidada a pesquisadora Giulliana Andreotti, professora da Universitá degli Studi di Trento, Itália. É importante destacar que dois dos pesquisadores convidados que participaram do evento, Adnilson de Almeida Silva e Lucileyde Feitosa Sousa, integravam o PROCAD-UNIR/UFPR, envolvendo UFPR e UNIR, numa parceria de capacitação docente para o Curso de Geografia, e que teve início em 2008 e término em 2011. Adnilson defendeu a tese intitulada “Territorialidades e identidade do coletivo Kawahib da terra indígena Uru-Wau-wau em Rondônia: Orevaki até (reencontro) dos marcadores territoriais”, em 31/03/2010, sob a orientação do Prof. Sylvio Fausto Gil Filho (UFPR) e tendo como coorientador o Prof. Josué da Costa Silva (UNIR). Lucileyde defendeu a tese: “Espaços dialógicos dos barqueiros na Amazônia: uma relação humanística com o rio”, defendida em 2012, orientada pela Profa. Salete Kozel (UFPR) e tendo como coorientador o Prof. João Carlos Sarmento, da Universidade do Minho (Portugal), onde realizou bolsa sanduíche entre 20/01/2011 e 20/07/2011. Nessa ocasião, ainda, foram convidados para compor o NEER os colegas: Joseli da Silva (UEPG), Rooselvelt José Santos (UFU), Gilmar Mascarenhas (UERJ), Wendel Henrique (UFBA). Christian Dennys Monteiro de Oliveira (UFC), Claudia Zeferino Pires (UFRGS), Jean Carlos Rodrigues (UFTO), Maria das Graças Silva Nascimento Silva (UNIR) e Sonia Regina Romancini (UFMT). Destarte, a rede NEER agregou mais sete pesquisadores, totalizando 25 integrantes e envolvendo 17 programas de pós-graduação em Geografia. Após o evento ficou estabelecido que o IV Colóquio do NEER ocorreria em 2011, em Santa Maria – RS, sob a coordenação do Prof. Benhur Pinós da Costa. O IV Colóquio Nacional do NEER ocorreu no período de 22 a 25 de novembro de 2011, em Santa Maria - RS, tendo como tema: As múltiplas espacialidades culturais: interfaces regionais, urbanas e rurais. Este evento, com um grupo maior, possibilitou dar maior visibilidade às linhas de pesquisa dos integrantes da rede NEER e seu fortalecimento com os Grupos de Trabalho coordenados pelos pesquisadores da área. Em 2010, durante o pós-doutorado no LABOTER – IESA/UFG, desenvolvi a pesquisa sobre a Geografia Cultural e Social no Brasil, que gerou o artigo “Um panorama sobre as geografias marginais no Brasil”, publicado no livro “Maneiras de ler geografia e cultura”. Essa publicação sintetizou as reflexões ocorridas no evento e teve como organizadores: Álvaro Luiz Heidrich, Claudia Luiza Zeferino Pires e Benhur Pinós da Costa. Desta forma, os eixos das linhas de pesquisa do NEER são: Espaço e Cultura (urbano, agrário e regional), com onze pesquisadores; Ensino e Representação, com nove pesquisadores; Festas e festividades populares e turismo, com oito pesquisadores; Populações tradicionais, Território/Identidade e Cidadania - Sertão, Amazônia, com sete pesquisadores; Cultura e Comunicação, com quatro pesquisadores; Memória e Patrimônio, com quatro pesquisadores; Espaço e Religião/Santuários, com quatro pesquisadores; Espaço político, social e cultural-, com dois pesquisadores, e Teoria da Geografia Cultural, com dois pesquisadores. Ao final do evento ficou definido que o V Colóquio Nacional do NEER se realizaria de 26 a 30 de novembro de 2013, em Cuiabá, sob a coordenação da Profa. Sonia Regina Romancini, da UFMT. O V Colóquio Nacional do NEER - Núcleo de Estudos em Espaço e Representação ocorreu no período de 26 a 30 de novembro de 2013, em Cuiabá-MT, tendo como tema: As representações culturais no espaço: perspectivas contemporâneas em Geografia. Os trabalhos apresentados, reflexões dos GTs e as mesas foram documentados na publicação eletrônica: “As representações culturais no espaço: Perspectivas contemporâneas em Geografia”. ROMANCINI, S. R.; ROSSETO, O. C.; NORA, G. D. (orgs.).Após este colóquio, a rede NEER passa a ser composta por 25 pesquisadores, vinculados a 19 instituições nacionais e uma americana (Jörn Seemann, Ball State University). O VI Colóquio do NEER foi previsto para Fortaleza (CE), em novembro de 2016, sob a coordenação do Prof. Christian Dennys Monteiro de Oliveira, quando o NEER completaria 10 anos de existência, implícito no tema “Os outros somos nós - 10 anos de NEER”, tendo ocorrido no período de 20 a 26 de novembro de 2016, em Fortaleza, conforme previsto. Neste evento Alessandro Dozena da UFRN foi convidado a integrar a rede NEER. Neste colóquio, Sylvio e eu proferimos a conferência de abertura apresentando um resumo dos 10 anos do NEER, o que ficou registrado nos anais do Evento com a publicação: Os outros somos nós - NEER (2006-2016). A síntese dos primeiros 10 anos do NEER, enfatizando as parcerias e os eventos realizados: Cinco Colóquios, em diferentes realidades brasileiras, sempre alternando a coordenação (Curitiba - PR, Salvador - BA, Porto Velho - RO, Santa Maria - RS, Cuiabá - MT e Fortaleza - CE). Realização de um PROCAD e um DINTER, integrando a UFPR e a UNIR, titulando vinte doutores. Foram realizadas cinco publicações, sendo duas digitais, contendo o teor das conferências, mesas redondas e artigos apresentados nos eventos. Dois pós-doutorados: Salete Kozel (UFPR), sob a tutoria de Maria Geralda Almeida (UFG) e Sylvio Fausto Gil Filho (UFPR) sob tutoria de Álvaro Luiz Heidrich (UFRGS). Inúmeras bancas de defesa de teses e de dissertações, bem como de concurso na UFPR, UFRS, UFMT, UFU, UFG, PUC-MG, UFC. Parceria entre colegas na realização de cursos na pós-graduação. Trabalho de campo em parceria: Expedição Amazônica - UFPR/UNIR, e Festança de Vila Bela da Santíssima Trindade - UFPR/UFMT, ambos gerando publicações como produto. O VII Colóquio no NEER ocorreu em 2018, em Diamantina – MG, sob a coordenação de Alexandre Magno Diniz, no campus da UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no período de 15 e 19 de Outubro, com o tema: A metomorfose, cujo símbolo seria uma borboleta saindo da crisálida, representando a maturidade do Núcleo que, partindo de uma condição marginal, conquistando o respeito e o reconhecimento da comunidade geográfica nacional. Neste Colóquio, participei da mesa redonda: “Borboleta: Potências e perspectivas epistemológicas (Teórico e metodológicas)”, apresentando o tema: EMOÇÕES EM VÔO NAS PAISAGENS CULTURAIS: A Paisagem emocional na perspectiva de Andreotti. Os trabalhos apresentados, reflexões dos GTs e mesas foram documentados na publicação eletrônica: Metamorfoses possíveis compartilhadas: Leituras em Geografia Cultural, DINIZ, Alexandre Magno, ALVIM, Ana Márcia Monteiro, PEREIRA, Doralice Barros, DEUS, José Antonio Souza de, PÁDUA, Letícia (orgs). Neste evento, ainda, apresentei, em coautoria com Luciléa Ferreira Lopes Gonçalves, o trabalho “Ritmos da vida, ritmos da festa: Análise da geograficidade dos brincantes do Bumba meu boi no Maranhão”, que reflete parte da tese de doutorado que Luciléa defendeu em 2016, sob a minha orientação. Após o evento, em reunião, os gestores da rede NEER decidiram que a realização do próximo Colóquio seria na Cidade de Goiás – GO, sob a coordenação da Maria Geralda de Almeida (UFG), em parceria com os colegas da UEG. O evento estava programado para outubro de 2020, mas com a pandemia ficou adiado para um momento mais oportuno. A rede NEER conta atualmente com 15 instituições parceiras em atividade: UFRGS e UFSM (RS); PUC/MG, UFU - UFMG (MG); UFBA e UNEB (BA); UFG e UEG (GO); UFPR e UEPG (PR); UNIR (RO); UFMT (MT); UFTO (TO); UFRN (RN); e, Ball State University (USA), com 22 pesquisadores gestores. Contribuir na criação da rede NEER e atuar nessa incrível rede de parcerias foi sem dúvida uma das maiores e mais gratificantes fases da minha trajetória, rompendo com a dualidade da minha formação: da paixão pelos solos e pela questão ambiental para pensar a sociedade e sua dinâmica, sobretudo na ótica da cultura. Quando ainda estava na faculdade sonhava em conquistar o mundo, mas essa conquista somente se consolidou e se eternizou na trajetória ... “o caminhante faz seu caminho ao caminhar”, como escreveu o poeta espanhol Antonio Machado. Minha trajetória foi marcada pela participação em inúmeros Eventos (Encontros, Simpósios e Seminários) Cursos, Mesas Redondas, no Brasil, Argentina, Cuba, França, Itália e Venezuela. Oportunidades e perspectivas diversas, proporcionando novos aprendizados e delineando caminhos inusitados, muitas vezes conturbados e desafiadores. Poderia ser melhor? Não sei. Sei apenas que me sinto feliz por ter batalhado para a realização de meus sonhos. E, ainda hoje, “desaposentada”, continuo orientando teses doutorais, atuando como supervisora de pós-doutorado e organizando livro em parcerias. Em 2018, recebi o convite do amigo e parceiro da rede NEER, Nelson Rego, para fazer parte da organização de um livro digital, convênio UFRGS e Universidade do Minho - Portugal. A proposta ousada e interessante tinha o seguinte teor: Aceitamos ou não a convocação de cartografias a serem feitas e/ou analisadas? Cartografias de mundos até então invisíveis? Trata-se de uma criação que se torna viável mediante o encontro entre o pesquisador e o campo que o olhar narrativo, geográfico e cartográfico institui como campo de descobertas e representações. (6) Com este intuito, foi organizado o livro “Narrativas, Geografias e Cartografias: para viver é preciso espaço e tempo”, composto por 43 artigos, em 1300 páginas, integrando dois volumes. É um incrível mosaico que reflete uma geografia viva, plural, múltipla e atual, uma geografia dinâmica dos espaços vivos e inquietantes. Um olhar geográfico que evidencia por meio das representações os grupos humanos. Uma cartografia sensível e muito particular, que proporciona desvelar relações espaciais visíveis e invisíveis, implícitas. E essas cartografias constituem-se em representações que constroem narrativas e geografias. Sob este prisma, quem é Salete Kozel Teixeira? Uma professora e pesquisadora inquieta e apaixonada pelo inusitado... por desvelar as facetas do espaço geográfico e as especificidades do LUGAR ... nuances e encantos ... “a alma do lugar” que dá sentido à nossa existência. REFERÊNCIAS AMARAL, G. G., KOZEL, S. Geografia da Re-existência: conhecimento, saberes e representações geográficas na educação escolar indígena do povo OroWari-RO. Porto Velho: Temática Editora, 2019. BRASIL (MEC). 1971. Lei 5692/71. BRASIL (MEC) 1998. PCN’s. CARDOSO, J. A.; WESTPHALEN, C. Atlas Histórico do Paraná. 2. ed. Curitiba: Chain, 1986. COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ. Colonização e Desenvolvimento do Norte do Paraná. Publicação comemorativa do cinquentenário da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. São Paulo: Editora Ave Maria, 1975. DINIZ, A. et al. (orgs.) Metamorfoses possíveis compartilhadas: Leituras em Geografia Cultural. Belo Horizonte: Editora Grupo Editorial Letramento, 2019. DURKHEIM, E. Sociologia e Filosofia, Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1970. ESTÉS, C. P. A ciranda das mulheres sábias. Ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Tradução Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 2007. FILIZOLA, R. KOZEL, S. Didática de Geografia - Memórias da Terra - o Espaço Vivido. São Paulo: SP, Editora FTD, 1996, 110 p. KOZEL, S. Produção e reprodução do espaço na escola: o uso da maquete ambiental. Revista Paranaense de Geografia – AGB - Seção Curitiba - PR (4) pp. 28-32, 1999. KOZEL T. S.; NOGUEIRA, A. B. A geografia das representações e sua aplicação pedagógica: contribuições de uma experiência vivida. Revista do Departamento de Geografia. FFLCH-USP. São Paulo: Humanitas, n.13, p. 239-257, 1999. KOZEL T. S. Das Imagens às Linguagens do geográfico: a Curitiba “Capital ecológica”. Tese Doutorado. FFLCH-USP, São Paulo, 2001. KOZEL, S. As representações no geográfico. In: MENDONÇA, F.; KOZEL, S. (orgs.) Epistemologia da geografia contemporânea. Curitiba: Editora da UFPR, 2002, 2ª edição em 2004. KOZEL, S. Educar “ambientalmente correto”: desafio ou simulacro para a sociedade consumista do século XXI?”. In: Revista de Estudos Universitários (2), v. 30, jun., Sorocaba, SP: UNISO, 2004, pp. 39-55. KOZEL, S. Comunicando e Representando: Mapas como construções socioculturais. In: SEEMANN, J. (org.). A Aventura cartográfica, Perspectivas, pesquisas e reflexões sobre a cartografia Humana. Fortaleza, CE: Expressão Gráfica Editora, 2005. KOZEL, S. Mapas mentais - uma forma de linguagem: perspectivas metodológicas. In: KOZEL, S. et al. (orgs). Da percepção e cognição à representação: Reconstruções teóricas da geografia cultural e humanista. São Paulo: Ed. Terceira Margem, 2007, p. 114-138. KOZEL, S. Das “velhas certezas” à (Re) significação do geográfico. In: DANTAS da SILVA, A. A.; GALENO, A. (orgs.). Geografia: Ciência do complexus: ensaios transdisciplinares. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2008, pp. 160-180. KOZEL, S. et al. (orgs.) Expedição Amazônica: Desvendando espaço e representações dos festejos em comunidades amazônicas. “A festa do boi-bumbá: Um ato de fé”. Curitiba: SK Editora, 2009. KOZEL, S.; SOUZA, L. F. Parintins, que espaço é esse? Representação espacial sob a ótica do morador e do visitante. In: KOZEL, S. et al. (orgs.). Expedição Amazônica: Desvendando espaço e representações dos festejos em comunidades amazônicas. “A festa do boi-bumbá: Um ato de fé”. Curitiba: SK Editora, 2009, pp. 117-143. KOZEL, S. Um panorama sobre as geografias marginais no Brasil. In: HEIDRICH, A. et al. (orgs.). Maneiras de ler geografia e cultura. Porto Alegre: Imprensa Livre: Compasso, lugar, cultura, 2013, v.1, p. 12-27 (documento eletrônico). KOZEL, S.; FEITOSA, L. Contribuição de Paul Claval à Geografia Brasileira. In: ALMEIDA, M. G.; ARRAIS, T. A. (orgs.). É geografia é Paul Claval. Goiânia: Editora FUNAPE/UFG, 2013. KOZEL, S.; GIL FILHO, S. F. Rememorando a trajetória...10 anos de NEER. In: MONTEIRO,C.D. et al. (Orgs.). Os outros somos nós - NEER (2006-2016). 1. ed. Timburi, SP: Editora Cia. do ebook, 2017, v. 1. KOZEL, S. (autora e organizadora). Mapas mentais: Dialogismo e Representação Curitiba: Editora Appris, 2018. KOZEL, S. Emoções em vôo nas paisagens culturais: a paisagem emocional na perspectiva de Andreotti. In: DINIZ, A. M. (org.). Metamorfoses possíveis compartilhadas: Leituras em Geografia Cultural. Belo Horizonte: Editora Grupo Editorial Letramento, 2019 (eletrônico). KOZEL TEIXEIRA, S. Das Imagens às Linguagens do geográfico: Curitiba, a “Capital Ecológica”. Curitiba: Ed. UFPR, 2018. KOZEL TEIXEIRA, S. Representação e ensino: aguçando o olhar geográfico para os aspectos didático-pedagógicos. In: SERPA, A. (org.) Espaços culturais: vivências, imaginações e representações. Salvador: EDUFBA, 2008. LIMA, S. T. Análise crítica das representações cartográficas nos livros didáticos de 1º e 2º graus. Boletim Paulista de Geografia - AGB-SP (70), São Paulo, 2º sem. 1991, pp. 53-64. LIMA, S. T. Dinâmica de ocupação e uso do solo no Vale do Ribeirão Suraquá em Paraiso do Norte, PR. Monografia de Especialização. UEM, Maringá, 1987. LIMA, S. T. O processo de capacitação docente e o ensino de geografia: angústias e reflexões. Dissertação Mestrado. FFLCH - USP. São Paulo, 1993. MENDONÇA, F; KOZEL, S.; (ORGS.) Elementos de Epistemologia da geografia contemporânea. Curitiba: Editora da UFPR, 2002, com reimpressão da 2ª edição em 2004. MONBEIG, P. A zona pioneira do Norte do Paraná. In: Associação dos Geógrafos Brasileiros. AGB, n. 3, Ano 1, São Paulo: 1935, pp. 221 a 236. NAPOLITANO, M. História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2016. MOSCOVICI, S. Des Représentations colletives aux représentations sociales. In: JODELET, D. et al. Les représentations sociales. Paris: PUF, 1989. MULLER, N. L. Contribuição ao estudo do norte do Paraná. Bol. Paulista de Geografia, (22), pp. 55-95, 1959. PENCK, W. (1953). Morphological analysisof land forms: a contribuition tophysical geology. London: Macmillan, 420 p. REGO, N.; KOZEL, S.; AZEVEDO, A. F. (orgs) Narrativas, Geografias e Cartografias: para viver é preciso espaço e tempo. Porto Alegre: IGEO, Editora Compasso, 2020 (eletrônico). ROMANCINI, S. R.; et al. (orgs.). As representações culturais no espaço: Perspectivas contemporâneas em Geografia. Porto Alegre: Editora Imprensa Livre, 2015 (eletrônico). SILVA, T. R. N. da; ARELANO, L. R. G (1982). Orientações legais na área do currículo, nas esferas federal e estadual a partir da lei 5692/71. In: Caderno CEDES, n. 13, Currículos e programas: como vê-los hoje? 4. ed. Campinas: Papirus, 1991. TEIXEIRA, S. K. Subsídios ao conceito espontâneo em localização espacial e o ensino da geografia. Revista Ra’E Ga – O espaço geográfico em análise (1). UFPR, Departamento de Geografia, Curitiba, PR: Ed. Tec Art, 1997, pp. 61-74. TEIXEIRA, S. K. Ensinar geografia no terceiro milênio. Como? Por quê? Revista Ra’E Ga – O espaço geográfico em análise (2). Ano II, 1998, UFPR, Departamento de Geografia, Curitiba, PR: Ed. Tec Art, 1998, pp. 141-151. WESTPHALEN, C.; BALHANA, A.; PINHEIRO MACHADO, B. História do Paraná. Curitiba: Grafipar, 1969. NOTAS 1 Ato Institucional Número Cinco (AI 5) foi emitido pelo Presidente Artur da Costa e Silva, em dezembro de 1968. Forma de legislação durante o regime militar, resultando na perda de mandatos das pessoas contrárias ao regime militar. 2 PENCK, W. (1953) Morphological analysisof land forms: a contribuition tophysical geology. London, Macmillan, 420 p. 3 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÈDIO. Relatora Conselheira Guiomar Namo de Melo. Parecer CEB 15/98, aprovado em 01/06/98 4 DURKHEIM, E. Sociologia e filosofia, Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1970. MOSCOVICI, S. Des Représentations colletives aux représentations sociales. IN: JODELET, D. et al. Les représentations sociales. Paris: PUF. 1989. 5 KOZEL, S.; GIL FILHO, S. F. Rememorando a trajetória...10 anos de NEER. In: OS OUTROS SOMOS NÓS - NEER (2006-2016). 6 Narrativas, Geografias e Cartografias: para viver é preciso espaço e tempo. Porto Alegre, IGEO, Editora Compasso, 2020.
SALETE KOZEL TEIXEIRA BIOGRAFIA SALETE KOZEL TEIXEIRA ERA UMA VEZ... E O INÍCIO FOI ASSIM.... “Os fundamentos do que é ‘grande’, em oposição ao que é ‘apenas comum’, são conquistados no início da vida, no meio ou mais tarde... muitas vezes mediante enormes fracassos, elevações do espírito, decisões equivocadas e recomeços impetuosos”. (Estés, 2007) Com os encantos da lua uma garotinha aterrissa no planeta Terra, às 4:40 horas do dia 25 de novembro de 1947, na Maternidade Cruz Azul, em São Paulo-SP. Uma “paulistana”, conforme o desejo de meus pais, paulistas de nascimento e de coração. Embora nascida na metrópole paulista, fui registrada em Brotas - SP, local de nascimento de meu pai Saulo de Oliveira Teixeira e residência dos familiares paternos. Mamãe, Maria Ottilia Kozel Teixeira, era paulistana, assim como seus irmãos. Como dizia papai: “você é fruto de uma boa miscigenação: português, espanhol, bugre e tcheco”. No ramo paterno, a mistura de português, espanhol e bugre (minha bisavó): Oliveira Pinto e Teixeira de Almeida. No ramo materno, português e tcheco: Monteiro França e Kozel. Muito das escolhas, e da minha formação, tiveram origem na relação com meus pais. Mamãe era uma mulher muito além de seu tempo, com valores de “outras terras”. Como filha de imigrante europeu teve formação em escola alemã, falava fluentemente o inglês e o alemão. Quando o Brasil passou a participar do conflito da 2ª guerra mundial, em 1942, as escolas alemãs foram fechadas e todo estudo nelas cursados foi invalidado. Na época, o presidente da República, Getúlio Vargas, confiscou todo o patrimônio adquirido pelos imigrantes estrangeiros. Assim, vovô Bohumil Kozel perdeu sua marcenaria, ficou doente e veio a óbito. Mamãe precisou trabalhar para ajudar no sustento da família, atuando como cobradora de porta em porta, secretária, balconista etc. Durante a 2ª guerra serviu o exército como datiloscopista e, posteriormente, conseguiu um emprego numa multinacional americana, coordenando um setor com público majoritariamente masculino. Imaginem essa proeza na década de 40 do século passado! Foi neste contexto que mamãe conheceu papai, que era irmão de um colega de trabalho. Apaixonaram-se e casaram em outubro de 1946. Assim, mamãe precisou se demitir visto que papai não permitia que sua esposa continuasse a trabalhar. Papai tinha formação em contabilidade e era fluente em francês. Fixaram residência em Brotas, no casarão da família Oliveira Teixeira, a casa paterna. Podem imaginar o que representou essa mudança para mamãe, uma mulher livre e “descolada”, tendo que se adequar às lides domésticas na pomposa casa dos sogros, uma família tradicional paulista de antigos fazendeiros? Foi em meio a essas circunstâncias que eu cheguei, em 1947, cercada de mimos e muito amor. Entretanto, apesar de todo conforto meus pais não estavam felizes; precisavam ter vida própria e resolveram alçar novos voos. Em busca de novas oportunidades, em 1949 integraram a frente migratória paulistana rumo ao norte do Paraná. A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná foi responsável pela colonização do norte do Paraná, com a venda de terras, tendo em vista, principalmente, o cultivo do café e a demarcação de vilas, que deram origem às principais cidades como Maringá, São Jorge do Ivaí, Mandaguari, Mandaguaçu, Apucarana e outras. Seguindo o modelo inglês de parcelamento rural em pequenas propriedades, a companhia foi criando áreas urbanas ao longo do espigão, a cada 10 a 15 quilômetros, ampliando a ferrovia e construindo estradas. É importante lembrar que a destruição da mata para a instalação das cidades e dos lotes rurais alterou a organização do espaço, levando ao extermínio da população indígena e ao desaparecimento de espécies vegetais e animais. Neste contexto, com dois anos de idade eu, meus pais e Tio Homero, irmão de papai, rumamos para Maringá, e no ano seguinte, para São Jorge do Ivaí, onde papai conseguiu emprego como contador, numa serraria. Nossa residência era na colônia dos trabalhadores. Em 1950 nasce minha irmã Selma e, em 1952, Solange. Vivemos esse período em meio aos montes de serragem e das “toras” trazidas pelos caminhões. Era muito triste ver tantas árvores cortadas e a floresta sendo derrubada. Em 1953, com seis anos, fui matriculada na primeira série do grupo escolar São Jorge, tendo Professora Carmem como a minha primeira professora e alfabetizadora. Em 1954 nasce meu irmão “Saulinho, o caçulinha”, e neste mesmo ano transferimos residência para Paranavaí no noroeste do Estado. Em Paranavaí, os aventureiros se reorganizaram com suas famílias: Tio Homero como proprietário da torrefação “Café Paranavaí” e papai agente da Transportadora Paulista. A primeira conquista de papai foi comprar para a família uma casa simples de madeira, na Rua Mato Grosso, 484. Foi preciso perfurar um poço no quintal, de onde retirávamos água com balde puxado pelo sarilho. Todos os dias puxávamos vários baldes de água do poço para encher um tambor e ter água para o uso doméstico. Não existia luz elétrica e nossa casa era iluminada com lamparinas e um lampião Aladim, a querosene. Ao vir para o Paraná meus pais enfrentaram muitos desafios, visto que foram criados em situação bem mais confortável. Muitas vezes vi mamãe chorar por todas as dificuldades que precisava superar e pelo medo, pois todos os dias os moradores fechavam suas casas devido ao tiroteio. Ao amanhecer sempre tinha pessoas mortas nas ruas, por causa da disputa de terras entre os capangas do Capitão Telmo Ribeiro, que detinha o poder na região, e pessoas que adquiriam os lotes de terra. Era um verdadeiro banditismo Guardo com carinho muitas lembranças e aprendizados que tive com papai neste período. À noite, muitas vezes, ficávamos sentados na área externa da casa a observar os astros, quando me dava aulas sobre constelações, recitava poemas em francês como: J’aime deux choses, La rose et voix, La rose par um jour e Et voux pour toujours. Ou a lei de Lavoisier: “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. Nesta época tive, também, as primeiras lições de direção, num jeep 51, quando papai dizia: “muito cuidado com estradas arenosas e poças d’água, mas, principalmente, tenha cuidado com os outros”. Grande sabedoria, que guardo até hoje ao dirigir um carro. Ele era um aventureiro sonhador, um grande companheiro, uma pessoa maravilhosa. Na nova cidade, prossegui os estudos na Escola Paroquial Nossa Senhora do Carmo, cursando a 2.ª série com a professora Durvalina, e as 3.ª e 4.ª séries com a professora Rosa Noguti. Na época, ao término do antigo “Primário” era necessário fazer um exame de Admissão para ingressar no “Ginásio”, praticamente um vestibular, e era preciso cursinho preparatório. Cursei o preparatório durante um ano, mas não consegui vaga no Colégio Estadual de Paranavaí. Em 1958 prestei novamente o exame de Admissão em Alto Paraná, município vizinho, onde fui aprovada. Portanto, foi preciso cursar a primeira série ginasial na Escola Estadual Agostinho Stefanello, em Alto Paraná, a 18 km de Paranavaí. Isso só foi possível por ter conseguido um passe de estudante, na Viação Garcia, me permitindo realizar essas viagens diárias gratuitamente. No natal ganhei uma bicicleta de presente, que era um meio transporte de casa à rodoviária. Ficava guardada na sala de espera da rodoviária esperando-me para voltar para casa. Foi uma aventura e um desafio muito interessante, tanto as viagens, os colegas e as aulas, sobretudo decorar as declinações em latim para a prova do professor Olímpio e fazer chinelos com bucha vegetal nas aulas de trabalhos manuais com a professora Ilze. No final do ano de 1959 papai ficou doente e foi levado às pressas de avião para São Paulo. Mamãe e tio Homero foram com ele e nós ficamos na casa da Tia Amélia, esposa do Tio Homero. Após uma semana ele não resistiu e partiu para o plano celeste, em 29 de novembro de 1959. Meu mundo caiu e todos nós vivemos momentos muito angustiantes. Mamãe, viúva, com quatro filhos menores; eu era a mais velha com apenas 11 anos. A família aristocrata do papai tentou intervir propondo repartir as crianças na certeza de que a mamãe não conseguiria gerir a situação. Eu, sob a tutela de meus avós, fui enviada para o Colégio São José, um internato para moças, em Jaú, próximo a Brotas. A ideia foi da minha tia Maria Agnes, irmã Francisca Teresa, que pertencia à Congregação de São José, que dirigia o Colégio em Jaú. Mamãe lutou contra os desmandos da família Oliveira Teixeira e conseguiu a guarda de meus três irmãos: Selma com 9 anos, Solange com 7 e Saulinho com 5 anos. Passou a trabalhar para sustentar a casa e os filhos. Felizmente tínhamos um teto para nos abrigar. Num primeiro momento, ela fez a contabilidade da Torrefação Café Paranavaí, que era de propriedade do Tio Homero, Mas como precisava cuidar dos filhos menores, e da casa, resolveu se dedicar à costura. No início costurava apenas para vizinhos e amigos, mas aos poucos a freguesia foi aumentando devido ao seu primoroso trabalho. Atendia as freguesas em casa e tinha proventos para o sustento da família, possibilitando acompanhar a educação dos filhos. No internato vivi um dos períodos mais conflituosos de minha vida. Tinha perdido meu querido pai, me arrancaram de casa e me colocaram no colégio, uma prisão. Ferida emocionalmente, e revoltada, ainda era preciso conviver com o rigor imposto pelas irmãs, e com as alterações hormonais da adolescência. O resultado foi uma grande rebeldia. Estava sempre de castigo. Assim cursei a 2ª série do ginásio, e apesar das agruras me destaquei em geografia, sobretudo pela paixão pelos mapas, e pelo desenho, visto que os mesmos eram desenhados no quadro negro, à mão livre. Naquela época tínhamos exames finais escritos e orais obrigatórios para todos os alunos, independente da média. Nos exames orais de geografia eram sorteados os pontos e tínhamos que desenhar o mapa com o respectivo tema solicitado. Era algo muito instigante! Ao final do ano mamãe foi me buscar, não permitindo que eu ficasse no internato, contrariando o previsto pela família Oliveira Teixeira, que dizia: “Salete ficará no convento e seguirá os estudos para ser freira”. Retornando a Paranavaí dei continuidade ao curso ginasial, cursando a 3ª e 4ª séries no Colégio Estadual de Paranavaí, concluindo o ginásio em 1962. Nessa época, existiam 12 matérias no currículo escolar ginasial, incluindo Latim, Francês, Inglês, Canto, Desenho, Educação física, Trabalhos manuais, Geografia geral, História geral, e OSPB. Lembro com saudades de alguns professores como professora Neusinha, de História, e o professor Carlos Cagnani, de música. Eram motivadores, encantadores. Entretanto, quando cursava a 4ª série ginasial tive duas experiências angustiantes e apavorantes que, contraditoriamente, me motivaram a seguir a carreira do magistério. Numa aula de Português a professora Elza apresentou minha redação toda marcada em vermelho e, ao invés de me entregar, amassou e jogou no lixo, desconsiderando totalmente o meu trabalho, causando constrangimento perante os colegas de sala. Outra situação chocante ocorreu na aula de matemática. Quando adentramos à sala o quadro negro estava todo preenchido com letras, números e outros símbolos, despertando minha curiosidade... o que seria aquilo? Questionei o professor Gilberto: o que fazem os números junto com as letras? E onde vamos utilizar isso em nossa vida? A resposta foi imediata...“Fora da sala de aula aluna inconveniente”! Fui penalizada com a suspensão das aulas por três dias e mamãe foi convocada a ir ao colégio assinar uma advertência pelo comportamento desrespeitoso da filha. Foram situações horríveis que me marcaram profundamente. Eu não concebia que numa escola onde se interage com o conhecimento, que deveria ser prazeroso, fosse castigada e penalizada pela relação entre acertos e erros e pela curiosidade própria da idade. Foram situações que me levaram a desafiar a mim mesma. Iria seguir a carreira do magistério, pois precisava praticar algo totalmente diferente: estabelecer uma relação respeitosa com os alunos ao mediar o conhecimento. Nessa fase da vida mamãe se dividia entre as costuras, as lides domésticas e a educação dos filhos. Os cadernos eram todos encapados com papel impermeável colorido e o nome das disciplinas desenhado com letras góticas, em nanquim, ilustrados com lindas alegorias. Tudo com muito capricho e esmero. Nossos uniformes escolares também eram impecáveis. Como mamãe costurava para as proprietárias da Livraria Santa Helena, ficava mais fácil adquirir os materiais escolares para os filhos, permutando com costura. Nessa ocasião, mamãe adquiriu a duras penas uma Enciclopédia Delta Larousse, com 15 volumes e uma coleção de Dicionários Caldas Aulete, para subsidiar o estudo dos filhos e a elaboração dos trabalhos escolares. Solicitou ao Sr. David, marceneiro, uma prateleira para colocar essas preciosidades, a qual foi colocada na sala de casa, em destaque. Mamãe sempre achava um tempinho entre os afazeres para ler um trecho dos livros. Chegou a ler todos os volumes da enciclopédia. Ao concluir o Curso ginasial a próxima fase era o segundo grau ou colegial. Na época, havia quatro opções: cursar o clássico, científico, contabilidade ou magistério. Num primeiro momento pensei em cursar o científico para me preparar para curso de biologia, mas a vontade de ser professora foi mais forte. Dessa forma, me inscrevi no exame seletivo para ingressar na Escola Normal Colegial Leonel Franca. Fui aprovada e cursei os três anos de magistério com orgulho e satisfação. Ser “normalista” era um privilégio! Na época, os professores eram valorizados e respeitados. O curso foi interessante e os estágios com os alunos da Escola de Aplicação apontavam novas perspectivas. Nas aulas de filosofia o professor Elpídio nos apresentou o “Pequeno Príncipe”, relacionando o conteúdo da disciplina com a obra. Foi algo que jamais esqueci, principalmente a fala da raposa: “tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas”. As aulas de psicologia, ministradas por D. Graça, nos faziam compreender intuição, percepção, ego, superego e Id. Além de aulas interessantes, tinha um grupo de amigas muito solidárias, sobretudo a Toninha, Meire, Livinha, Loris, Marfisa e Eliete. Ainda hoje tenho contato com esse grupo nas redes sociais. Foi um curso libertador! Mamãe também ficou feliz por eu cursar o magistério, uma realização pessoal, visto que almejava ser professora, mas as adversidades não permitiram. Concluí o curso do magistério em 1965, cujo diploma foi motivo de orgulho. Recebi o diploma das mãos de meu sogro Josias Soares de Lima, que considerava um pai. Novo ciclo se fechou. Era preciso pensar em ingressar numa faculdade. Em princípio, tinha interesse em cursar Agronomia, paixão antiga pela natureza e especialmente pela terra. Mas, naquela época, dificilmente uma moça saía para morar e estudar fora de casa e o curso almejado era a Escola de Agronomia Luiz de Queiroz, de Piracicaba - SP. Foi um sonho, que não era viável por motivos econômicos, sociais e culturais. Em 1966, com grande alarde pela classe política da época, foi inaugurada a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Paranavaí. Oferecia os cursos de Pedagogia, Letras, Ciências e Geografia. A escolha entre os cursos oferecidos ficou com a Geografia pela correlação com a terra, astros e mapas, que me fascinavam. Era necessário enfrentar o cursinho e novo vestibular, o que aconteceu durante o ano de 1966. Fui aprovada no exame vestibular e ingressei, em 1967, na 2ª turma de geografia da FAFIPA. Este ano foi emblemático. Ingressei no ensino superior, me casei em 23 de setembro e iniciei minha carreira profissional com a aprovação em concurso para professores nas séries iniciais, no Estado do Paraná: Professora Efetiva Estadual Símbolo MN-1, Nível 12 - 13/03/1967. Inicia uma nova fase da minha vida, com novos desafios. A minha primeira turma de alunos foi uma primeira série A, onde atuei como alfabetizadora, tendo como base a Cartilha Caminho Suave, na Escola de Aplicação da Escola Normal Colegial Leonel Franca, que funcionava na Rua Rio Grande do Norte, o mesmo prédio que era ocupado pela Escola Normal e pela FAFIPA. No primeiro ano do curso de geografia na FAFIPA me encantavam as aulas do professor Jesus nos apresentando uma Biogeografia “viva”, genial! A Geografia Física, ministrada pelo controverso professor Niéce, era desafiadora e consistia basicamente em Astronomia. Em 1968 cursei o 2º ano da faculdade, juntamente com a gravidez de minha primeira filha, Alexandra, que veio ao mundo em 17/11/68. Felizmente ela era uma criança saudável e eu consegui aprovação em todas as disciplinas. Em 1969 cursei o 3º ano e contei com a ajuda da minha família para cuidar de minha filha. Posteriormente, apareceu um anjo em nossas vidas, D. Chiquinha, que passou a morar em casa e ajudar a cuidar de minha filha e da casa, permitindo que me dedicasse aos estudos e às aulas de uma nova turma na Escola de Aplicação. O Último ano da faculdade também foi conturbado, tendo que conciliar meus estudos com a segunda gravidez, de Larissa, que era aguardada para janeiro. Antecipou-se, após uma queda, chegando em nossa família em 17/12/1970, prematura e com problemas de saúde. A FAFIPA, como uma faculdade recém-criada, não contava com boa estrutura. Era essencialmente “aulista”, deficiente em biblioteca e laboratórios. Durante os quatro anos do curso de graduação não houve sequer uma aula de campo. Entretanto, nos reuníamos no Diretório Acadêmico Tristão de Ataíde para discutir as questões internas da faculdade, assim como o contexto social e político vigente no momento. Apesar das agruras, fiz ótimos amigos neste período como a Ivone, Maria Maris, Osvaldo, Alcides e José Maria. A formatura da Faculdade ocorreu em 1971. Com o curso de Licenciatura em geografia concluído foi possível intensificar o trabalho docente de 1ª a 4ª série, no período vespertino, pelo padrão do Estado; e, no período matutino ou noturno, as aulas extraordinárias (5ª a 8ª) de desenho, EMC e Geografia. Foi um momento de grande aprendizado e parcerias. E, neste contexto, em 1972, durante o período de repressão, discutindo a inexistência de democracia no país nas aulas que ministrava de Educação Moral e Cívica, fui advertida pelo diretor, o qual tinha escuta em sua sala. No ano seguinte, fui enquadrada no AI-5 (1) e não me foram atribuídas aulas extraordinárias. O primeiro Padrão, referente à 1ª a 4ª séries, em 1971 foi colocado à disposição da secretaria do Colégio Estadual de Paranavaí e, posteriormente, realocado na secretaria da Escola Estadual Adélia Rossi Arnaldi, EPG, no distrito de Sumaré, onde residi e trabalhei no período de 5/3/1971 a 19/11/1976. Nesse interstício, tive mais uma gravidez, e, em 08/07/1974, a família é agraciada com a chegada de Igor, “o caçulinha”. Esse período exigia mais dedicação e atenção com a fase de infância das crianças, o que só foi possível conciliar pela inestimável ajuda de Tia Chiquinha (Francisca Luiza Moreira), que morava conosco e era a 2ª mãe das crianças, enquanto eu e o pai trabalhávamos arduamente. Voltamos a residir em Paranavaí, agora na casa onde vivi desde a infância, pois mamãe mudou-se para Curitiba com meus irmãos Saulo, Solange e o sobrinho Christian. Então, retomei as aulas de 1ª a 4ª série, agora na Escola Leonel Franca, EPG, atuando até 1978. Foi uma fase em que a maior preocupação era o currículo escolar a ser trabalhado, pois os conteúdos eram fragmentados e distantes da realidade, precisando muitas vezes ser readequados mesmo sem a aprovação da coordenação. Eu priorizava as aulas fora da sala, promover competições, exposições, entrevistas e nada disso era visto com bons olhos pela coordenação e direção da escola. Por ser uma pessoa contestadora, fui eleita, pelos professores, em 10/05/1979, diretora da Escola e estive no cargo até 14/05/1981. Foi uma experiência complexa gerir pessoas e lidar com os meandros do poder. Um grande desafio! Não foi uma experiência agradável, pela falta de responsabilidade de alguns, bajulação de outros, enfim, o jogo do poder. No ano de 1980 participei do concurso para professores licenciados do Estado do Paraná e fui aprovada como Professora Efetiva Estadual MPP - 103 Classe “C” nível 3 – disciplina Estudos Sociais. Ao escolher vaga tive minha lotação fixada na Escola Unidade Polo de Paranavaí, onde trabalhei apenas um ano, por não me adaptar com alunos filhos de pais abastados, desrespeitosos e sem limites. Pedi transferência para a Escola Estadual Enira de Moraes Ribeiro, EPG. Esta escola, localizada num bairro periférico, tinha uma comunidade escolar ávida pelo saber, o que me possibilitou desenvolver um trabalho bem mais gratificante. Nesta escola, exerci o cargo de vice diretora no período de 07/10/1983 a 02/07/1984, quando fui convidada a assumir a Coordenação da Área de Ensino de Geografia no Núcleo Regional de Educação de Paranavaí. De 1971 a 1982 a geografia foi suprimida dos currículos escolares, sendo substituída por Estudos Sociais, abrangendo História e Geografia. Os professores das áreas de geografia e história estavam muito descontentes. Organizou-se, então, um grande movimento nacional liderado pala AGB e professores dessas áreas foram em caravanas até Brasília, reivindicando a abertura da área e que a Geografia voltasse aos currículos escolares. Depois de muita luta conseguimos nosso intento desmembrando a área de Estudos Sociais e a Geografia retorna à grade curricular, com autonomia. A minha trajetória profissional na educação iniciou com a vigência da Lei 4024/61, passou pela Lei 5692/71 e finalizou com a Lei 7044/82. Em 1984 vivemos momentos de grande euforia na educação paranaense. Foram elaboradas propostas de modificações pedagógicas e a criação dos 22 núcleos de Educação, em todo o território paranaense. Grande debate educacional foi deflagrado, através dos Seminários “Políticas da SEED”, com a participação de todos os educadores. Nesse momento passei a integrar a equipe de Ensino do Núcleo Regional de Educação de Paranavaí, atuando na coordenação dos professores de geografia dos 28 municípios a ele jurisdicionados. O trabalho com os professores de geografia foi uma das realizações mais interessantes de minha vida profissional, com a organização de vários Seminários e grupos de estudo. Foi possível, ainda, a realização de um Curso de Aperfeiçoamento em geografia para professores de 1º e 2º graus, em três polos: Nova Esperança, Paranavaí e Nova Londrina. O curso, de 120 horas, foi organizado para atender a demanda dos 260 professores do NRE, durante o ano de 1988. O Curso foi estruturado em três etapas, com sete minicursos de 16 a 24 horas, ministrados por docentes convidados da UEM e da FAFIPA, cujas temáticas foram: Enfocando Fundamentos da geografia, Estudo do meio, Noção de espaço e tempo, Geografia do Paraná, Quantificação em geografia, Noções de cartografia e Metodologia de ensino de geografia. Posteriormente, este curso se constituiu na pesquisa empírica da minha Dissertação de Mestrado. Paralelamente à realização de atividades pedagógicas junto aos professores de Geografia, em 28/09/1988 houve RDT, a qual possibilitou a junção dos 2 padrões, em apenas um: como Professora Efetiva Estadual PQ-0585, RDT- 40 horas, o que foi uma grande conquista profissional. Durante sete anos, de 1984 a 1991, desenvolvi atividades na coordenação da área de Geografia no NRE de Paranavaí. Nesse período ingressei como docente no 3º grau, intensificando minha formação profissional em Geografia, com a participação em dois cursos de Especialização, aprovação em concurso na UEM, ingresso no Mestrado em Geografia na FFLCH/USP, o que abordarei com detalhes no próximo tópico. Em 1991 completei 25 anos de serviço no magistério Público paranaense e solicitei a aposentadoria, o que aconteceu oficialmente em 30/04/1991. A SAGA DA PÓS-GRADUAÇÃO A década de 80 representou um divisor de águas em minha vida profissional, com novas perspectivas, novos e instigantes horizontes. Em 1982 ocorreu o convite para substituir o professor Vicente na disciplina de Geografia Econômica na FAFIPA. Foi algo inusitado visto que eu não tinha intenção de atuar na docência do terceiro grau. Mas, enfim, decidi aceitar o desafio. A experiência foi árdua e provocativa, tive que estudar muito e me reinventar, pois entre os alunos existiam bancários, empresários e profissionais com diversas formações. Senti necessidade de continuar os estudos. Foi quando surgiu a oportunidade de um curso de Especialização em Geografia Humana, na PUC (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), em Belo Horizonte. Os cursos eram oferecidos em módulos de 15 dias, durante as férias (julho e Janeiro), com duração de 360 horas, no período de 1884 a 1986. A proposta foi irrecusável, pois os cursos eram oferecidos gratuitamente a professores que quisessem se capacitar. Assim, eu e mais quatro colegas de áreas distintas aceitamos o desafio. Formamos um grupo contemplando as áreas de Matemática (Mirian), História (Helena), Psicologia (Ana), Ciências (Rosinha) e Geografia (Salete). O curso foi muito interessante, tanto pelo conteúdo como pela capacidade dos docentes e a parceria de colegas provenientes de vários estados do Brasil. Dentre os docentes destaco os professores Oswaldo Bueno Amorim Filho, Janine Le Sann, Lucy Philadelpho Marion e João Francisco de Abreu. Ao ministrar Geografia Urbana, o professor Oswaldo me possibilitou participar pela primeira vez de uma aula de campo, na cidade de Itaúna. Ele também ministrou a disciplina de Geografia Política encantando a todos com seu incrível conhecimento e didática. Nas aulas de Cartografia, Janine Le Sann nos apresentou a Semiologia Gráfica de Bertin. As aulas da professora Lucy Marion, em Geografia Social e Percepção Ambiental, também deixaram saudades, pois me permitiram entrar em contato com uma geografia que eu desconhecia até o momento. Em janeiro de 1986 conclui o curso, com êxito. Assim, no período de 1982 a 1986 atuei como docente na FAFIPA, ministrando aulas nas disciplinas de Geografia Econômica, Geografia Humana e Regional. O esforço em fazer o melhor trabalho foi reconhecido pelos alunos, sendo homenageada, em 1984, como paraninfa, juntamente com professor Emílio Eugênio Niéce (patrono). Ainda cursando a especialização em Belo Horizonte, e atuando na coordenação dos professores de geografia do NRE de Paranavaí, me senti provocada pela falta de conhecimento sobre a Geografia do Estado do Paraná, pois esse conhecimento não constou no currículo do Curso de Geografia da FAFIPA, ficando uma lacuna. Os professores, em geral, também tinham grande interesse em conhecer melhor a geografia do Estado. Dessa forma, em março de 1985, a Universidade Estadual de Maringá ofereceu um Curso de Especialização em Geografia Física do Paraná, com duração de 450 horas. Prosseguindo a saga em busca de preencher as lacunas em minha formação, eu me inscrevi. Com muito sacrifício conciliei as atividades profissionais e familiares percorrendo, com frequência, os 70 km entre Paranavaí a Maringá para assistir as aulas e desenvolver as atividades que o curso exigia. O curso era composto pelas disciplinas: Cartografia Aplicada e Geografia Física, Climatologia do Paraná, Metodologia e Técnicas de Pesquisa, Geologia do Paraná, Solos do Paraná, Geomorfologia do Paraná, Biogeografia do Paraná, Trabalho de campo I, Trabalho de campo II, Metodologia do Ensino Superior, Teorias de Regionalização em Geografia Física e a elaboração da Monografia. As aulas corresponderam às expectativas, proporcionando um grande aprendizado e muitas descobertas. O ponto alto do curso foram as aulas de campo: a primeira, em âmbito regional, na área circundante a Maringá; e, a segunda, um campo integrado com todos os professores numa viagem de 10 dias pelo estado do Paraná. professores numa viagem de 10 dias pelo estado do Paraná. Nessa viagem de campo aconteceu a integração entre os conhecimentos anteriormente abordados, com a participação conjunta dos professores, nos permitindo adentrar numa seara inimaginável. Os professores Sergio e Issa iniciavam com a Geologia, Giacomini com a Climatologia e a Geomorfologia, Paulo com os Solos, Maria Eugênia com a Biogeografia e Marcos com as Orientações Cartográficas. Pudemos confirmar que “a geografia se faz com os pés”. Fomos muito além dos ensinamentos dos livros, algo que ficou marcado em minha vida. Como a monografia era obrigatória, escolhi como orientador o professor Paulo Nakashima, que ministrava a disciplina de Solos. A antiga paixão pelos solos aflorou novamente e optei por desenvolver a pesquisa: “Dinâmica de ocupação e uso do solo no vale do Ribeirão Suruquá, em Paraíso do Norte - PR”. A pesquisa teve por objetivo desenvolver estudo sobre uma área delimitada no município de Paraíso do Norte de latossolo roxo, com a aplicação da metodologia de André Journaux, fundamentada na elaboração da Carta da Dinâmica ambiental, que possibilitava realizar a análise da qualidade do solo enfatizando sua conservação e a necessidade de equilíbrio ecológico entre os elementos existentes na área. A capa da monografia foi uma criação do colega e amigo Roberto Pereira da Silva, geógrafo e destacado artista paranavaiense, propiciando um toque artístico. A representação reflete a ocupação da área, a espacialização e o desenvolvimento da pesquisa. O curso foi concluído em janeiro de 1988, com a defesa da monografia. Devido ao meu envolvimento na Universidade Estadual de Maringá fui convidada a me inscrever no concurso para professores, sendo aprovada como Professora auxiliar II T-9, em 8/3/1987. Na ocasião não pude ser contratada com T-40 por ainda atuar no NRE de Paranavaí. Entretanto, com a aposentadoria em 1991, pude intensificar minha carga horária como docente na UEM, transferindo a residência para Maringá, juntamente com a família. Neste período, fui docente de várias disciplinas como Geomorfologia Ambiental, Cartografia, Geografia Regional e Geografia do Paraná. Desta forma, tive oportunidade de desenvolver diversos trabalhos com os alunos, aplicando os conhecimentos adquiridos nos cursos de especialização anteriormente desenvolvidos. A docência na UEM foi muito marcante. Houve momentos mágicos em que se pode construir o conhecimento de maneira compartilhada e interessante, sobretudo na sala de aula. Entretanto, a parte institucional dessa relação com os colegas, a maioria com maior titulação (mestres e doutores), foi conflituosa desde o início, quando ainda não tinha ampliado a carga horária para 40 horas. Por exemplo: numa das reuniões do Departamento foi apresentado o Projeto Porto Rico, com possibilidade de ampliar o grupo de pesquisa e eu demonstrei interesse em participar. A reação dos coordenadores foi imediata, questionando sobre minha titulação... “qual é a sua titulação para pretender integrar este projeto”? Foi uma situação conflituosa, pois eu não tinha a titulação necessária. Naquela mesma semana, quando fui a uma reunião na Secretaria de Educação em Curitiba, decidi ir a São Paulo me inscrever no mestrado, na melhor universidade do país na época, a USP. Ao chegar ao prédio do Departamento de Geografia da USP me senti perdida num imenso universo, totalmente desconhecido. Ao pé da rampa do prédio avistei o professor Gil Sodero de Toledo, o qual já conhecia de Eventos para formação de professores de Geografia. Consegui acalmar meu coração quando ele me convidou para conversarmos em seu gabinete. Expliquei a ele a minha intenção em fazer o Mestrado e a situação vivida junto aos colegas na UEM. A acolhida do professor Gil foi providencial, me encaminhando à secretaria para fazer a inscrição no mestrado e me orientando sobre os quesitos necessários. Assim, retornei a Maringá e elaborei o projeto para apresentar na seleção, tendo por base a experiência como coordenadora de Geografia no NRE de Paranavaí. O projeto teve como título: “O Processo de capacitação docente e o ensino de geografia: angústias e reflexões”. Felizmente, fui aprovada e iniciei os créditos em 1989, viajando toda semana para São Paulo, não esquecendo de que nessa ocasião ainda estava trabalhando no NRE em Paranavaí e ministrando algumas aulas na UEM. Foi uma loucura, sobretudo porque não tinha bolsa da Capes, devido ao vínculo empregatício. Assim, era preciso arcar com o custo de passagens e alimentação semanais. Saía de Paranavaí toda terça feira, às 22:00 horas, pela Viação Garcia e chegava em São Paulo às 6:30 horas. Mal dava para tomar um café, pois as aulas iniciavam às 8:00 horas. Participava das aulas pela manhã e à tarde e retornava às 22:00 horas, chegando em Paranavaí às 6:30 horas, para iniciar minha jornada no NRE às 8:00 horas. O desgaste físico e emocional era intenso, pois houve momentos em que precisei costurar para as vizinhas para conseguir comprar as passagens e algumas vezes tive a incompreensão da chefia do NRE, descontando faltas em meu salário, “uma pedra em meu caminho”. Ao iniciar os créditos para o curso de Mestrado, novos desafios. A primeira disciplina do primeiro semestre de 1989 foi Teoria e Pesquisa em Geomorfologia (posições teóricas e técnicas de pesquisa em geomorfologia), ministrada pelo professor Adilson Avanci, sendo a bibliografia básica em língua inglesa, que eu não dominava(2). A ajuda de mamãe neste momento foi imprescindível, traduzindo o livro base do curso. No segundo semestre de 1989 cursei três disciplinas: Análise Ambiental Urbana e Sensoriamento Remoto, com a professora Magda Lombardi; A Cartografia como meio de comunicação - implicações no ensino de Geografia 1º e 2º graus, com a professora Maria Elena Simielli; e, Análise espacial, regionalização sistemática em Geografia Física - O processo climático e suas interações, ministrada por meu orientador, o professor Gil Sodero de Toledo. Embora os cursos de Especialização tivessem acrescentado muito em minha formação geográfica, os conhecimentos obtidos nesses cursos na USP foram provocativos e de grande aprendizado, mesmo com concentração em Geografia Física, enquanto minha pesquisa era em Ensino de Geografia. O seminário final do curso de Análise Ambiental foi apresentado no mirante do Parque Estadual da Cantareira, uma experiência sensacional. No 1º semestre de 1990 cursei Construção do Espaço e Política - subsídios para uma renovação da Geografia Política, com docência do professor Willian Vesentini; e o Construtivismo no Ensino das Ciências, na Faculdade de Educação da USP, sendo docente a professora Nidia Pontuska. Assim, completei os 40 créditos obrigatórios e passei a me dedicar à elaboração da dissertação, me qualificando em 29/06/1992. Terminei os créditos em 1990 e no ano seguinte consegui a aposentadoria na SEED/Paraná, transferindo minha residência para Maringá. Na década de 1990 o curso de mestrado ainda era realizado em quatro anos: cursei os créditos no período de 1989 a 1993 e defendi a dissertação em 18/05/1994, com o título: O processo de capacitação docente e o ensino de geografia: angústias e reflexões”. Em 1993 acontece uma nova ruptura em minha vida pessoal, o divórcio, após 25 anos de união, época em que Igor, meu filho caçula, é aprovado no vestibular da PUC –PR, para cursar Engenharia da computação. Mudou-se para Curitiba onde a Larissa já estava trabalhando e residindo. Foi um momento traumático! Assim, solicitei ao colegiado de curso da UEM ficar à disposição do CIMEPAR, em Curitiba, por dois anos, com o intuito de amenizar a situação. Mas para a minha surpresa o pedido foi negado e tive que tomar uma decisão drástica: assinar minha carta de demissão. Meu desligamento da UEM se consolidou com a Portaria 1950/93. O que restou da separação foi um carro Fiat 147, onde coloquei os meus pertences e rumei para a casa de meus filhos em Curitiba. Apenas com o salário da aposentadoria da SEED/PR não era possível reorganizar a vida. Precisava trabalhar. Comecei a distribuir currículos em colégios de ensino fundamental e médio. A mão divina me ajudou! Recebi um telefonema da secretaria do grupo Positivo me convidando para realizar uma entrevista. Fiquei surpresa, pois não havia entregue currículo no Positivo. Compareci ao local na hora marcada e fui entrevistada pela professora Cristina, coordenadora do novo projeto da Distribuidora Positivo que visava capacitar professores das escolas conveniadas Positivo, em todo o país. No contexto da entrevista soube que a minha indicação tinha sido de um anjo dos céus, a professora Marcia Cruz, que conhecia meu trabalho com a capacitação de professores e soube que eu estava em Curitiba à procura de trabalho. A entrevista ocorreu na 6ª feira e eu iniciei o processo de treinamento com o grupo selecionado na 2ª feira seguinte. Era um grupo composto por profissionais de diferentes áreas do conhecimento: Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês e Artes. Fui contratada como Coordenadora Pedagógica de Geografia, na Distribuidora Positivo, em 16/06/1993. Essa oportunidade profissional correspondeu a uma pós-graduação, com novos aprendizados, aliados a excelente salário. Passei a conhecer o Brasil todo, visto que existiam escolas conveniadas Positivo nas principais cidades do país. Das capitais brasileiras, apenas não conheci Boa Vista e João Pessoa. A equipe de trabalho era composta por um grupo solidário e fraterno, pois ficávamos mais tempo trabalhando juntos do que com nossos familiares. A partilha de conhecimento foi intensa, tanto entre os integrantes do grupo como com os professores das escolas visitadas. Foi um trabalho muito gratificante pelo interesse dos professores em compartilhar conhecimento. Encontrei trabalhos belíssimos desenvolvidos por grupos solitários, em áreas distantes, como no Acre, onde os próprios professores escreveram um livro, “Geografia do Acre”, para utilizar em suas aulas, formando um grupo de estudos entre eles, em local apropriado, com muitos materiais didáticos que todos podiam usar em suas atividades, algo que almejava quando ainda estava no NRE, em Paranavaí. Já atuava na Distribuidora Positivo quando defendi o mestrado em 18/05/1994 e fui homenageada pelos colegas com uma festa surpresa. Na ocasião, a primeira integrante do grupo a defender um mestrado, algo muito significativo para todos. Essa titulação me garantiu alguns privilégios. Um deles foi acrescentar nos cursos oferecidos aos professores elementos de Epistemologia da Geografia para que pudessem entender melhor o material do Positivo, que era eclético, mesclando várias orientações teórico-metodológicas, sobretudo por ser escrito por várias pessoas, com convicções diferenciadas. Isso tornou os professores mais críticos e passaram a exigir mais, questionando o conteúdo e as atividades que eram apresentados nas apostilas do Positivo. Neste sentido, ministramos inúmeros cursos para professores em todo o Brasil, de 1993 a março de 1995. Em 1993/1994 ministramos cursos para professores de 5ª a 8ª séries das escolas conveniadas positivo, nas seguintes localidades: Criciúma, São José, Tubarão e Florianópolis (SC); Cuiabá, Tangará da Serra e Rondonópolis (MT); Campo Grande (MS); Brasília (DF); Curitiba, Londrina, Pato Branco e Apucarana (PR); Canoas e Esteio (RS); Rio de Janeiro (RJ); Salvador (BA); Recife (PE); Mossoró (RN); Belém (PA); Manaus (AM); Rio Branco (AC); Porto Velho e Ji-paraná (RO); Anápolis (GO); Belo Horizonte (MG); Vitoria (ES); Campinas, Araçatuba e Agudos (SP); São Luiz (MA); Macapá (AP) e, Gurupi (TO). Em 1995, fizemos capacitação em geografia para professores de 1ª a 4ª série e seminários de avaliação, nas seguintes localidades: Várzea Grande, Sinop e Barra do Garça (MT); Brasília (DF);Campo Grande (MS); Jundiaí, Lins e Avaré (SP); Uberlândia, Pouso Alegre e Belo Horizonte (MG); Carazinho, Canoas e Bajé (RS); Vitória e Guarapari (ES); Salvador, Teixeira de Freitas e Jacobina (BA); Aracajú (SE); Maceió (AL); Goiânia e Caldas Novas (GO); Rio de Janeiro (RJ); Manaus (AM); Belém, Bragança e Altamira (PA); São Luiz (MA); Mossoró (RN); Recife (PE); Ji-paraná (RO); Rio Branco (AC); Tubarão e Lages (SC); Crato (CE); Floriano (PI); e, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins (TO). Nesta oficina foram construídas maquetes de Caldas Novas e apresentadas como alternativas didáticas ao ensino de Geografia. Nesses três anos viajando foi possível desenvolver muitos trabalhos interessantes e inovadores, rompendo com o trabalho pré-definido apresentado pelas apostilas, ou seja, ministramos cursos que propiciassem “ir além da apostila e desenvolver uma geografia mais viva e interessante”. Entretanto, embora motivador e instigante, este trabalho foi cansativo e rompia com os vínculos familiares: nas datas importantes sempre estávamos fora de casa, em viagem. A família eram os colegas de viagem. Em dezembro de 1995, quando cheguei em Curitiba, soube que haveria no final de 1996 um concurso em Geografia Humana, para docentes, no Departamento de Geografia da UFPR. Ao refletir sobre a situação resolvi me inscrever, embora minha formação básica fosse na área de Geografia Física. Apesar de ainda estar vinculada ao Positivo, com a aprovação no concurso teria que fazer uma escolha. Optei pela Universidade. Enfim, voltaria a ser docente em uma universidade pública! Fui contratada como Professora Assistente-I DE, da Universidade Federal do Paraná-PR, pela portaria n. 6678 de 7/2/ 96. No início foi difícil, pois o salário do Positivo era muito maior do que o da UFPR, mas me adaptei às novas condições, pois foi uma escolha bem consciente. Na UFPR iniciei com a docência das disciplinas Geografia Humana e Fundamentos da Geografia e, posteriormente, Geografia Regional e Percepção em Geografia. Não foi fácil enfrentar as disciplinas da área humana, pois, como já disse, minha formação básica era prioritariamente na área de Geografia Física. Alguns colegas questionavam: “Afinal, você é da área Humana ou Física”? Como ingressei na vaga do professor Lineu Bley, que lecionava Percepção em Geografia, me vi na obrigação de dar continuidade a esse legado e tive respaldo dos conhecimentos adquiridos nas aulas de Lucy Marion, na PUC-MG, quando cursei a especialização. Novos desafios.... Devido à minha trajetória e a paixão pelo ensino de geografia reorganizei o LABOGEO (Laboratório de Geografia) e passei a desenvolver projetos como a “Feira Geográfica Itinerante”, que apresentava a Geografia nas escolas de Ensino Fundamental e Médio de Curitiba. Passei a atuar mais detidamente na licenciatura, com um grupo de bolsistas. Atuei como coordenadora do Projeto PROLICEN/LICENCIAR, da Feira Geográfica Itinerante e do Projeto “A geografia do Cotidiano na sala de aula - a construção da Maquete ambiental”, no Colégio Estadual Leôncio Corrêa, EPSG, de março a dezembro de 1996. Estávamos num período de grande reestruturação curricular norteados pelos pressupostos teóricos/éticos da Lei 9394/96, onde o Ensino Médio é entendido como aprofundamento do Ensino Fundamental, pelo viés metodológico, privilegiando uma abordagem interdisciplinar entre as áreas do conhecimento e os saberes disciplinares do seu aprendizado. Assim, recebi o convite para participar da organização do “Seminário Curricular para o Ensino Médio - Perspectivas da Implantação”, que ocorreu em Faxinal do Céu (Centro de Treinamento de Professores da SEED), no período de 19 a 23/10/1998 (3). Neste seminário aconteceram Oficinas, Mesas Redondas e Palestras, visando a interdisciplinaridade entre as três áreas: Ciências Humanas e suas tecnologias, Linguagens Códigos e suas tecnologias e Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Cerca de 1200 professores de todo o estado do Paraná estiveram presentes. A Equipe de trabalho foi composta pelos professores: Salete Kozel (Geografia), Jairo Marçal (Filosofia), Rubens Tavares (História) e Wanirley Pedroso Guelfi (Sociologia). O Projeto “A Geografia do Cotidiano na sala de aula - a construção da Maquete ambiental” também teve desdobramentos em 2002. A convite da UNILIVRE (Universidade Livre do Meio Ambiente) e da SEED-PR integrei uma equipe de professores para organizar o Curso “Capacitação em Mapas e Maquetes: os diferentes olhares para as representações do Espaço paranaense”, destinado a professores de Geografia e História da rede estadual paranaense. O objetivo era fazer uma reflexão sobre as representações histórico-geográficas no estado do Paraná, por meio da construção e utilização de mapas e maquetes e sua implantação como material pedagógico. Vários materiais e textos foram elaborados, cujas dinâmicas foram apresentadas pelas seguintes atividades: Entre o real e o imaginário, Do simbólico ao real, Do bidimensional ao tridimensional, Trilhas e rumos, O espaço virtual, O olhar dos viajantes, Ações e reações - o espaço dinâmico. Participaram destas oficinas 1500 professores, em 3 grupos de 500. A equipe foi composta pelos professores Elton Luiz Barz e Ione Moro Cury (História), Leny Mary Góes Toniolo (Educação Ambiental), Mário Cezar Lopes (Geografia), Nilson Cesar Fraga (Geografia), Rubens Tavares (História), Salete Kozel Teixeira (Geografia), e os oficineiros Hugo Moura Tavares (História), Marcia Cruz (geografia), Marcia M. Fernandes Oliveira (Geografia), Maria Alice Collere (Geografia) e Martin Antonio Boska (Geografia). Neste momento, o Departamento de Geografia da UFPR estava se organizando para propor a pós-graduação em Geografia. Precisava, portanto, de docentes com maior titulação. Assim, houve o incentivo para que todos fizessem o doutorado. Novamente a necessidade de alçar novos voos. Fiz minha inscrição para a seleção no doutorado na USP, no início de 1997. Com a aprovação, iniciei os créditos em abril de 1997. Apresentei o projeto “Proposta de simbologia Cartográfica aplicada à Educação ambiental e ao ensino de geografia”, tendo a Profa. Maria Elena Simielli como orientadora. É importante ressaltar que no Doutorado pude, enfim, concretizar meu antigo sonho: “estudar os solos e cursar agronomia na ESALQ de Piracicaba”, o que aconteceu no período de 7 a 19 de julho, referente ao 1º semestre/97, quando cursei a disciplina “Análise Estrutural da Cobertura pedológica”, com docência do professor Alain Ruellan,CNRS-França e a equipe de solos da ESALQ de Piracicaba. Curso concentrado e realizado nas dependências de uma Escola Agrícola em Espírito Santo do Pinhal - SP (10 créditos). Neste curso, os conhecimentos teóricos e empíricos se interconectaram e realizamos em equipe vários trabalhos como “Analise da Cobertura pedológica”, de uma área delimitada previamente. “UMA GRANDE REALIZAÇÃO”! Como não havia conseguido dispensa das atividades na UFPR, no 2º semestre de 1997 decidi cursar, como ouvinte, uma disciplina no MADE/UFPR, que me despertou grande interesse: Epistemologia da complexidade - tendo como docente a professora Iria Zanoni Gomes. Foi um curso excelente, proporcionando grande reflexão a partir das leituras de Capra, Prigogine e Atlán. No primeiro semestre de 1998 cursei a disciplina: Visualização da Informação geográfica - Teoria e Técnica, na USP, ministrada pela professora Regina Araújo Almeida. Em julho de 1999 me qualifiquei e me preparei para viajar. Em 1/10/1999 parti para a França com uma Bolsa sanduíche no Laboratoire Espace et Culture - Paris IV Sorbonne - sob a orientação do professor Paul Claval. Fixei residência na Maison Avicene na Cité Universitaire em Paris. Foi um intenso período de desafios, estudos e aprendizados tendo em vista a elaboração da tese. Com as leituras e a orientação do professor Claval houve uma mudança no projeto de pesquisa e os mapas mentais foram o principal aporte para o desenvolvimento da pesquisa empírica. O período de vigência da bolsa foi de outubro de 1999 a janeiro de 2000. Terminei de escrever a tese e defendi em 23/11/2001, com o título: “Das imagens às linguagens do geográfico: A Curitiba capital ecológica”. Enfim, estava titulada para encarar a vida acadêmica sem restrições. Um momento de grande realização profissional e emocional, sobretudo para mamãe, que estava muito feliz com a filha doutora pela USP, a maior e mais conceituada universidade do país. Um sonho familiar realizado. A trajetória relacionada à titulação acadêmica tem mais um capítulo em 2010 (1/8/2010 a 31/12/2010) com o Estágio de Pós-doutorado realizado no LABOTER, na UFG, em Goiânia/GO, sob a supervisão da Profa. Maria Geralda de Almeida, a quem dedico grande apreço e admiração. A pesquisa proposta foi o “Delineamento paradigmático e aprofundamento teórico-metodológico sobre: ‘espaço e representação’ e ‘geografia humanista/cultural’”, que teve por objetivo “Identificar e analisar os ‘paradigmas que sustentam a abordagem Humanista/cultural’ na geografia brasileira contemporânea”. Os aprendizados foram muitos com a inserção em atividades e projetos realizados no LABOTER, cujo enfoque era basicamente em Geografia Humana. Participei de trabalhos de campo na Comunidade Quilombola dos Kalunga e, em Goiânia, acompanhando pesquisadores que estudavam Folias de Reis e Festejos da padroeira em Moquém, GO. Neste período tive a oportunidade de conhecer e estabelecer parceria com a brilhante pesquisadora italiana Giuliana Andreotti, que na ocasião era professora visitante na UFG. Participamos juntas, com um grupo de alunos, em um trabalho de campo em Brasília, desenvolvendo pesquisa sobre Geografia emocional. Este trabalho gerou a publicação de Andreotti “Brasília, capital de paixões antes que de poder”, publicado na revista Presença Geográfica, UNIR – vol. 03, n.01, 2016. Houve, ainda, o desenvolvimento de cooperação científica e técnica entre as instituições envolvidas, como a realização de atividades previstas nos protocolos de cooperação estabelecidos entre os Departamentos de Geografia das Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal do Paraná. Posteriormente, recebi o convite da professora Giuliana para atuar como professora visitante na Universitá degli Study di Trento - Itália (Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali), o que ocorreu no período de janeiro a 31 de julho de 2011. COM A CHANCELA DO DOUTORADO A VIDA ACADÊMICA SE INTENSIFICA Com a defesa do doutorado as atividades na UFPR se intensificam. Além da docência na graduação e na especialização, elaborei um projeto na área ambiental: “Diagnósticos e perspectivas da Educação ambiental na Bacia do Alto Iguaçu e Região Metropolitana”, subprojeto de pesquisa integrada ao projeto: “Apropriação da natureza FIGURA 26 – Momento da defesa. Professores que compuseram a banca e minha família presente. e tipologia de paisagens da Região Metropolitana de Curitiba e Bacia do Alto Iguaçu”. Este projeto tinha por objetivo estabelecer um diagnóstico sobre os Projetos de Educação ambiental desenvolvidos nos municípios integrantes da Bacia do Alto Iguaçu e Região Metropolitana. Como integrante do Projeto PROLICEN/LICENCIAR dei continuidade, no LABOGEO, ao projeto “Feira Geográfica Itinerante”, com a realização de palestras, cursos e feiras, na perspectiva de divulgar o curso de Geografia e estabelecer parcerias com os professores que atuavam nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, e o LABOGEO. PUBLICAR É PRECISO ... Logo após concluir o mestrado, em 1991, elaborei o primeiro artigo: “Análise crítica das representações cartográficas nos livros didáticos de 1º e 2º graus”, que foi publicado no Boletim Paulista de Geografia (70), 2º sem. AGB-SP, São Paulo, 1991. Os ecos de uma intensa trajetória pelas searas do ensino de geografia ainda se faziam presentes com a dissertação defendida recentemente e várias publicações subsequentes. Em 1996, quando já atuava como docente da UFPR, houve o convite da Editora FTD para escrever um livro de Metodologia para professores de Geografia. A experiência de vários anos trabalhando com a capacitação de professores de Geografia serviu de base para desenvolver essa obra. Convidei o Prof. Roberto Filizola para escrevermos em parceria algo que preenchesse a lacuna percebida na formação dos docentes, em vários cursos que atuamos conjuntamente. Assim, em novembro de 1996 foi publicado o livro: “Didática de Geografia: Memórias da Terra. O Espaço vivido”, publicado pela Editora FTD, São Paulo-SP, fazendo parte da coleção Metodologias. No mesmo ano, publiquei na Revista Ra’E Ga – O espaço geográfico em análise (1), Departamento de Geografia da UFPR, o artigo “Subsídios ao conceito espontâneo em localização espacial e o ensino da geografia”. Ressalta-se a importância do entendimento das inter-relações existentes no espaço geográfico, para que as pessoas tenham clareza quanto aos conceitos que envolvem essa compreensão. Nessa perspectiva, propus averiguar como o conceito de "localização espacial" é elaborado por alunos de diferentes faixas etárias, tendo como aporte o Construtivismo Piagetiano. A pesquisa teve por objetivo demonstrar a importância de se conhecer como os conceitos geográficos são construídos e sua implementação no ensino de 1° e 2° graus. Em 1998, ainda, movida pelo questionamento sobre o papel da Geografia nos currículos escolares elaborei o artigo “Ensinar geografia no terceiro milênio. Como? Por quê?”, publicado na Revista Ra’E Ga – O espaço geográfico em análise. O objetivo foi discutir o conhecimento geográfico nos diferentes momentos históricos, marcado pela dinâmica social, assim como seu reflexo no ensino fundamental, médio e universitário, propondo analogias entre o fazer pedagógico vigente e os diversos paradigmas. A proposta era propiciar a reflexão quanto à importância da geografia para os habitantes do Planeta Terra, no século XXI. Com o desenvolvimento do projeto “Maquete ambiental” junto aos alunos do Colégio Leôncio Correia, EPSG, em 1999, documentei e apresentei os resultados obtidos no artigo “Produção e reprodução do espaço na escola: o uso da maquete ambiental”, que foi publicado na Revista Paranaense de Geografia. No mesmo ano, em parceria com Amélia Nogueira, foi elaborado o artigo “A geografia das representações e sua aplicação pedagógica: contribuições de uma experiência vivida”, que foi publicado na Revista do Departamento de Geografia (13), da FFLCH - USP. Nesse período eu tinha concluído os créditos do doutorado e tanto eu como Amélia desenvolvíamos pesquisa relacionada às representações e os mapas mentais, sob a orientação da Profa. Maria Elena Simielli. O objetivo deste artigo era ampliar as discussões a respeito da geografia, que se constroem a partir da apreensão do espaço vivido, ressaltando as percepções e representações do espaço e tendo como pesquisa empírica experiências realizadas com alunos. A partir do debate sobre “mapas mentais”, com o respaldo em vários autores, propusemos uma ampliação do entendimento do conceito de representação e sua importância no cotidiano das pessoas. Em novembro de 2001, o colega de departamento Francisco Mendonça e eu organizamos o primeiro Colóquio Nacional de Pós-Graduação em Geografia, tendo como temática central “A epistemologia da geografia contemporânea face a sociedade global”. O colóquio teve uma conferência/debate com o Professor Paul Claval e três mesas redondas temáticas: Geografia Crítica, Geografia Ambiental e Geografia Cultural, ramos da geografia brasileira que sobressaíam como importantes correntes do pensamento geográfico brasileiro. Esse evento teve por objetivo fortalecer a pós-graduação que se estruturava no Departamento de Geografia da UFPR. Tive oportunidade de participar das discussões na Mesa redonda sobre Geografia cultural, expondo parte da pesquisa desenvolvida no doutorado sobre as Representações no geográfico. A preocupação com as representações espaciais sempre esteve presente, tanto no cotidiano dos grupos sociais como nas pesquisas geográficas, sendo posteriormente estruturadas pela cartografia, incorporando aportes linguísticos, da comunicação, cultura, valores, significados e ideologias. O conceito de representação espacial para os geógrafos se estrutura na fusão de várias correntes contemporâneas, incorporando o conceito de representação social oriundo da sociologia da representação ao arcabouço da psicologia social. (4) Esse colóquio gerou o livro: “Elementos de Epistemologia da geografia contemporânea”, publicado pela Editora da Universidade Federal do Paraná, em 2002, com impressão da 2ª edição em 2004. Ainda decorrente da pesquisa da tese publiquei, em 2005, um capítulo do Livro: “A Aventura cartográfica. Perspectivas, pesquisas e reflexões sobre a cartografia humana”, organizado por Jörn Seemann. O capítulo intitulado “Comunicando e representando: mapas como construções socioculturais” evidencia que uma imagem, ao ser construída ou decodificada, passa por diversos filtros e linguagens e este caminho propicia desvendar os marcos significativos das representações, perpassados pelos aspectos socioculturais. As pesquisas com viés ambiental se intensificam com os projetos desenvolvidos tanto no LABOGEO “A geografia do cotidiano e a construção da maquete ambiental”, como na docência do curso de Especialização em Ensino de geografia e Educação ambiental, na UFPR e no projeto Banpesq: “Diagnósticos e perspectivas da Educação ambiental na Bacia do Alto Iguaçu e Região metropolitana”. Essas pesquisas geraram alguns artigos como “Educar ‘ambientalmente correto’ desafio ou simulacro para a sociedade consumista do século XXI?”. Neste artigo procurei evidenciar aspectos da crise ambiental e de percepção, o que exige ressignificação das maneiras de apropriação do espaço e das relações sociais ressaltando, ainda, a importância da educação ambiental para além da retórica, em direção a ações transformadoras. No livro “Geografia, ciência do complexus: ensaios transdisciplinares”, organizado por Aldo Dantas da Silva e Alex Galeno, em 2008, publiquei o artigo: “Das ‘velhas certezas’ à (Re) significação do geográfico”. Neste artigo, refleti sobre a busca e a superação do pensamento dicotômico que separa sociedade e natureza, destacando a importância dos aspectos socioculturais para a compreensão do espaço geográfico, ressaltando a necessidade de compreender os fenômenos em sua inteireza, pois entendemos que os estudos de partes isoladas não nos permitem apreendê-los em sua essência. Com o incentivo da CAPES/ PROCAD/Amazônia, integrando UNIR e UFPR, foi possível ampliar as parcerias com o Projeto “A Festa do Boi Bumbá em Parintins - AM: Espaço e Representação”, integração que ocorreu no período de 2007 a 2011. Com a inquietação de um grupo de amigos surgiu o ousado e desafiador projeto, cujas questões norteadoras foram: Qual seria o papel do boi na cultura amazônica? Como os festejos relacionados ao boi surgiram e se estruturaram em Parintins, uma ilha situada no rio Amazonas? O objetivo do projeto foi investigar as representações culturais das comunidades ribeirinhas, ao longo dos rios Amazonas e Madeira, no que tange à festa do Boi Bumbá, bem como identificar o processo de formação das comunidades ribeirinhas a partir de sua história recente e referencial espacial, por meio de discussão teórica e trabalho de campo com equipe interdisciplinar e interinstitucional, visando pesquisar a identidade cultural e sua espacialidade. Para investigar o que se propunha era necessário ir a campo. Assim, o professor Josué, docente da UNIR, organizou e coordenou uma expedição que nos possibilitou ir a campo. Um barco recreio, típico dos meios fluviais amazônicos foi fretado para a viagem de 29 dias, percorrendo os rios Madeira e Amazonas. Partimos de Porto Velho, com destino a Parintins, aportando em alguns núcleos urbanos e comunidades ribeirinhas, investigando as representações culturais ao longo do trajeto, quando vivemos situações que causaram variadas sensações: surpresa, medo, êxtase ou até indignação. A equipe de pesquisa foi uma mescla de graduandos, pós-graduandos e professores/pesquisadores. Os representantes da UNIR foram: Prof. Josué da Costa Silva, Profa. Maria da Graça Nascimento Silva, pós-graduandos Wendell Tales de Lima, Gustavo Abreu e Adnilson de Almeida Silva, além dos graduandos em Geografia, Lindinalva Azevedo de Oliveira e Josimone Batista Martins. Os professores da UFPR foram: Salete Kozel, Sylvio Fausto Gil Filho e Roberto Filizola; os pós-graduandos em Geografia Fernando Rosseto Galego, Ana Helena C. de Freitas Gil; e os graduandos Camila Jorge, Mayara Morokawa e Leandro Bamberg. Como pesquisadores convidados tivemos a companhia do Prof. Paul Claval, da Paris IV Sorbonne e Benhur Pinós da Costa, da UFAM. Na condução e comando do barco o experiente capitão João, auxiliado por mais 5 tripulantes, entre eles Dimas, um brilhante cozinheiro. Nossa expedição foi empreendida entre 10 de junho e 7 de julho de 2007. Vivemos uma experiência ímpar e inusitada, que relatamos no livro: EXPEDIÇÃO AMAZÔNICA: Desvendando espaço e representações dos festejos em comunidades amazônicas. “A festa do boi-bumbá: Um ato de fé”. Enfim, “(...) o barco que navegou pelas águas dos rios da Amazônia levando nossos primeiros olhares, nossas emoções, nossos sonhos, nos apresentou uma Amazônia única e pessoal. Sentimo-nos como os primeiros geógrafos a desvendar um mundo novo”. Os resultados das pesquisas foram documentados na publicação acima citada, que veio a lume em 2009. O livro é composto por 11 artigos, organizados em tópicos: Festividades e religiosidade na Amazônia, O brincar de boi em Parintins, Imagens fotográficas da Expedição Amazônica e Múltiplas representações: questão indígena, esporte, educação e saúde. Lembro que todos os artigos foram elaborados pelos integrantes da expedição. Cabe ressaltar que os mapas mentais foram o eixo norteador da pesquisa que desenvolvemos em parceria com Luciley de Feitosa Souza, em Parintins, com o título: “Parintins, que espaço é esse? Representação espacial sob a ótica do morador e do visitante”. “A pesquisa nos levou a perceber as significações tanto individuais como coletivas que emergem no espaço parintinense. Os mapas mentais como aporte metodológico nos propiciaram refletir sobre os homens históricos e sociais que ao longo de suas vivências e experiências incorporam diferentes vozes, criando um complexo universo de signos, propiciando o Dialogismo”. A parceria UFPR/UNIR iniciada com o PROCAD Amazônia, foi ampliada entre as duas instituições, em 2011, com a aprovação do DINTER. Com a inquietação em busca das origens das festividades do boi na Amazônia em 2009 fomos a São Luiz no Maranhão, juntamente com Josué e Roberto, integrantes da expedição amazônica, participar dos festejos do Bumba meu boi. Nessa busca, detectamos que a origem da festividade tem o seu embrião no estado do Maranhão. Ouvimos depoimentos de que se brinca de boi nas diversas comunidades maranhenses há mais de 100 anos, se constituindo numa tradição cultural. Com a migração de contingentes nordestinos para a Amazônia, no ciclo da borracha, a tradição relacionada à festa do boi se expandiu para este espaço. As festividades relacionadas ao boi nos motivaram a aprofundar o tema com o projeto “Espacialidades da Festa do boi no contexto das festividades em território brasileiro” (2012 a 2015), tendo como objetivo investigar o papel do festejo do boi na estruturação do espaço brasileiro, tendo em vista a reflexão sobre a espacialidade e as territorialidades, à luz da Geografia Cultural. Com esse projeto procuramos revelar o que esses festejos possuem em comum. O boi de mamão, por exemplo, é um espetáculo festivo, que consegue colocar nas ruas os problemas da sociedade e, através da música e do humor, criticá-los. Há quem diga que essa brincadeira do litoral paranaense cura todos os males... O boi-bumbá amazônico, por sua vez, incorporou ao mito da morte e ressurreição do boi, ritos indígenas. Nas quentes noites do festival guajaramirense os brincantes compõem tribos que dramatizam nas pistas do bumbódromo rituais que promovem o reviver do boi. Coreografias incorporam mitos e lendas da Amazônia para potencializar os poderes de um pajé. O mesmo pode ser dito em relação aos festejos em São Luís, no Maranhão, e em Santo Antônio de Leverger, no Mato Grosso, onde, igualmente, os costumes sofrem mudanças ao mesmo tempo em que oferecem resistência à exploração imposta pelas relações de poder. Não se trata, portanto, de uma tradição congelada no tempo, mas de um conjunto de práticas integrantes da cultura popular. Neste projeto foram desenvolvidas quatro teses de doutorado: Maísa F. Teixeira (2014), com o tema: As representações espaciais simbólicas e os sentidos do lugar da Festa do Boi à serra em Santo Antonio de Leverger/MT; Luciléa F. Lopes Gonçalves (2016), com o tema: Entre sotaques, brilhos e fitas: tecendo geograficidades por meio dos bois Rama Santa e Maioba; Roberto Filizola (2014), Duelo na Fronteira: entre a dimensão de uma nova espacialidade e a construção de uma identidade de resistência; e, Beatriz Furlanetto (2011), com a tese: Paisagem sonora do boi-de-mamão no litoral paranaense: a face oculta do riso. A pesquisa “Das imagens às linguagens do geográfico: Curitiba, a Capital ecológica”, defendida como tese de doutorado no Departamento de Geografia da USP – São Paulo, em 2001, teve como objetivo investigar como as pessoas constroem e decodificam signos referentes ao espaço geográfico, tendo como parâmetro o estudo de caso sobre Curitiba, a “Capital ecológica”, cuja estratégia metodológica foi desenvolvida por meio de mapas mentais e turísticos, visto que essas representações podem refletir condutas e atividades cotidianas das pessoas em relação ao ambiente, tornando-se o fio condutor das práticas dos sujeitos num movimento constante de pensar, sentir e agir. Desde a defesa da tese, o trabalho com mapas mentais foi se consolidando e inúmeras monografias, dissertações e teses se estruturaram, reforçando a validade e a importância desse procedimento metodológico, que recebeu o nome de “Metodologia Kozel”. Essa perspectiva me motivou a publicar a tese, o que aconteceu em 2018, pela Editora da Universidade Federal do Paraná, abrilhantada com o prefácio do estimado Professor Paul Claval, emérito pesquisador da Université Paris IV Sorbonne - França. A síntese do trabalho de pesquisa e de orientação, com a metodologia que desenvolvi a partir dos Mapas mentais, foi estruturada na obra: “Mapas mentais: Dialogismo e Representação”. Tive a grata satisfação de ter essa obra prefaciada pelo eminente Professor Oswaldo Bueno Amorim Filho, da PUC/MG. O livro foi organizado em duas partes: a primeira, “Um panorama sobre os Mapas mentais”, onde estruturei teoricamente o tema, enfatizando aspectos importantes de sua aplicação nas pesquisas, sobretudo como diagnóstico e aspectos controversos apontados pela subjetividade inerente. A segunda, “Dando voz aos protagonistas da pesquisa”, é constituída por vinte artigos evidenciando as pesquisas desenvolvidas por meus ex-orientandos, abordando temas variados com a aplicação da metodologia dos mapas mentais, como: Representação e ensino, Educação indígena, Educação ambiental, Percepção e representação da paisagem e do lugar, Representação do turismo e Espacialidades das festas. Cabe ressaltar, ainda, a importância das parcerias estabelecidas entre a UNIR e a UFPR que, após a realização do PROCAD/Amazônia, com a expedição geográfica, cursos e orientações de teses, tivemos aprovado o DINTER/UNIR/UFPR. Foi um processo de aperfeiçoamento acadêmico, em que 22 professores foram selecionados e dentre eles estiveram sob a minha orientação: Alex Mota dos Santos, Gustavo do Amaral Gurgel, Gustavo Henrique de Abreu Silva e Klondy Lúcia de Oliveira Agra. Após trilhar pelas searas da pesquisa teórica e empírica e vários trabalhos de campo, todos defenderam suas teses. Alex com a tese intitulada: Cartografia dos povos e das terras indígenas de Rondônia (2014); Gustavo Gurgel com Geografia da Re-Existência: Conhecimentos, Saberes e Representações geográficas na Educação Escolar Indígena do Povo Oro Wari - RO (2016); Gustavo Abreu com a tese: A paisagem musical rondoniense: poéticas de uma urbanidade beradera (2016); e, Klondy, com Águas da Amazônia: sentidos, percepções e representações (2015). Ainda sob esse prisma, vale ressaltar que foram publicados artigos síntese da tese de Gustavo Amaral e de Alex, na obra “Mapas mentais: Dialogismo e Representação”, por desenvolverem procedimentos metodológicos utilizando os mapas mentais; o artigo do Gustavo intitulado: Mapas mentais e as representações geográficas na educação escolar indígena do povo OroWari-RO; e, de Alex Mota dos Santos, O olhar de professores indígenas de Rondônia sobre o lugar. Com a orientação dessas pesquisas tive a oportunidade de participar de vários trabalhos de campo em aldeias indígenas no estado de Rondônia e conhecer uma realidade até então desconhecida. Dessa parceria também decorreu o convite para participar como coautora da obra: Geografia da Re-existência: conhecimento, saberes e representações geográficas na educação escolar indígena do povo OroWari-RO, juntamente com Gustavo Amaral Gurgel, em 2019. Em 2013, na UFG foi organizada uma publicação em homenagem ao eminente geógrafo Paul Claval: “É geografia é Paul Claval”, Editora FUNAPE/UFG, Goiânia, GO, tendo como organizadores Maria Geralda Almeida e Tadeu Alencar Arrais. Convidada a participar, surge o artigo “Contribuição de Paul Claval à Geografia Brasileira”, escrito em coautoria com Luciley de Feitosa, uma ex-orientanda da UNIR. Ao pensar a trajetória acadêmica sob o prisma das parcerias e ampliação dos horizontes, emerge a ponta de um grande iceberg: a fundação da rede NEER (Núcleo de Estudos em Espaço e Representação), em 2004, no DGEO/ UFPR. Surge durante um importante Evento da pós-graduação, realizado em Florianópolis, em 2002, no momento em que muitos pesquisadores da ciência geográfica se encontravam inquietos ao perceber que suas pesquisas não se encaixavam nos temas propostos. Observou-se que 66% dos trabalhos apresentados caracterizavam-se na categoria OUTROS, inclusive o meu trabalho. Algo estranho estava acontecendo! Afinal, qual era a proposta dos pesquisadores encaixados em OUTROS? Basicamente questões sociais, culturais, ambientais, e do ponto de vista teórico epistemológico, fundamentados na teoria da representação. Diante dessa realidade, pensamos em convidar colegas que compunham este grupo para criar um novo espaço, onde fosse possível amplificar e aprofundar o diálogo acerca das pesquisas marcadas pelos fundamentos teóricos e metodológicos ligados à Geografia Social e à Geografia Cultural, e tendo como fio condutor a teoria das representações. O embrião desse grupo, com ampla vivência nas chamadas geografias marginais, foi formado pelos professores Oswaldo Bueno Amorim Filho (PUC-MG), com experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Urbana, atuando principalmente com cidades médias; e também com Geopolítica, epistemologia da Geografia e Geografia humanista cultural; Sylvio Fausto Gil Filho (UFPR), com atuação em Geografia Cultural, epistemologia da Geografia Humana, Geografia da Religião e Filosofia da Religião; e, Salete Kozel (UFPR), com desempenho em Geografia, Ensino e Representação, Educação ambiental, Estudos de percepção em Geografia, Mapas Mentais, Linguagem e Representação, Geografia e manifestações culturais. (5) Aproveitando a presença do Prof. Paul Claval, pesquisador da Universidade de Paris IV Sorbonne - Paris, que se encontrava na UFPR participando de atividades acadêmicas, apresentamos, para sua apreciação, nossa proposta de criação do Núcleo de estudos. Tendo seu aval, nos reunimos para o “lançamento da pedra fundamental”, em 19 de outubro de 2004, nas dependências do Departamento de Geografia da UFPR. O incentivo e o aval do Prof. Paul Claval nos encorajaram a dar prosseguimento à proposta, e estendemos o convite para alguns colegas comporem o grupo, realizando, em 2006, o primeiro Colóquio do NEER, nas instalações da UFPR, em Curitiba. As primeiras parcerias ocorreram em 2004 e 2005, e envolveram o Prof. Dario de Araújo Lima (FURG), com inserção em Geografia Cultural e Curadoria, destacando produção científica de curadoria e pesca artesanal; Josué da Costa Silva (UNIR), com atuação em Geografia Cultural, Espaço e Representações, Religiosidade Popular, Populações Tradicionais; Maria Geralda Almeida (UFG), com destacada atuação na área de Geografia Cultural, particularmente temas como: Manifestações Culturais, Turismo, Territorialidade e Sertão; Álvaro Luiz Heidrich (UFRGS), com inserção em Geografia Humana, atuando com os temas: Geração e perda de vínculos territoriais, Territorialidades humanas, Identidade e Globalização; Nelson Rego (UFRGS), proveniente da Educação, com atuação em Ensino e Representação, com ênfase em geração de ambiências e instrumentalização para o ensino de Geografia; Icléia Albuquerque de Vargas (UFMS), atuante nas áreas da Geografia e da Educação, principalmente com os temas: Educação Ambiental, Geografia Cultural, Pantanal, Meio Ambiente, Turismo e Percepção Ambiental; Ângelo Serpa (UFBA), atuante nas áreas de Geografia Urbana, Geografia Cultural, Planejamento Urbano e Planejamento Paisagístico; Wolf Dietrich Sahr (UFPR), atuando com Geografia Social e Geografia Cultural; Roberto Filizola (UFPR), voltado ao Ensino e Representação de Geografia e Formação de professores, Fronteira Emocional em espaços escolares, Metodologia do Ensino e Interculturalidade, na perspectiva das geografias emocionais Alexandre M. Diniz (PUC/MG) com experiência na área de Geografia Humana, atuando principalmente com Geografia do Crime e da Violência, Geografia Urbana e Geografia Regional. Como se pode observar, esse grupo de pesquisadores, embora com formação diversa e atuação distinta, tinham sua inserção nas áreas cultural, social e ambiental, tangenciando planejamento e educação. Nessa perspectiva, o NEER se propôs a ampliar e aprofundar a abordagem cultural na Geografia, focando nos estudos sobre o espaço e suas representações, entendendo as representações como uma ampla mediação, que permite integrar o social e o cultural, além de contemplar a temática do ensino de Geografia. Isso exposto, em novembro de 2006 foi realizado o I Colóquio do NEER (Núcleo de Estudos em Espaço e Representação), na UFPR, em Curitiba. Com a realização do I Colóquio, o NEER se consolidou como núcleo de estudos e, de acordo com a composição dos quatro eixos temáticos (Epistemologia da Geografia, Representação e Ensino, Geografia da Religião e Territorialidades e suas representações), previamente definidos, ficou estabelecida a participação dos pesquisadores nesses grupos, tendo em vista a apresentação das pesquisas e as parcerias firmadas. Vale recordar que na reunião dos pesquisadores, ocorrida durante esse evento, ficou acordado que o NEER (Núcleo de Estudos em Espaço e Representação) seria uma rede não formal e não hierarquizada, interinstitucional. Uma rede temática que, de fato, possibilitasse a integração de Programas de Pós-graduação e de pesquisadores isolados, assim como núcleos, grupos e projetos de pesquisa. Ficou definida a realização do II Colóquio, em 2007, em Salvador, na UFBA, sob a coordenação do Prof. Dr. Ângelo Serpa, o que de fato se consumou. Em 2007 foi lançada uma publicação que sintetizou as apresentações dos pesquisadores no I Colóquio Nacional do NEER, ocorrido em 2006, em Curitiba. Trata-se do livro “Da percepção e cognição à representação: reconstruções teóricas da Geografia Cultural e Humanista” - SILVA, J. da C.; GIL FILHO, S. F.; e KOZEL, S. (org.), refletindo a vitalidade da escola cultural da geografia brasileira e sua capacidade de explorar novos rumos, cruzar tradições e reinterpretar esses domínios. Nessa obra publiquei o capítulo: “Mapas mentais - uma forma de linguagem: perspectivas metodológicas”, evidenciando o mundo cultural como um mundo que ultrapassa a soma de objetos, que tem uma forma de linguagem que emerge do sistema de relações sociais onde se imbricam valores, atitudes e vivências e essas imagens passam a ser entendidas como Mapas mentais. O II Colóquio Nacional do NEER ocorreu no período de 5 a 8 de dezembro de 2007, em terras soteropolitanas e teve como tema Espaços Culturais: Vivências, Imaginações e Representações. O evento teve o Professor Claval como conferencista e consolidou o NEER como rede de discussões e parcerias. Foram convidados mais três colegas e o NEER passou a contar com 18 pesquisadores, envolvendo 12 programas de Pós-Graduação em Geografia. Os trabalhos apresentados, as discussões e reflexões que ocorreram durante o evento, foram publicados no livro “Espaços Culturais: vivências, imaginações e representações”, organizado por Ângelo Serpa e publicado pela EDUFBA, em 2008. Após a reunião dos integrantes da rede foi definido que o III NEER aconteceria em Porto Velho (RO), em 2009, sob a coordenação do Professor Josué da Costa Silva, com o tema Espaço e Representações: Cultura e Transformações de Mundos. O Colóquio ocorreu no período de 01 a 06 de novembro de 2009, com ampliação dos temas abordados pelos pesquisadores nas mesas redondas, incluindo Sexualidade, gênero e representação do espaço; Modos de vida: imaginário e representação do lugar; e, A poética cultural da Amazônia: nossas representações. Foi enfatizada a questão regional da Amazônia, sua cultura e modos de vida, o que foi aprofundado pelos convidados que pesquisam a realidade local. Na ocasião tivemos como convidada a pesquisadora Giulliana Andreotti, professora da Universitá degli Studi di Trento, Itália. É importante destacar que dois dos pesquisadores convidados que participaram do evento, Adnilson de Almeida Silva e Lucileyde Feitosa Sousa, integravam o PROCAD-UNIR/UFPR, envolvendo UFPR e UNIR, numa parceria de capacitação docente para o Curso de Geografia, e que teve início em 2008 e término em 2011. Adnilson defendeu a tese intitulada “Territorialidades e identidade do coletivo Kawahib da terra indígena Uru-Wau-wau em Rondônia: Orevaki até (reencontro) dos marcadores territoriais”, em 31/03/2010, sob a orientação do Prof. Sylvio Fausto Gil Filho (UFPR) e tendo como coorientador o Prof. Josué da Costa Silva (UNIR). Lucileyde defendeu a tese: “Espaços dialógicos dos barqueiros na Amazônia: uma relação humanística com o rio”, defendida em 2012, orientada pela Profa. Salete Kozel (UFPR) e tendo como coorientador o Prof. João Carlos Sarmento, da Universidade do Minho (Portugal), onde realizou bolsa sanduíche entre 20/01/2011 e 20/07/2011. Nessa ocasião, ainda, foram convidados para compor o NEER os colegas: Joseli da Silva (UEPG), Rooselvelt José Santos (UFU), Gilmar Mascarenhas (UERJ), Wendel Henrique (UFBA). Christian Dennys Monteiro de Oliveira (UFC), Claudia Zeferino Pires (UFRGS), Jean Carlos Rodrigues (UFTO), Maria das Graças Silva Nascimento Silva (UNIR) e Sonia Regina Romancini (UFMT). Destarte, a rede NEER agregou mais sete pesquisadores, totalizando 25 integrantes e envolvendo 17 programas de pós-graduação em Geografia. Após o evento ficou estabelecido que o IV Colóquio do NEER ocorreria em 2011, em Santa Maria – RS, sob a coordenação do Prof. Benhur Pinós da Costa. O IV Colóquio Nacional do NEER ocorreu no período de 22 a 25 de novembro de 2011, em Santa Maria - RS, tendo como tema: As múltiplas espacialidades culturais: interfaces regionais, urbanas e rurais. Este evento, com um grupo maior, possibilitou dar maior visibilidade às linhas de pesquisa dos integrantes da rede NEER e seu fortalecimento com os Grupos de Trabalho coordenados pelos pesquisadores da área. Em 2010, durante o pós-doutorado no LABOTER – IESA/UFG, desenvolvi a pesquisa sobre a Geografia Cultural e Social no Brasil, que gerou o artigo “Um panorama sobre as geografias marginais no Brasil”, publicado no livro “Maneiras de ler geografia e cultura”. Essa publicação sintetizou as reflexões ocorridas no evento e teve como organizadores: Álvaro Luiz Heidrich, Claudia Luiza Zeferino Pires e Benhur Pinós da Costa. Desta forma, os eixos das linhas de pesquisa do NEER são: Espaço e Cultura (urbano, agrário e regional), com onze pesquisadores; Ensino e Representação, com nove pesquisadores; Festas e festividades populares e turismo, com oito pesquisadores; Populações tradicionais, Território/Identidade e Cidadania - Sertão, Amazônia, com sete pesquisadores; Cultura e Comunicação, com quatro pesquisadores; Memória e Patrimônio, com quatro pesquisadores; Espaço e Religião/Santuários, com quatro pesquisadores; Espaço político, social e cultural-, com dois pesquisadores, e Teoria da Geografia Cultural, com dois pesquisadores. Ao final do evento ficou definido que o V Colóquio Nacional do NEER se realizaria de 26 a 30 de novembro de 2013, em Cuiabá, sob a coordenação da Profa. Sonia Regina Romancini, da UFMT. O V Colóquio Nacional do NEER - Núcleo de Estudos em Espaço e Representação ocorreu no período de 26 a 30 de novembro de 2013, em Cuiabá-MT, tendo como tema: As representações culturais no espaço: perspectivas contemporâneas em Geografia. Os trabalhos apresentados, reflexões dos GTs e as mesas foram documentados na publicação eletrônica: “As representações culturais no espaço: Perspectivas contemporâneas em Geografia”. ROMANCINI, S. R.; ROSSETO, O. C.; NORA, G. D. (orgs.).Após este colóquio, a rede NEER passa a ser composta por 25 pesquisadores, vinculados a 19 instituições nacionais e uma americana (Jörn Seemann, Ball State University). O VI Colóquio do NEER foi previsto para Fortaleza (CE), em novembro de 2016, sob a coordenação do Prof. Christian Dennys Monteiro de Oliveira, quando o NEER completaria 10 anos de existência, implícito no tema “Os outros somos nós - 10 anos de NEER”, tendo ocorrido no período de 20 a 26 de novembro de 2016, em Fortaleza, conforme previsto. Neste evento Alessandro Dozena da UFRN foi convidado a integrar a rede NEER. Neste colóquio, Sylvio e eu proferimos a conferência de abertura apresentando um resumo dos 10 anos do NEER, o que ficou registrado nos anais do Evento com a publicação: Os outros somos nós - NEER (2006-2016). A síntese dos primeiros 10 anos do NEER, enfatizando as parcerias e os eventos realizados: Cinco Colóquios, em diferentes realidades brasileiras, sempre alternando a coordenação (Curitiba - PR, Salvador - BA, Porto Velho - RO, Santa Maria - RS, Cuiabá - MT e Fortaleza - CE). Realização de um PROCAD e um DINTER, integrando a UFPR e a UNIR, titulando vinte doutores. Foram realizadas cinco publicações, sendo duas digitais, contendo o teor das conferências, mesas redondas e artigos apresentados nos eventos. Dois pós-doutorados: Salete Kozel (UFPR), sob a tutoria de Maria Geralda Almeida (UFG) e Sylvio Fausto Gil Filho (UFPR) sob tutoria de Álvaro Luiz Heidrich (UFRGS). Inúmeras bancas de defesa de teses e de dissertações, bem como de concurso na UFPR, UFRS, UFMT, UFU, UFG, PUC-MG, UFC. Parceria entre colegas na realização de cursos na pós-graduação. Trabalho de campo em parceria: Expedição Amazônica - UFPR/UNIR, e Festança de Vila Bela da Santíssima Trindade - UFPR/UFMT, ambos gerando publicações como produto. O VII Colóquio no NEER ocorreu em 2018, em Diamantina – MG, sob a coordenação de Alexandre Magno Diniz, no campus da UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no período de 15 e 19 de Outubro, com o tema: A metomorfose, cujo símbolo seria uma borboleta saindo da crisálida, representando a maturidade do Núcleo que, partindo de uma condição marginal, conquistando o respeito e o reconhecimento da comunidade geográfica nacional. Neste Colóquio, participei da mesa redonda: “Borboleta: Potências e perspectivas epistemológicas (Teórico e metodológicas)”, apresentando o tema: EMOÇÕES EM VÔO NAS PAISAGENS CULTURAIS: A Paisagem emocional na perspectiva de Andreotti. Os trabalhos apresentados, reflexões dos GTs e mesas foram documentados na publicação eletrônica: Metamorfoses possíveis compartilhadas: Leituras em Geografia Cultural, DINIZ, Alexandre Magno, ALVIM, Ana Márcia Monteiro, PEREIRA, Doralice Barros, DEUS, José Antonio Souza de, PÁDUA, Letícia (orgs). Neste evento, ainda, apresentei, em coautoria com Luciléa Ferreira Lopes Gonçalves, o trabalho “Ritmos da vida, ritmos da festa: Análise da geograficidade dos brincantes do Bumba meu boi no Maranhão”, que reflete parte da tese de doutorado que Luciléa defendeu em 2016, sob a minha orientação. Após o evento, em reunião, os gestores da rede NEER decidiram que a realização do próximo Colóquio seria na Cidade de Goiás – GO, sob a coordenação da Maria Geralda de Almeida (UFG), em parceria com os colegas da UEG. O evento estava programado para outubro de 2020, mas com a pandemia ficou adiado para um momento mais oportuno. A rede NEER conta atualmente com 15 instituições parceiras em atividade: UFRGS e UFSM (RS); PUC/MG, UFU - UFMG (MG); UFBA e UNEB (BA); UFG e UEG (GO); UFPR e UEPG (PR); UNIR (RO); UFMT (MT); UFTO (TO); UFRN (RN); e, Ball State University (USA), com 22 pesquisadores gestores. Contribuir na criação da rede NEER e atuar nessa incrível rede de parcerias foi sem dúvida uma das maiores e mais gratificantes fases da minha trajetória, rompendo com a dualidade da minha formação: da paixão pelos solos e pela questão ambiental para pensar a sociedade e sua dinâmica, sobretudo na ótica da cultura. Quando ainda estava na faculdade sonhava em conquistar o mundo, mas essa conquista somente se consolidou e se eternizou na trajetória ... “o caminhante faz seu caminho ao caminhar”, como escreveu o poeta espanhol Antonio Machado. Minha trajetória foi marcada pela participação em inúmeros Eventos (Encontros, Simpósios e Seminários) Cursos, Mesas Redondas, no Brasil, Argentina, Cuba, França, Itália e Venezuela. Oportunidades e perspectivas diversas, proporcionando novos aprendizados e delineando caminhos inusitados, muitas vezes conturbados e desafiadores. Poderia ser melhor? Não sei. Sei apenas que me sinto feliz por ter batalhado para a realização de meus sonhos. E, ainda hoje, “desaposentada”, continuo orientando teses doutorais, atuando como supervisora de pós-doutorado e organizando livro em parcerias. Em 2018, recebi o convite do amigo e parceiro da rede NEER, Nelson Rego, para fazer parte da organização de um livro digital, convênio UFRGS e Universidade do Minho - Portugal. A proposta ousada e interessante tinha o seguinte teor: Aceitamos ou não a convocação de cartografias a serem feitas e/ou analisadas? Cartografias de mundos até então invisíveis? Trata-se de uma criação que se torna viável mediante o encontro entre o pesquisador e o campo que o olhar narrativo, geográfico e cartográfico institui como campo de descobertas e representações. (6) Com este intuito, foi organizado o livro “Narrativas, Geografias e Cartografias: para viver é preciso espaço e tempo”, composto por 43 artigos, em 1300 páginas, integrando dois volumes. É um incrível mosaico que reflete uma geografia viva, plural, múltipla e atual, uma geografia dinâmica dos espaços vivos e inquietantes. Um olhar geográfico que evidencia por meio das representações os grupos humanos. Uma cartografia sensível e muito particular, que proporciona desvelar relações espaciais visíveis e invisíveis, implícitas. E essas cartografias constituem-se em representações que constroem narrativas e geografias. Sob este prisma, quem é Salete Kozel Teixeira? Uma professora e pesquisadora inquieta e apaixonada pelo inusitado... por desvelar as facetas do espaço geográfico e as especificidades do LUGAR ... nuances e encantos ... “a alma do lugar” que dá sentido à nossa existência. REFERÊNCIAS AMARAL, G. G., KOZEL, S. Geografia da Re-existência: conhecimento, saberes e representações geográficas na educação escolar indígena do povo OroWari-RO. Porto Velho: Temática Editora, 2019. BRASIL (MEC). 1971. Lei 5692/71. BRASIL (MEC) 1998. PCN’s. CARDOSO, J. A.; WESTPHALEN, C. Atlas Histórico do Paraná. 2. ed. Curitiba: Chain, 1986. COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ. Colonização e Desenvolvimento do Norte do Paraná. Publicação comemorativa do cinquentenário da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. São Paulo: Editora Ave Maria, 1975. DINIZ, A. et al. (orgs.) Metamorfoses possíveis compartilhadas: Leituras em Geografia Cultural. Belo Horizonte: Editora Grupo Editorial Letramento, 2019. DURKHEIM, E. Sociologia e Filosofia, Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1970. ESTÉS, C. P. A ciranda das mulheres sábias. Ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Tradução Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 2007. FILIZOLA, R. KOZEL, S. Didática de Geografia - Memórias da Terra - o Espaço Vivido. São Paulo: SP, Editora FTD, 1996, 110 p. KOZEL, S. Produção e reprodução do espaço na escola: o uso da maquete ambiental. Revista Paranaense de Geografia – AGB - Seção Curitiba - PR (4) pp. 28-32, 1999. KOZEL T. S.; NOGUEIRA, A. B. A geografia das representações e sua aplicação pedagógica: contribuições de uma experiência vivida. Revista do Departamento de Geografia. FFLCH-USP. São Paulo: Humanitas, n.13, p. 239-257, 1999. KOZEL T. S. Das Imagens às Linguagens do geográfico: a Curitiba “Capital ecológica”. Tese Doutorado. FFLCH-USP, São Paulo, 2001. KOZEL, S. As representações no geográfico. In: MENDONÇA, F.; KOZEL, S. (orgs.) Epistemologia da geografia contemporânea. Curitiba: Editora da UFPR, 2002, 2ª edição em 2004. KOZEL, S. Educar “ambientalmente correto”: desafio ou simulacro para a sociedade consumista do século XXI?”. In: Revista de Estudos Universitários (2), v. 30, jun., Sorocaba, SP: UNISO, 2004, pp. 39-55. KOZEL, S. Comunicando e Representando: Mapas como construções socioculturais. In: SEEMANN, J. (org.). A Aventura cartográfica, Perspectivas, pesquisas e reflexões sobre a cartografia Humana. Fortaleza, CE: Expressão Gráfica Editora, 2005. KOZEL, S. Mapas mentais - uma forma de linguagem: perspectivas metodológicas. In: KOZEL, S. et al. (orgs). Da percepção e cognição à representação: Reconstruções teóricas da geografia cultural e humanista. São Paulo: Ed. Terceira Margem, 2007, p. 114-138. KOZEL, S. Das “velhas certezas” à (Re) significação do geográfico. In: DANTAS da SILVA, A. A.; GALENO, A. (orgs.). Geografia: Ciência do complexus: ensaios transdisciplinares. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2008, pp. 160-180. KOZEL, S. et al. (orgs.) Expedição Amazônica: Desvendando espaço e representações dos festejos em comunidades amazônicas. “A festa do boi-bumbá: Um ato de fé”. Curitiba: SK Editora, 2009. KOZEL, S.; SOUZA, L. F. Parintins, que espaço é esse? Representação espacial sob a ótica do morador e do visitante. In: KOZEL, S. et al. (orgs.). Expedição Amazônica: Desvendando espaço e representações dos festejos em comunidades amazônicas. “A festa do boi-bumbá: Um ato de fé”. Curitiba: SK Editora, 2009, pp. 117-143. KOZEL, S. Um panorama sobre as geografias marginais no Brasil. In: HEIDRICH, A. et al. (orgs.). Maneiras de ler geografia e cultura. Porto Alegre: Imprensa Livre: Compasso, lugar, cultura, 2013, v.1, p. 12-27 (documento eletrônico). KOZEL, S.; FEITOSA, L. Contribuição de Paul Claval à Geografia Brasileira. In: ALMEIDA, M. G.; ARRAIS, T. A. (orgs.). É geografia é Paul Claval. Goiânia: Editora FUNAPE/UFG, 2013. KOZEL, S.; GIL FILHO, S. F. Rememorando a trajetória...10 anos de NEER. In: MONTEIRO,C.D. et al. (Orgs.). Os outros somos nós - NEER (2006-2016). 1. ed. Timburi, SP: Editora Cia. do ebook, 2017, v. 1. KOZEL, S. (autora e organizadora). Mapas mentais: Dialogismo e Representação Curitiba: Editora Appris, 2018. KOZEL, S. Emoções em vôo nas paisagens culturais: a paisagem emocional na perspectiva de Andreotti. In: DINIZ, A. M. (org.). Metamorfoses possíveis compartilhadas: Leituras em Geografia Cultural. Belo Horizonte: Editora Grupo Editorial Letramento, 2019 (eletrônico). KOZEL TEIXEIRA, S. Das Imagens às Linguagens do geográfico: Curitiba, a “Capital Ecológica”. Curitiba: Ed. UFPR, 2018. KOZEL TEIXEIRA, S. Representação e ensino: aguçando o olhar geográfico para os aspectos didático-pedagógicos. In: SERPA, A. (org.) Espaços culturais: vivências, imaginações e representações. Salvador: EDUFBA, 2008. LIMA, S. T. Análise crítica das representações cartográficas nos livros didáticos de 1º e 2º graus. Boletim Paulista de Geografia - AGB-SP (70), São Paulo, 2º sem. 1991, pp. 53-64. LIMA, S. T. Dinâmica de ocupação e uso do solo no Vale do Ribeirão Suraquá em Paraiso do Norte, PR. Monografia de Especialização. UEM, Maringá, 1987. LIMA, S. T. O processo de capacitação docente e o ensino de geografia: angústias e reflexões. Dissertação Mestrado. FFLCH - USP. São Paulo, 1993. MENDONÇA, F; KOZEL, S.; (ORGS.) Elementos de Epistemologia da geografia contemporânea. Curitiba: Editora da UFPR, 2002, com reimpressão da 2ª edição em 2004. MONBEIG, P. A zona pioneira do Norte do Paraná. In: Associação dos Geógrafos Brasileiros. AGB, n. 3, Ano 1, São Paulo: 1935, pp. 221 a 236. NAPOLITANO, M. História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2016. MOSCOVICI, S. Des Représentations colletives aux représentations sociales. In: JODELET, D. et al. Les représentations sociales. Paris: PUF, 1989. MULLER, N. L. Contribuição ao estudo do norte do Paraná. Bol. Paulista de Geografia, (22), pp. 55-95, 1959. PENCK, W. (1953). Morphological analysisof land forms: a contribuition tophysical geology. London: Macmillan, 420 p. REGO, N.; KOZEL, S.; AZEVEDO, A. F. (orgs) Narrativas, Geografias e Cartografias: para viver é preciso espaço e tempo. Porto Alegre: IGEO, Editora Compasso, 2020 (eletrônico). ROMANCINI, S. R.; et al. (orgs.). As representações culturais no espaço: Perspectivas contemporâneas em Geografia. Porto Alegre: Editora Imprensa Livre, 2015 (eletrônico). SILVA, T. R. N. da; ARELANO, L. R. G (1982). Orientações legais na área do currículo, nas esferas federal e estadual a partir da lei 5692/71. In: Caderno CEDES, n. 13, Currículos e programas: como vê-los hoje? 4. ed. Campinas: Papirus, 1991. TEIXEIRA, S. K. Subsídios ao conceito espontâneo em localização espacial e o ensino da geografia. Revista Ra’E Ga – O espaço geográfico em análise (1). UFPR, Departamento de Geografia, Curitiba, PR: Ed. Tec Art, 1997, pp. 61-74. TEIXEIRA, S. K. Ensinar geografia no terceiro milênio. Como? Por quê? Revista Ra’E Ga – O espaço geográfico em análise (2). Ano II, 1998, UFPR, Departamento de Geografia, Curitiba, PR: Ed. Tec Art, 1998, pp. 141-151. WESTPHALEN, C.; BALHANA, A.; PINHEIRO MACHADO, B. História do Paraná. Curitiba: Grafipar, 1969. NOTAS 1 Ato Institucional Número Cinco (AI 5) foi emitido pelo Presidente Artur da Costa e Silva, em dezembro de 1968. Forma de legislação durante o regime militar, resultando na perda de mandatos das pessoas contrárias ao regime militar. 2 PENCK, W. (1953) Morphological analysisof land forms: a contribuition tophysical geology. London, Macmillan, 420 p. 3 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÈDIO. Relatora Conselheira Guiomar Namo de Melo. Parecer CEB 15/98, aprovado em 01/06/98 4 DURKHEIM, E. Sociologia e filosofia, Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1970. MOSCOVICI, S. Des Représentations colletives aux représentations sociales. IN: JODELET, D. et al. Les représentations sociales. Paris: PUF. 1989. 5 KOZEL, S.; GIL FILHO, S. F. Rememorando a trajetória...10 anos de NEER. In: OS OUTROS SOMOS NÓS - NEER (2006-2016). 6 Narrativas, Geografias e Cartografias: para viver é preciso espaço e tempo. Porto Alegre, IGEO, Editora Compasso, 2020. ROGERIO HAESBAERT DA COSTA MÚLTIPLOS TERRITÓRIOS DE MEMÓRIA Rogério Haesbaert SÍNTESE BIOGRÁFICA PROPOSTA: 1- DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO HISTÓRICO Composição familiar: terceiro de 4 irmãos (dois casais), pai (José Flores da Costa) descendente de portugueses, mãe (Eulita Haesbaert da Costa) descendente de alemães Trajetória espacial/residencial: 1958- São Pedro do Sul (RS); 1958-1963- São José do Louro (zona rural vizinha à então vila de Mata); 1964-1967: Mata (emancipada de General Vargas em 1965); 1967-1969: General Vargas (denominada São Vicente do Sul em 1969); 1970-1982: Santa Maria (5 bairros diferentes); 1982-atual (exceto 1991-92 e 2002-03): Rio de Janeiro (bairros: Santa Tereza, Fátima, Copacabana, Botafogo); 1991-92: Paris; 2002-2003: Londres. Percurso estudantil pré-universitário: 1965-1966: Grupo Escolar de Mata; 1967-1969: Escola Estadual Borges do Canto/São Vicente do Sul; 1970-71: Colégio Estadual Coronel Pilar/Santa Maria; 1972-1975: Colégio Estadual Profa. Maria Rocha/Santa Maria (ensino profissionalizante: Tradutor e Intérprete – 1973-1975); Atuação profissional: auxiliar de empacotador – Lojas Riachuelo (Santa Maria, 1972); atendente no Crédito Educativo da Caixa Econômica Federal (UFSM, 1978-79); professor de Geografia: curso preparatório LT (Santa Maria, 1977); Fac. Ciências e Letras Imaculada Conceição (Santa Maria, 1980-82); UFSM-curso de férias (Santiago, 1981 e 1982); Colégio Pentágono Bahiense (Rio de Janeiro, 1983-84); Colégio Andrews (Rio de Janeiro, 1984-1985); Secr. Educ. RJ (Rio de Janeiro, 1985); PUC (Rio de Janeiro, 1985-87); Col. Brig. Newton Braga/Min. da Aeronáutica (Rio de Janeiro, 1985-87); Universidade Federal Fluminense (Niterói, Graduação: 1985-2019, Pós-Graduação: 1999-atual); Universidade de Buenos Aires (Bs. Aires, Pós-Graduação: 2017-atual); professor visitante nas universidades: Paris VIII, Toulouse-Le Mirail, UNAM-CRIM (Cuernavaca), Colegio de Michoacán (La Piedad), Politécnica Salesiana (Quito) e Antioquia (Medellín) 2- PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA A GEOGRAFIA BRASILEIRA - Datas e locais de constituição da carreira na Geografia: 1976-1979: Licenciatura em Geografia / 1977-1980: bacharelado, Universidade Federal de Santa Maria; 1982-1986: Mestrado em Geografia, UFRJ; 1990-1995: Doutorado em Geografia Humana, USP (1991-92: estágio doutoral no Instituto de Ciências Políticas-Paris); 2002-2003: Estágio pós-doutoral na Open University, Milton Keynes, Inglaterra. - Pesquisas expressivas realizadas que marcaram o perfil acadêmico: A Campanha Gaúcha e o resgate da identidade regional (mestrado); Gaúchos e Baianos: modernidade e desterritorialização (doutorado); O mito da desterritorialização (pós-doutorado); Globalização e regionalização – regiões transfronteiriças entre países do Mercosul; Sociedades de In-segurança e des-controle dos territórios; Território como categoria da prática numa perspectiva latino-americana. - Autores de que recebeu influência: geógrafos: Bertha Becker (orientadora de mestrado; organização de livro e evento); Milton Santos (professor no mestrado e doutorado; pesquisa no mestrado); Jacques Lévy (supervisor em estágio doutoral); Doreen Massey (supervisora em estágio pós-doutoral; tradução de livro, eventos); não-geógrafos: Gilles Deleuze e Felix Guattari (livro “O mito da desterritorialização”); Michel Foucault e Giorgio Agamben (livro “Viver no Limite”): pensadores descoloniais latino-americanos (livro “Território e Descolonialidade”). - Algumas parcerias de pesquisa ao longo da carreira – Brasil: Lia Machado (Faixa de Fronteira – Min. da Integração Nacional); Carlos Walter Porto-Gonçalves (livro “A nova desordem mundial”); Ana Angelita Rocha (biografia de Doreen Massey); Sergio Nunes e Gulherme Ribeiro (livro “Vidal, Vidais”); Fania Fridman (grupo CLACSO e livro Escritos sobre espaço e história); Frederico Araújo (livro Identidades e territórios); Argentina: Perla Zusman (UGI e livro “Geografías Culturales”); Chile: Pablo Mansilla (Univ. Católica de Valparaíso, projeto de pesquisa). - Livros marcantes da carreira: RS: Latifúndio e identidade regional (P. Alegre: Mercado Aberto, 1988); Des-territorialização e identidade: a rede “gaúcha” no Nordeste (Niterói: EdUFF, 1997); Territórios Alternativos (Niterói e São Paulo: EdUFF e Contexto, 2002); O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004, editado em espanhol pela ed. Siglo XXI); Regional-Global: dilemas da região e da regionalização na Geografia contemporânea (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010; editado em espanhol pela CLACSO/UBA em 2019); Viver no limite: território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contenção (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014; editado em espanhol em 2020 pela ed. Siglo XXI); Território e Descolonialidade: sobre o giro (multi)territorial/de(s)colonial na América Latina (Buenos Aires: CLACSO, 2021) 3- AVANÇOS TEÓRICOS E CONTROVÉRSIAS - Maiores contribuições conceituais e metodológicas realizadas: debates sobre região/regionalização (rede regional e região como arte-fato), regionalismo e identidade regional/territorial; território, multi/transterritorialidade e des-territorialização, contenção e exclusão/precarização territorial; debate modernidade-pós-modernidade; influência, na Geografia, das filosofias (pós-estruturalistas?) de Deleuze e Guattari, Foucault e Agamben; pensamento de Doreen Massey; pensamento descolonial na Geografia latino-americana. - Principais controvérsias, críticas e embates sobre a produção científica realizada: debate sobre território para além de suas perspectivas estatal (incluindo as noções de multi/transterritorialidade e corpo-território) e funcional (incluindo a dimensão simbólica do poder) – criticado por Antonio Carlos Robert de Moraes; desterritorialização como precarização territorial, território e região como categorias de análise, da prática e normativas; influências “pós-modernas” e/ou pós-estruturalistas – debate com Blanca Ramírez (México) sobre o estruturalismo de “O mito da desterritorialização” Decidi aproveitar a oportunidade deste convite para fazer um balanço autobiográfico de trajetórias que, em maior ou menor grau, formaram minhas múltiplas geografias vividas. Não se trata exatamente de uma “egogeografia”, nos moldes propostos por Jacques Lévy pois, como afirmam Yann Calbérac e Anne Volney, num número especial da revista “Géographie et Cultures”: Para além da (auto)bio-geografia de geógrafo que visa, pelo relato de vida, compor uma figura de pesquisador(a) ao ancorá-lo nos lugares em que a carreira se desdobra, ou além da abordagem egogeográfica inspirada por Jacques Lévy, que pretende construir a autoridade de um(a) autor(a) graças a um retorno sobre sua produção científica, este número [estas memórias, no meu caso] convida[m] a explorar as múltiplas relações entre o ego (dimensão identitária do sujeito epistêmico) e a geografia (conjunto de conhecimentos e de métodos) (Calbérac e Volnev, 2015). Redigir um memorial acadêmico (como fiz em 2015 para concurso de professor Titular) ou como, neste caso, um conjunto múltiplo de memórias, numa “autobiografia”, não é tarefa fácil, pois nossa lembrança é sempre seletiva e nem sempre aquilo que nos parece mais relevante – ou “crítico” – o seria sob o olhar de um outro. Realizar um balanço e uma análise crítica de nossa contribuição é ainda mais temerário. Corre-se todo o tempo o risco da falta e/ou do egocentrismo. Nossas trajetórias são moldadas não apenas pelo que é possível transpor em relatórios burocráticos, mas se revestem da dimensão do vivido que, muitas vezes, é a única capaz nem tanto de explicar, mas, pelo menos, de fazer compreensíveis nossas opções e feitos, não apenas no âmbito pessoal mas também na esfera mais estritamente profissional-acadêmica. Da mesma forma que as categorias analíticas que racionalizamos não podem ignorar seu uso enquanto categorias da prática, no senso comum cotidiano (pois é com elas que, em última instância, agimos), também devemos pensar nossos caminhos numa íntima associação entre construção intelectual e práticas da geografia vivida. Talvez nem tanto mas um pouco concordando com Clarice: É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei-o bem, mas não posso dizer. Sobretudo tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar não só não exprimo o que sinto como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ou pelo menos o que me faz agir não é o que eu sinto, mas o que eu digo. (Lispector, 1943:11) Por isso, acredito que somente um conjunto de memórias onde se cruzem sensibilidade e razão, experiência concreta e reflexão teórica, é capaz de revelar a riqueza labiríntica desses percursos. Com o cuidado, sempre, para não cair nem no esquecimento que ignora pontos e personagens significativos, nem na pretensão e/ou na arrogância que enaltecem exageradamente algumas de nossas realizações. Romper com a dicotomia entre o subjetivo e o objetivo, a emoção e a razão, pois essa ordenação de memórias permite – ou melhor, poderíamos dizer, “exige” – a sua permanente imbricação é, portanto, um dos grandes méritos de uma autobiografia ou mesmo de um memorial. Como se trata sobretudo de uma tarefa individual, podemos lembrar o que nos afirma o saudoso geógrafo e amigo Maurício Abreu em seu artigo “Sobre a memória das cidades”: O espaço da memória individual não é necessariamente um espaço euclidiano. Nele as localizações podem ser fluidas ou deformadas, as escalas podem ser multidimensionais, e a referenciação mais topológica do que topográfica (ABREU, 1998:83). (1) Nesse sentido a literatura e seus escritores também podem ser acionados para nos recordar que não é nada fácil, e mesmo contraproducente, buscar “linhas” ou regularidades numa história pessoal, ainda que pelo viés acadêmico. O grande Guimarães Rosa, por exemplo, nos alerta que “as lembranças da vida da gente se guardam em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimentos, uns com os outros não se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância” (2) . Isso nos faz lembrar também da leitura genealógica foucaultiana, que privilegia as rupturas e as descontinuidades. Quando se trata de memória, fica ainda mais difícil encontrar um fio condutor que demonstre a continuidade da lembrança. Ela é feita em pedaços, e somente o menos importante é que permite falar em continuidade. O novo efetivamente emerge nos momentos de descontinuidade com o que já estava concebido, repetitivamente dado. Talvez pudéssemos pensar também que na própria vida concreta os momentos de fato relevantes são aqueles que rompem com as continuidades e estabelecem rupturas. Nesse sentido, o novo, o que inaugura uma nova etapa ou descoberta, só pode brotar do sentido do “fazer diferença” que representam determinados momentos – e lugares, eu acrescentaria. Quem/aquilo que “faz diferença” em nossas vidas é quem/aquilo que nos instiga à mudança, rumo a outras perspectivas de mundo. E quem faz diferença, obviamente, é o Outro. Daí uma marca que posso identificar, desde agora, na minha trajetória: a busca do Outro que eu fui buscar, através da Geografia, pela diferença que fazem os nossos múltiplos espaços de vida – relembrando imediatamente a noção de espaço de Doreen Massey como a esfera da multiplicidade. Daí a proposta de intitular este relato “Múltiplos territórios de memória”. São muitos os referentes espaciais que moldam nossas trajetórias e que permitem um processo de des-reterritorialização plural e constante. Como afirma Assmann, pesquisadora na área de estudos culturais: "Após intervalos de suspensão da tradição, peregrinos e turistas do passado retornam a locais significativos para eles, e ali encontram uma paisagem, monumentos ou ruínas. Com isso ocorrem “reanimações”, mas quase tanto o lugar reativa a recordação quanto a recordação reativa o lugar (Assmann, 2011)." Com Assmann, deduz-se que lugares viram quase “sujeitos” pois, ao serem observados, podem instigar determinadas sensibilidades e ações. Assim, estamos bem acompanhados quando identificamos, em espaços do nosso passado – ou do passado que se condensa no presente (lembrando a “acumulação desigual de tempos” de Milton Santos), a força de determinados referenciais concretos que, imbuídos de um profundo simbolismo, podem provocar em nós uma espécie de atualização de viagem no tempo. Gostaria de tecer primeiro as linhas gerais e as bases primeiras do ambiente vivido e familiar que permitirão, ao longo do percurso, transmitir um pouco da minha interpretação pessoal sobre vínculos importantes que possibilitaram construir a condição de geógrafo. Geógrafo que se envolveu com problemáticas e conceituações tentando pensá-las com um olhar de algum modo próprio, o que resultou em algumas contribuições e na inserção em debates mais amplos em nível da Geografia brasileira e, hoje, também, estrangeira, especialmente a latino-americana. Mas há um roteiro proposto e, com base nele, elaborei uma síntese inicial, esperando não esquecer itens, muitos deles desdobrados também ao longo do texto. Em resumo, parto da ideia de ruptura geográfica ao longo da trajetória intelectual e de vida para delinear, de saída, alguns momentos fundamentais de mudança – ou, em termos mais especificamente geográficos, de des(re)territorialização – a saber: 1. A mudança do interior semirrural do Rio Grande do Sul (morei em zonas rurais e duas pequenas cidades, de 1.500 e 3.000 habitantes) para o polo regional que é Santa Maria, centro militar, estudantil e religioso. Essa mudança, aos 12 anos, representou uma grande abertura intelectual. Numa leitura simplista, poderia afirmar que se tratou de um salto do local para o regional – como cidade universitária, Santa Maria também me abria os olhos para as escalas nacional e mundial, auxiliado por meu radinho de ondas curtas e por meus correspondentes estrangeiros e de diversas cidades do Brasil. 2. A saída de Santa Maria, aos 23 anos, para realizar o mestrado no Rio de Janeiro, e aí permanecer – costumo dizer que saí direto do interior do Rio Grande do Sul para a megalópole, sem “estágio” em metrópole; toda uma alteração de modo de vida – e de identidade – se verificou aí, relativizando o regional e afirmando, definitivamente, o nacional (de nuança carioca). 3. A residência de um ano em Paris, durante o chamado doutorado-sanduíche, levou-me a desenvolver uma outra perspectiva sobre o Brasil e, pela primeira vez, fez-me confrontar com uma identidade latino-americana. Uma década depois, com o pós-doutorado, somou-se o ano de residência em Londres, cidade ainda mais global e cosmopolita, contribuindo para mudar uma perspectiva sobre o mundo, numa interação entre suas múltiplas escalas. Nasci no final dos anos 1950 (31 de março de 1958) no interior semirrural do Rio Grande do Sul – a pequena São Pedro do Sul, da qual não guardei lembranças, pois com poucos meses de vida minha família (então com um casal de irmãos) mudou para a zona rural de Mata, vila que só se emanciparia de General Vargas (depois denominada São Vicente do Sul) em 1965. Ali nasceu outra irmã – somos uma família de quatro irmãos – e foi onde passei meus primeiros cinco anos de vida. Uma vida marcada pela atividade no campo e pelo contato com a grande família de avôs, tios e primos Haesbaert que viviam na localidade chamada São José do Louro . (3) Enquanto a família de meu pai era descendente de portugueses que povoaram a chamada Campanha Gaúcha, minha mãe descendia de migrantes alemães – meu tataravô (Johan Peter Haesbaert), proveniente de Hamburgo, na Alemanha, foi o primeiro pastor luterano na fundação de Novo Hamburgo. A união de meus pais revela um pouco a integração entre Serra (“Colônia” ítalo-germânica, minifundiária e agrícola) e Campanha (de herança luso-espanhola, latifundiária e pastoril) que marcou a história do Rio Grande do Sul. Esse legado migrante e esse encontro de geografias marcaria também a minha trajetória acadêmica até o doutorado, e ajuda a compreender um pouco porque região, identidade, território e des-territorialização estiveram sempre no centro de minhas investigações. É interessante perceber que, desde pequeno, sem uma razão clara, até porque estava envolvido concretamente num ambiente geográfico bastante limitado, sentia-me atraído por espaços distantes e desde muito cedo a curiosidade por saber o que se passava em outros cantos do mundo se revelou muito forte, o que incluía o meu inusitado interesse por mapas. Aos seis anos de idade, mesmo morando na zona rural, meus parentes e algumas visitas se divertiam me convidando a subir num banquinho e “discursar” sobre cidades e países distantes. Um tema recorrente era o Rio de Janeiro e o Pão de Açúcar, conhecido através de capas de “folhinhas”, os calendários da época. A partir dos sete anos passei a pedir como presente de aniversário e Natal lápis de cor e cadernos com paisagens na capa para neles (re)desenhar mapas e descrever diferentes regiões do mundo. Dos nove para os dez anos cheguei a redigir, manuscrito, um “almanaque mundial” de países para a biblioteca da escola. É curioso relembrar o quanto, na infância e adolescência, a ansiedade (às vezes até a angústia) me tomava na busca por uma alternativa a um mundo que muitas vezes me parecia por demais acanhado e opressor. Minha inusitada paixão pelos mapas e descrições de lugares e a leitura/escrita como “diversão predileta” me tornavam de certa forma um estranho nesses ambientes onde transitava, lugarejos cuja condição urbana – ou urbanidade – era ficção dentro da alargada definição político-administrativa de urbano como toda sede de distrito (“vila”) ou município (“cidade”), independente da população. No interior do Rio Grande do Sul, marcado por uma forte cultura de raízes patriarcais e machista, as barreiras do controle social eram ainda mais cerceadoras. Isso me leva a imaginar que também podemos discutir uma espécie de desterritorialização em nível pessoal, mais subjetiva ou psicológica, quando também individualmente nos vemos como que descontextualizados do espaço-tempo em que vivemos e ao qual, de início sem nenhuma alternativa de escolha, fomos atrelados. A mudança da zona rural – São José do Louro – para a vila de Mata veio acompanhada da minha entrada na única escola local, o “Grupo Escolar”. Embora diminuta, sem nenhuma rua calçada, a vila – que se emanciparia no ano seguinte à nossa chegada – era servida por trem, uma grande atração, que me amedrontava e seduzia ao mesmo tempo. O trem significava a conexão mais vigorosa com o mundo, o vínculo com o desconhecido, a grande abertura para outras geografias. Uma diversão era, do alto da coxilha, contar os vagões do trem; outra, reunir pilhas velhas transformadas em trens deslocados em sulcos pelo chão. A chegada do “P”, o trem de passageiros, mobilizava o vilarejo. Lembro de meu aniversário de seis anos e a coincidência com a dita “revolução”, o golpe militar de 1964. Foi minha primeira viagem de trem, com meu pai, convidado por minha tia e madrinha, que aniversariava um dia antes e que residia em São Pedro do Sul. Viagem de apenas 30 quilômetros, mas que para mim pareceu enorme. Lamentei foi antecipar a volta, todos atentos à “ameaça de guerra” e a mobilização do exército na vizinha Santa Maria, cidade que, na época, dizia-se, abrigava o segundo maior contingente militar do Brasil, dada sua posição geopolítica equidistante das fronteiras então mais sensíveis do país, com a Argentina e o Uruguai. A religiosidade era forte. Fiz a “primeira comunhão” aos 7 anos de idade e compareci a uma reunião convocada pelo pároco com jovens voltados à “vocação sacerdotal”. Para lugarejos rurais ou quase rurais como aquele, o seminário, localizado num centro regional da Campanha, Bagé, era a grande oportunidade para garantir educação gratuita e o prosseguimento dos estudos, já que em Mata só havia “ensino primário”, até a atual quinta série. Lembro da enorme frustração quando o padre me considerou muito criança para decidir sobre o sacerdócio, deu-me um livreto ilustrado sobre a vida no seminário e mandou-me de volta para casa. Minha família era marcada pela instabilidade financeira e pela des-reterritorialização: ao longo de meus primeiros 20 anos de vida mudamos 10 vezes, numa média de uma mudança de residência a cada dois anos. Com isso, mudava também a escola, e os transtornos eram grandes. Apenas para um exemplo, ao mudarmos de São Vicente do Sul (então chamada General Vargas) para Santa Maria eu havia estudado francês como segunda língua e fui obrigado, nas férias, por minha conta, a estudar inglês para poder acompanhar os estudos. Ao nos mudarmos de Mata para São Vicente do Sul, meus irmãos mais velhos que, para estudar, moravam com os avós em Santa Maria, tiveram uma enorme perda ao trocarem uma excelente escola pública pelo único “Ginásio” de São Vicente do Sul. Ali, mesmo no início da adolescência, estudando à noite, eles começaram a trabalhar – minha irmã como balconista numa livraria e meu irmão vendendo passagens na estação rodoviária. Eu, mesmo entre nove e dez anos, também consegui um trabalho como vendedor de revistas a domicílio. Em Santa Maria, aos 14, teria meu primeiro emprego com carteira assinada, como auxiliar de empacotador. Uma grande frustração de meu pai era eu e meu irmão não nos envolvermos com ele nas “lides campeiras”. Autoritário e com um severo e muito próprio senso de justiça, meu pai era um típico representante da cultura gaúcha pastoril, e nossa reação, como que negando a vida do campo, ele muito criticou. Relutou muito em mudar para uma cidade maior para que pudéssemos estudar. Minha mãe, ao contrário, sempre gostou de ler e estudar, mas não teve a oportunidade de ir além da terceira série (dizia que havia aprendido na escola rural tudo o que a professora sabia). Ela é quem nos estimulava para que buscássemos outro caminho. Assim, foi graças ao auxílio dos filhos formados (meu irmão é médico e minha irmã mais velha, como eu, professora universitária) que meus pais tiveram uma velhice mais tranquila. Não eram raras as reações enérgicas e mesmo violentas de meu pai a uma resposta contrária a comandar uma carreta e uma junta de bois ou a colocar os arreios e fazer um percurso (que ele nos forçava) a cavalo. Aos seis anos eu já tinha a tarefa, todas as tardes, de buscar o terneiro no campo, o que pra mim representava uma provação, pois era comum o bezerro sair em disparada e eu, para a indignação de meu pai, chegar em casa chorando porque não havia logrado o intento. Minha identificação, definitivamente, não era com o ritmo e a tranquilidade do campo que meu pai tentava, a muito custo, nos impor. Preferia a agitação dos centros urbanos – mesmo que uma cidade “de verdade”, como a vizinha Santa Maria, fosse apenas alcançada nas férias a partir de uma muito esperada viagem de fusca proporcionada por um tio que ali residia. Em casa, inovações tecnológicas como luz elétrica e rádio só chegariam por volta dos sete anos de idade. Desenhava-se assim, gradativamente e com muita dificuldade, uma nova geografia, para mim muito mais múltipla e estimulante. O professor de Geografia do 1º ano do então Ginásio (hoje correspondente à 5ª série, pois na 4ª realizei o então temido “exame de admissão”) convidou-me para um concurso em plena praça de São Vicente do Sul durante a Semana da Pátria, onde até o prefeito e o pároco locais formulavam perguntas. Ganhei como prêmio um dicionário de quatro idiomas ilustrado com mapas e entrada grátis para o cineminha local por dois anos. Lembro que isso me fez ficar muito conhecido, mas a sensação era a de ser percebido como alguém “fora do lugar”, que vivia na biblioteca ou enfurnado nos livros. A paixão pela Geografia continuou se fortalecendo e a nova mudança, para Santa Maria, cidade média de mais de cem mil habitantes à época, sede da primeira universidade pública do interior do país, fundada em 1960, representou a primeira grande ruptura na minha trajetória de vida. Ali também, logo após a chegada, participei de vários concursos sobre Geografia (através de um programa de rádio chamado “Música e Cultura”, cujo prêmio era um determinado valor para gastar numa loja de roupas da cidade). Foi aí que me deparei com a clássica Geografia dos livros didáticos de Aroldo de Azevedo, que eram indicados para leitura pelo programa. Logo depois da chegada a Santa Maria, criei o “Clube Amigos da Quadra” entre os vizinhos de quarteirão e passei a organizar um jornalzinho mimeografado, que tinha até “patrocinador” (um dos vizinhos que trabalhava numa concessionária de automóveis). A partir daí comecei a pensar se faria também o vestibular para Comunicação Social – “também”, porque para Geografia nunca tive dúvida. Cursar “Tradutor e Intérprete” como ensino profissionalizante no “Científico” (atual ensino médio) também foi mais um estímulo para escrever. Acabei publicando algumas crônicas no diário “A Razão”, todas elas de natureza geográficas. O quanto um ambiente social e geográfico representa condição básica na trajetória de quem pertence às classes subalternas às vezes só é devidamente percebido quando nos deparamos com algumas situações concretas. Algum esforço a nível individual, é claro, deve ser considerado, mas, além do fato de ele obrigatoriamente ser muito mais árduo no caso dos subalternos, as condições do que, simplificadamente, denominamos “ambiente social e geográfico” é fundamental, sobretudo no que se refere às oportunidades favorecidas pelo Estado em termos de ensino público de qualidade e empregos e/ou bolsas como garantia de alguma autonomia financeira. Na impossibilidade de realizar grandes viagens, eu acabava viajando por mapas e enciclopédias. Durante um tempo passava todos os sábados na biblioteca pública de Santa Maria. Numa família grande, de 14 tios e inúmeros primos, felizmente pude contar também com a ajuda de parentes distantes: uma prima de Criciúma, em Santa Catarina, patrocinou minha primeira viagem para conhecer o mar, sozinho, aos 11 anos (com troca de ônibus em Porto Alegre); um primo que se aventurou a trabalhar numa companhia de navegação no exterior e foi parar na Suécia pagava os fascículos de minha coleção de Geografia Ilustrada e, de vez em quando, me presenteava pelo correio com exemplares (muito esperados) da National Geographic. Nesse circuito é importante acrescentar ainda, mais tarde, um presente fundamental na minha formação: no início do ensino superior, escrevendo ao IBGE, fui brindado com uma coleção de dezenas de exemplares do Boletim Geográfico e da Revista Brasileira de Geografia. Outra fonte básica de informação e que me proporcionou “viajar” por lugares muito distantes, fazendo uma espécie de conexão local-global pré-internet, foram os correspondentes postais. Depois de uma argentina que conheci na rodoviária de São Vicente do Sul e que me enviava folhetos da agência de turismo em que trabalhava, de uma chilena de Valparaíso (a partir de anúncio em diário de Porto Alegre, e que só recentemente fui conhecer pessoalmente), expandi amplamente o número de correspondentes ao colocar anúncio numa revista do Rio de Janeiro destinada ao público jovem e onde propunha “trocar selos, mapas e postais”. Cheguei a receber mais de 100 cartas e mantive cerca de 30 correspondentes durante vários anos, alguns deles do exterior, como Canadá (que depois me visitou em Santa Maria), Alemanha (que depois visitei em Nuremberg) e México. Essa foi a primeira forma que encontrei para, de algum modo, partilhar múltiplas territorialidades, conhecendo outras culturas e preparando o terreno para contatos que puderam se materializar, tempos depois, com viagens efetivas pelo Brasil e pelo mundo. Em síntese, essa foi minha “entrada”, na infância e na adolescência, no universo geográfico dos mapas e da descrição de lugares, regiões e países, que me levou a desenvolver uma grande admiração pela Geografia – nem tanto a “ciência geográfica”, que eu ainda mal conhecia, através de mapas e descrições elementares, mas a geografia cotidiana, vivida, que tanto afeta o senso comum através da simples curiosidade por saber o que se passa em outros cantos do mundo e do quanto é rica – e desigual – a diferenciação do ecúmeno terrestre. Essa multiplicidade de territórios que, concreta ou virtualmente, iam se sobrepondo na minha trama de vida, sem dúvida ajuda a entender a força futura de minha percepção da multi ou mesmo transterritorialidade de tantos grupos sociais – alguns diriam até, da condição multiterritorial inerente à condição humana. Condição essa que, dependendo da situação econômica e cultural, não só permite vivenciar, concomitantemente, múltiplos territórios, como também oferece distintas – e profundamente desiguais – possibilidades de transitar entre territórios diferentes. De algum modo, desde pequeno, desconfortável com a territorialidade que me era imposta, estive em busca de um outro espaço, e esse outro, eu descobriria ainda na adolescência, na verdade, também era parte de mim mesmo. A desterritorialização que vivíamos com tanta troca de residência era experimentada também subjetivamente: meu território era múltiplo, e Santa Maria seria apenas o começo de uma longa trajetória de busca e trânsito por múltiplas territorialidades. A Geografia que recebi em minha formação básica na Universidade Federal de Santa Maria, na segunda metade dos anos 1970, em pleno ensaio para a saída da ditadura militar, foi basicamente uma Geografia tradicional e amplamente descritiva. Mas, pautado numa herança “enciclopédica” (ao memorizar as capitais, o desenho e características dos diferentes países do mundo), eu não condenava essa Geografia. O que me indignava eram professores que, como a esposa e a filha do reitor (professoras de Geografia medíocres que, por nepotismo, se tornaram docentes universitárias), usavam uma descrição tão elementar e inútil que suas aulas se transformavam num exercício de paciência e comiseração. “Virou lenda” a leitura em sala de aula, durante mais de um mês, da carta de Pero Vaz de Caminha na disciplina de Geografia do Brasil. Alguns professores, entretanto, como os de Geomorfologia (o geógrafo e exímio desenhista Ivo Muller Filho) e Geologia (o geólogo Pedro Luiz Sartori) foram marcantes. A tal ponto que nos dois primeiros anos minha inclinação maior foi pela Geografia Física – até hoje com carga inicial mais forte na maioria dos cursos de graduação. Já no segundo semestre do curso assumi a monitoria de Mineralogia e Petrografia, o que me levou, mais tarde, a ser convidado pelo professor Pedro para um inesquecível trabalho de campo com coleta de amostras de rochas em todo o planalto catarinense, de Chapecó, no oeste, a São Joaquim, no leste do estado (4). Também graças a essa formação uma das primeiras disciplinas que ministrei no ensino superior (na FIC – Faculdade Imaculada Conceição, hoje Universidade Franciscana, em Santa Maria) foi Mineralogia. Um currículo que em nada parece se relacionar com as linhas de pesquisa que segui logo depois, mas que marcou de tal modo minha formação que a isso delego a constante preocupação em não dicotomizar sociedade e natureza, Geografias Física e Geografia Humana. Isso já estava evidente em um de meus primeiros artigos de divulgação, “Pela unidade da Geografia”, publicado no diário Correio do Povo, de Porto Alegre, em 1979; (5) Eram tempos complicados, politicamente turbulentos, com o início da “abertura”, e geograficamente agitados, com a disputa entre uma Geografia quantitativa de matriz neopositivista, dita também pragmática, por suas ligações com o planejamento, e uma Geografia crítica de matriz marxista, recém chegada ao contexto brasileiro. Em Santa Maria, de certo modo uma “periferia distante”, ainda dominada por uma Geografia “tradicional” e descritiva, eu vivia um duplo dilema. Difundida desde o final dos anos 1960 no Brasil, especialmente na UNESP-Rio Claro, no IBGE e na UFRJ (onde ainda em 1982 fui obrigado a fazer provas de Matemática e Estatística para ingressar no mestrado), a chamada Geografia quantitativa só apareceria no final do curso de graduação e a novata Geografia crítica marxista simplesmente, na UFSM, não existia. O ingresso na primeira turma do curso de bacharelado (curiosamente denominado “curso de Geógrafo”, como constava até na pasta vendida pelo Diretório Acadêmico) deu-se após novo exame vestibular, depois de já ter cursado um ano de licenciatura. A conhecida hesitação dos cursos de Geografia, Brasil (e mundo) afora, entre as áreas de Ciências Humanas e Exatas/Naturais chegou ao extremo de colocar-se o curso de bacharelado num Centro (o de Ciências Matemáticas e da Natureza como ocorre, por exemplo, com o curso de Geografia da UFRJ) e o de licenciatura em outro (Filosofia e Ciências Humanas, como na Geografia da USP). O contexto político da época também merece ser comentado, principalmente porque estive envolvido diretamente com a política estudantil, presidindo um Diretório Acadêmico. A politica altamente conservadora do período militar fazia com que a grande maioria do movimento estudantil, principalmente em universidades interioranas como Santa Maria, fosse cooptado pela Arena, o partido governista (e sua fictícia oposição, o MDB, que assegurava a máscara democrática do regime). Durante vários anos experimentei o ocultamento pela mídia do que se passava no país, especialmente para quem vivia no interior e sem acesso às raras mídias de oposição, associado a uma avalanche de publicações governamentais (algumas gratuitas, como a revista “Rodovia”, que eu recebia). Infelizmente só fui adquirir efetiva consciência política através de um radinho de ondas curtas (onde sintonizava programas em português de rádios como Deutsche Welle, Central de Moscou e Rádio Pequim), com alguns correspondentes estrangeiros que enviavam artigos de exilados brasileiros (como Francisco Julião, das Ligas Camponesas, no México) e, já no terceiro ano de universidade, a participação, fundamental, no Congresso Nacional de Geógrafos de Fortaleza em 1978. O fascínio pelas viagens, quaisquer que fossem, por lugares diferentes, faz parte do meu envolvimento, desde a infância, com uma espécie de “heterotopia” que bem mais tarde fui descobrir, primeiro em Foucault, depois em Lefebvre – na verdade este antecedendo àquele em termos de proposição. Para Lefebvre, em sua teoria do “espaço diferencial”, comentada em “A Revolução Urbana”, a heteropia é o “o outro lugar e o lugar do outro, ao mesmo tempo excluído e imbricado” (2004:120) – e que, ele fazia questão de enfatizar, não era representada pela separação, pela segregação que, mesmo lado a lado, distancia, e sim pelos contrastes, superposições e justaposições – uma espécie de multiterritorialidade. Para este autor, as diferenças e a heterotopia, condizente com minha atração pelas cidades, referia-se basicamente ao urbano, pois “as diferenças que emergem e se instauram no espaço não provêm do espaço enquanto tal, mas do que nele se instala, reunido, confrontado pela/na realidade urbana” (2004:117). Como lugar de encontro e sobreposição de diferenças, dirá Lefebvre, “todo espaço urbano teve um caráter heterotópico em relação ao espaço rural” (2004:117) – embora hoje, com as novas tecnologias, nem tanto. Para uma criança e adolescente como eu, morador do campo e de embriões de cidades, as diferenças brotavam de uma apropriação do espaço em que era impossível segmentar a diferença que o próprio espaço dito natural incorporava, “produzia”, e a diferença mais estrita dessa perspectiva urbana lefebvreana. O espaço, em maior ou menor grau de urbanidade, para mim, até hoje, é um “potencializador de diferenças” (ou da multiplicidade, como diria Massey [2008]) – o espaço geográfico, em seu mais amplo sentido, efetivamente, “faz diferença” – ou melhor, pode fazer diferença, dependendo da sensibilidade e do “afeto” (a capacidade de afetar e ser afetado) constituinte da geo-história de cada um de nós. A ida ao III Encontro Nacional de Geógrafos, em Fortaleza, foi outro momento de ruptura muito representativo. A viagem foi realizada com grande dificuldade – consegui dinheiro emprestado com meu avô e tive o apoio de amigos correspondentes ao longo dos quatro dias de percurso. O momento mais aguardado era o do retorno de Milton Santos ao país, depois de muitos anos de uma espécie de autoexílio no exterior. A mesa-redonda que ele dividiu com Maurício Abreu, representante de outra linha teórica, a geografia quantitativa neopositivista de matriz norte-americana, tornou-se até hoje um momento emblemático da Geografia brasileira. Maurício se tornaria depois meu professor no mestrado e um de meus maiores amigos . (6) O Encontro de Fortaleza também me proporcionaria a leitura da cópia clandestina de “A Geografia, isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra”, de Yves Lacoste, fotocopiada e distribuída durante o evento por estudantes da Universidade Federal Fluminense. Com relação à ruptura com a visão tradicional e conservadora de Geografia veiculada pelo curso, ressalto dois fatores principais: meu empenho em participar desses eventos da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), fundamentais na minha formação extracurricular, e o contato com professores externos, alguns convidados especialmente para ministrar módulos de disciplinas do bacharelado que não encontravam docentes no nosso próprio Departamento, como “Geografia Teorética” (um dos nomes equivocados da Geografia quantitativa neopositivista) e “Geografia Aplicada”. A primeira foi ministrada por Dirce Suertegaray, uma de nossas poucas professoras com pós-graduação (nesse caso, mestrado na USP), contratada como colaboradora já que estava vinculada também à Unijuí (universidade desde então reconhecida por posicionamentos críticos). Dirce, que depois foi também diretora da AGB, é hoje uma das mais reconhecidas pesquisadoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. “Geografia Aplicada”, ministrada de forma concentrada, coube aos geógrafos convidados Aluizio Capdeville Duarte e Luiz Bahiana, do IBGE/Rio de Janeiro. Destaque especial teve Aluízio Duarte, responsável depois, via correio, pela orientação de minha monografia de conclusão de curso, relativa à delimitação da área central de Santa Maria. Ele havia realizado pesquisa, referência relevante, sobre a área central do Rio de Janeiro e teve, depois, participação importante no debate que travei sobre a questão regional durante o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com base na herança dos encontros e cursos da AGB, até hoje incentivo muito os estudantes a participarem desses eventos, fundamentais para fortalecer o espírito crítico e estimular a abertura para novos horizontes teóricos. Os encontros e cursos promovidos pela AGB, tanto em nível nacional quanto estadual (a sempre atuante AGB-Porto Alegre), foram, assim, imprescindíveis na minha formação. Foi num desses encontros estaduais, em Caxias do Sul, que tive travei meu primeiro contato pessoal com Bertha Becker, depois minha orientadora de mestrado na UFRJ. Meu grande dilema intelectual na graduação foi que, ao mesmo tempo em que me deparava com autores, principalmente geógrafos ligados ao IBGE e à UNESP de Rio Claro, que abraçavam uma Geografia neopositivista ou quantitativa que eu praticamente desconhecia, também tomava conhecimento da renovação crítica proporcionada pela Geografia de fundamentação marxista, representada principalmente pelas figuras de Yves Lacoste em sua “revolucionária” perspectiva de uma Geografia “para fazer a guerra”, e Milton Santos, o grande geógrafo brasileiro que retornava de sua espécie de exílio e que acabaria sendo meu professor durante o mestrado na UFRJ e o doutorado na USP. Como as mudanças nunca são lineares e unidirecionais, não se pode esquecer do convívio concomitante com a crítica, de caráter mais epistemológico (e menos político-ideológico), da chamada Geografia Humanista – aqui mais conhecida, à época, como “Geografia da Percepção”. Nesse sentido foi muito importante um minicurso ministrado em 1980 pela geógrafa Lívia de Oliveira, uma das pioneiras desse pensamento na Geografia brasileira. Também ficou nítida para mim a relevância dessa perspectiva mais subjetiva do espaço quando de uma crítica que foi feita a meu trabalho sobre a delimitação da área central de Santa Maria, no Encontro da AGB em Porto Alegre, em 1982 . (7) Um outro momento de ruptura espacial que representou uma transformação efetiva no meu modo de ver a Geografia – e o próprio espaço vivido – foi o saída de Santa Maria para cursar o mestrado no Rio de Janeiro, “com a cara e a coragem”, em 1982. Na verdade, minha intenção inicial era cursar pós-graduação na Universidade de São Paulo – principalmente pela maior identificação com a linha teórica crítica ali predominante. A opção pelo mestrado na UFRJ, mesmo com seus temidos exames de Matemática e Estatística, deu-se em função, fundamentalmente, de três fatores: a forma mais democrática de seleção – um concurso geral e aberto – ao contrário da USP, onde o ingresso era (e ainda é) feito diretamente com o orientador e suas vagas; o antigo fascínio pela cidade e o fato de já ter conhecido a geógrafa Bertha Becker, que me estimulou a candidatar-me ao mestrado em sua instituição. A escolha pelos temas da diferença/desigualdade regional e da identidade pode ser vinculada às experiências vividas no interior do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, percebendo o encontro entre duas visões de mundo, muitas vezes antagônicas, simbolizadas pelas geografias e histórias diversas de meu pai e minha mãe. Enquanto o primeiro representava o velho “gênero de vida” gaúcho-campeiro, identificado com a pecuária extensiva e o latifúndio e amplamente moldado pelas práticas do chamado tradicionalismo gaúcho, minha mãe carregava uma herança imigrante da “Serra” minifundiária, pautada na ética protestante da ascensão social pelo trabalho, principalmente o trabalho agrícola. Em segundo lugar, acredito que essa minha aproximação com o tema identitário (que se estenderia até meu doutorado) teve relação também com a busca por explicar a questão identitária representada, em nível mais individual, pela nem sempre fácil relação travada com meu pai e, através dele, com a identidade regional em seu conjunto. A identidade vista enquanto processo ambíguo e contraditório está, assim, indissociavelmente ligada às dinâmicas de diferenciação, pois só se constrói o “idêntico” (ou o “semelhante”) pela construção, concomitante, do diferente. Esse jogo permanente entre identidade e diferença está moldado sempre, é claro, como enfatizado na dissertação de mestrado em relação à identidade gaúcha, por um histórico de desigualdade e poder onde hegemonia e subalternidade se conjugam na imposição daquilo que Gramsci, reunindo coerção e consenso, definiu como bloco hegemônico ou bloco histórico – neste caso, também, um bloco agrário. Ao falar dessa construção teórico-conceitual não há como, agora, através dessas memórias, não retomar meandros da própria relação com meu pai, sempre contraditória. Minha relação com seu espaço de referência identitária, a Campanha gaúcha, seria moldada por uma profunda ambiguidade, entre a atração e a repulsa. Vagar por aquele horizonte aberto do Pampa era um convite ao desafio (misto de fascínio e temor) pela abertura permanente para o novo, o ilimitado, e pela sensação de vulnerabilidade e não ocultamento do que ainda está por surgir. Os imensos latifúndios são ao mesmo tempo símbolo de liberdade e de dominação, através das cercas impostas sobre o modo de vida livre dos povos originários. Meu pai também portava, um pouco, essa representação: rígido, intempestivo, temido e marcado por uma afetividade reprimida, um forte e muito próprio senso de justiça, ao mesmo tempo que imerso em uma recorrente situação de fragilidade econômica. O mestrado na UFRJ e a vivência da cidade do Rio de Janeiro para um gaúcho do interior do Rio Grande do Sul foi um dilema e um enorme aprendizado. A dificuldade da adaptação foi grande, mas o Rio era também um espaço profundamente estimulante, onde tive o privilégio de viver experiências marcantes, incluindo as políticas, como a campanha eleitoral de Brizola e as manifestações pelas Diretas-Já. Com as dificuldades financeiras, não conseguindo sobreviver apenas com a bolsa e a poupança que havia construído, tive de recorrer a vários empregos, começando por dar aulas para o “1º Grau” (da 6ª à 8ª séries) em Jacarepaguá e Botafogo, fazendo concurso para o magistério estadual (aulas para adultos no Sambódromo) e para o ministério da Aeronáutica (aulas para 2º Grau no Colégio Brigadeiro Newton Braga, na ilha do Governador) e também dando aulas na PUC-Gávea, para só enfim, em 1986, ingressar na Universidade Federal Fluminense. Entre os professores do mestrado, além dos geógrafos Bertha Becker, Maria do Carmo Galvão, Roberto Lobato Corrêa e Maurício Abreu, da socióloga Ana Clara Ribeiro e do filósofo Hilton Japiassu, tive o privilégio de ser aluno de Milton Santos, durante sua rápida passagem pela UFRJ. No período em que cursei sua disciplina, fui convidado para trabalhar em sua pesquisa sobre as transformações urbanas na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente as consequências do Projeto Rio, que então se desdobrava na área do Complexo de favelas da Maré. Esse projeto implicava na remoção de um grande número de famílias da zona de palafitas para conjuntos habitacionais – agora mais próximos, dadas as críticas sofridas pelas remoções para áreas distantes, efetuadas na década de 1960 (caso, emblemático, da Cidade de Deus) . (8) Milton Santos teria um papel importante na minha formação. Primeiro, pelo significado de sua fala no Encontro de Geógrafos de Fortaleza, em 1978. A partir daí, as leituras de livros como “Por uma Geografia Nova”, “O espaço dividido” e “Economia Espacial: críticas e alternativas” (que ganhei de meu pai como presente de formatura) foram decisivas. Além do convite para a pesquisa na favela da Maré, no congresso da AGB em Porto Alegre (1982) ele me apresentaria o geógrafo Jacques Lévy. Uma década depois, com o próprio incentivo de Milton (e uma carta de apresentação que até hoje muito me orgulha), Jacques Lévy se tornaria meu orientador durante a bolsa de doutorado sanduíche no Instituto de Estudos Políticos de Paris. Tentei a orientação de Milton no doutorado, na USP, mas ele estava sobrecarregado de orientações. Destaco, entretanto, suas relevantes contribuições através da disciplina que cursei e de sua participação no exame de qualificação, além do generoso prefácio que fez ao livro que resultou da tese, “Des-territorialização e identidade: a rede ‘gaúcha’ no Nordeste” (Haesbaert, 1997) (9) . No doutorado tive a orientação do geógrafo Heinz Dieter Heidemann, cujo grupo de debates muito me estimulou durante o período em que, mesmo morando no Rio de Janeiro, viajava semanalmente para o doutorado na USP. As atividades desenvolvidas com Bertha Becker durante o mestrado também devem ser ressaltadas. Com ela participei de projetos e organizei eventos, com destaque para um encontro internacional da UGI, em Belo Horizonte. Um desses eventos resultou no livro “Abordagens Políticas da Espacialidade” (Becker, Haesbaert e Silveira, 1983), com a participação dos geógrafos Edward Soja, Arie Schachar, Walter Stöhr e Miguel Morales. A pesquisa de mestrado resultou no livro “RS: Latifúndio e identidade regional” (Haesbaert, 1988), tendo como principal contribuição a elaboração de um conceito de região a partir da realidade econômica, política e cultural da Campanha gaúcha. (10) A questão regional atravessou diretamente minha vida acadêmica ao longo de toda a década de 1980 e tem a ver não apenas com o regionalismo e a identidade regional vividos, mas também com a aposta em uma Geografia minimamente una e “integradora”. Começou pela publicação do livro “Espaço & Sociedade no Rio Grande do Sul” (Haesbaert e Moreira, 1982) e de um breve artigo sobre a regionalização do Rio Grande do Sul (na ótica centro-periferia), em 1983. A questão seria retomada em pelo menos três livros na década de 1990: “Blocos Internacionais de Poder”, de 1990 (com diversas reedições), “China: entre o Oriente e o Ocidente”, de 1994a, e “Globalização e Fragmentação no mundo contemporâneo” (como organizador e autor de dois capítulos), em 1998 (com segunda edição atualizada em 2013). Esses últimos, juntamente com “A Nova Desordem Mundial”, escrito com o colega Carlos Walter Porto-Gonçalves, em 2006, constituem o resultado, em grande parte, de minha inserção, desde 1985, na Universidade Federal Fluminense, na área de “Geografia Regional do Mundo” – uma área pouco valorizada em termos de pesquisa se comparada com outras áreas da Geografia, pelo menos no Brasil. Por isso esses trabalhos de divulgação, de ampla inserção paradidática (“Blocos Internacionais de Poder” foi adquirido em programa governamental para bibliotecas escolares), vieram preencher uma lacuna, especialmente em relação ao ensino, onde são temáticas recorrentes, mas com grande carência de bibliografia. Abriram também perspectivas mais amplas de minha participação em projetos educativos, como a consultoria ao suplemento cartográfico “Mundo – Divisão Política” (jornal O Globo, 1993), debate e consultorias na TV Futura/Fundação Roberto Marinho (1995-96), e convites para minicursos em instituições como o Colégio Pedro II e a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Durante praticamente todo meu período de Universidade Federal Fluminense trabalhei com teoria da região/regionalização. Desses debates resultaram artigos como “Região, Diversidade Territorial e Globalização” (1999) e “Morte e vida da região: antigos paradigmas e novas perspectivas da Geografia Regional” (apresentação na UNESP-Presidente Prudente, 2001). Finalmente, em 2010, publiquei o livro “Regional-Global: dilemas da região e da regionalização na Geografia contemporânea”, publicado também em espanhol em 2019. Como contribuições teóricas, além do conceito de região já comentado, propus a noção de “rede regional” (Haesbaert, 1997), a partir da experiência des-re-territorializadora dos migrantes sulistas (ditos “gaúchos”) no interior do país. No livro “Regional-Global” elaborei a concepção de região como arte-fato, a fim de superar a dicotomia entre região como simples artifício metodológico e a região como fato concreto, evidência empírica . (11) Boa parte dessas proposições teórico-conceituais teve como pano de fundo importantes trabalhos de campo, como os que desenvolvi na Campanha gaúcha, no mestrado, nos cerrados nordestinos (especialmente o oeste baiano), no doutorado, no leste paraguaio (com os “brasiguaios”), durante a primeira pesquisa como bolsista CNPq (1998-2002), e na fronteira Brasil-Paraguai (especialmente no Mato Grosso do Sul) durante o projeto de regionalização da faixa de fronteira desenvolvido junto com o grupo Retis, da UFRJ . (12) Outro reflexo dessa importância da questão regional em minhas investigações foi o nome dado a nosso grupo de pesquisa, criado em 1994 como “Núcleo de Estudos sobre Regionalização e Globalização (NUREG)”. Somente em 2020, com a entrada de um segundo “líder”, Timo Bartholl, ele teve sua denominação modificada para “Núcleo de Estudos Território e Resistência na Globalização”, mantendo, entretanto, a mesma sigla. O NUREG, juntamente com o PET – Programa Especial de Treinamento, que implantei na UFF em 1996 e em cuja tutoria permaneci por 4 anos, representaram ambientes de intenso debate, intercâmbio e pesquisa, tendo por ele passado inúmeros alunos de graduação, incluindo 18 bolsistas de iniciação científica, 14 bolsistas PET e 20 com trabalhos de conclusão de curso, estudantes de mestrado (29), doutorado (21) e pós-doutorado (9), além de pesquisadores estrangeiros em diversos tipos de intercâmbio. O primeiro grande projeto fundamentalmente teórico em nossas investigações veio com a pesquisa de pós-doutorado, realizada na Open University (Inglaterra), sob supervisão de Doreen Massey (2002-2003), com quem passou a ser desdobrado intenso intercâmbio pessoal e acadêmico .(13) Refiro-me às reflexões que resultaram no livro “O mito da desterritorialização: do ‘fim dos territórios’ à multiterritorialidade” (Haesbaert, 2004), que pode ser considerado meu trabalho de maior repercussão, já tendo onze edições em português e duas em espanhol (editora Siglo XXI, México). Este livro marca a consolidação de uma segunda grande linha conceitual de debates, já aberta antes da tese de doutorado, centrada no território e nos processos de des-reterritorialização. Embora só se tornem majoritárias na passagem dos anos 1990 para os 2000, as reflexões sobre o território vêm de longa data, remontando à influência dos trabalhos de Bertha Becker, Milton Santos e da leitura de Deleuze e Guattari, nos anos 1980. Bertha Becker incorporava o debate do território, especialmente em seus escritos sobre o papel do Estado e a “ordenação” do território. Um dos livros chave de Milton Santos nesse tema foi “O espaço do cidadão”, de 1987. Assim, em meio à finalização do livro “RS: Latifúndio e Identidade Regional”, escrevi um artigo publicado no suplemento “Ideias”, do Jornal do Brasil, em 1987, intitulado “Territórios Alternativos”. Nele eu destacava a relevância da perspectiva geográfica e as novas alternativas que se colocavam a partir da abordagem de autores como Michel Foucault e Felix Guattari (citando também Castoriadis e Baudrillard).(14) Esse artigo me inspiraria, quinze anos depois, abrindo e dando nome ao livro “Territórios Alternativos” (Haesbaert, 2002). A preocupação com o território se intensificou na década de 1990, com a publicação de artigos, especialmente em congressos – um deles é precursor, no título e no conteúdo, de proposições muito mais aprofundadas, uma década depois, em “O mito da desterritorialização”. Trata-se de “O mito da desterritorialização e as ‘regiões-rede’” (Haesbaert, 1994b), onde era discutida a íntima relação entre território e rede e a conceituação de território-rede (15). O livro resultante da tese de doutorado (Haesbaert, 1997) trouxe no próprio título a questão da des-territorialização e apresentou o conceito de multiterritorialidade, que seria desdobrado em trabalhos posteriores e representaria uma contribuição importante no nosso campo, inclusive entre cientistas sociais de outras áreas. Era uma época de tamanho domínio do debate territorial que território muitas vezes se confundia com a própria noção de espaço. Tentávamos ali, à luz da experiência migrante, precisar um pouco mais o conceito (16). A influência dos debates sobre território acabou se expandindo, especialmente com a publicação de “O mito da desterritorialização” (em 2004 no Brasil e em 2011 no México), influenciado pela obra de Deleuze e Guattari (especialmente “O Anti-Édipo” e “Mil Platôs”) e, uma década depois, “Viver no limite”. Neste livro diálogo com ideias como a biopolítica de Michel Foucault e o Estado de exceção de Giorgio Agamben, aprofundando noções como as de contenção, precarização e exclusão territorial. Empiricamente, volto-me para a realidade das favelas do Rio de Janeiro. Nos anos 2000 cabe mencionar também a participação em debates a nível governamental – além do projeto desenvolvido com a UFRJ para o Ministério da Integração Nacional, já comentado, ocorreu em 2003 a “Oficina sobre a Política Nacional de Ordenamento Territorial”, em Brasília. Ali, debatendo a concepção de território a ser incorporada nessa política, tive a satisfação de discutir com colegas geógrafos como Antônio Carlos Robert de Moraes (que, defendendo uma visão estatal, discordava de minha noção de território), Wanderley Messias da Costa e Bertha Becker. O debate foi intenso, principalmente entre uma visão que eu chamaria predominantemente “de cima para baixo”, das dinâmicas territoriais centrada na própria figura do Estado, e outra mais “de baixo para cima”, focada na vivência/prática cotidianas de seus habitantes. Diversos convites recebidos de áreas externas à Geografia, como a Sociologia, a História, os Estudos Culturais, as Artes, a Literatura, a Economia, a Comunicação e até mesmo a Medicina Social demonstram a amplitude de nossa inserção no debate sobre o território, a territorialidade e os processos de des-reterritorialização. O diálogo teórico-filosófico que pautava nossas reflexões buscou desde o início questionar as abordagens monolíticas e o autoritarismo de uma ciência objetivista e heterônoma sem, no entanto, menosprezar a busca pelo rigor conceitual, analítico, a permanente retroalimentação entre teoria e prática e, sobretudo, a prioridade à crítica social (17) . Foi assim que estivemos entre os primeiros geógrafos a questionar o excessivo racionalismo “moderno” em leituras materialistas mais ortodoxas e a inserir a dimensão cultural, mais subjetiva, na constituição do espaço geográfico. Evidências disso são artigos como “O espaço na modernidade” (escrito com Paulo Cesar da Costa Gomes em 1988), “Filosofia, Geografia e crise da modernidade” (de 1990) e “Questões sobre a (pós)modernidade” (de 1997), todos republicados em “Territórios Alternativos” (Haesbaert, 2002). No intenso debate que se travava na época entre modernidade e pós-modernidade, uma das proposições foi de que uma perspectiva distinta e transformadora da modernidade envolveria: ... a possibilidade de que, rompendo com os dualismos, se assuma um projeto profundamente renovador, que nunca se pretenda completo, acabado, que respeite a diversidade e assimile, ao lado da igualdade e do “bom senso”, a convivência com o conflito e a consequente busca permanente de novas alternativas para uma sociedade menos opressora e condicionadora – onde efetivamente se aceite que o homem é dotado não apenas do poder de (re)produzir, mas sobretudo de criar, e que a criação é suficientemente aberta para não se restringir às determinações da razão. (Haesbaert, 1990:84) O estágio de doutorado na França, sob supervisão de Jacques Lévy, entre 1991 e 1992 foi outro momento vivido de clara ruptura de trajetória, principalmente na minha perspectiva de olhar o mundo (aquilo que mais tarde eu definiria como a característica mais marcante potencializada pelo espaço geográfico: a mudança de perspectiva). Na França – e nas inúmeras viagens realizadas a partir dali, especialmente aquelas ao Marrocos e à China/Tibet (ambas em 1992) – pude perceber pela primeira vez uma “identidade latina” – ou “latino-americana” – que, de outra forma, não seria tão nítida (18). Esse impacto das viagens no modo de olhar o mundo – que começara virtualmente com os “correspondentes” da juventude – se fortaleceu a tal ponto que boa parte de minhas economias passou a ser canalizada para essas viagens. Além das muitas viagens a trabalho, onde quase sempre proponho acrescentar uma saída de campo, durante muito tempo planejei viagens de férias nas quais, sem outro compromisso que o de um relato, redigia escritos pessoais e tirava fotos que acabaram servindo como material para dois livros de crônicas: “Por amor aos lugares” (2017) e “Travessias” (2020). Essas viagens acabavam, de um modo ou de outro, problematizando a minha identificação pessoal e com os lugares. A questão identitária, assim, nunca saiu completamente do meu campo de preocupações. Meu memorial para professor Titular, ao qual recorri para parte deste relato biográfico, termina com o item “De volta ao início: questão de identidade”. Trata-se da busca permanente de um sentido de vida, sempre atrelado ao espaço onde nos movemos. Presente tanto no título do livro de minha dissertação de mestrado quanto no do doutorado, “identidade” é tratada a partir de sua caracterização como processo social (de “identificação”), de sua imbricação indissociável com relações de poder (o “poder simbólico”) e de sua multiplicidade. Assim, desde o artigo “Identidades territoriais”, de 1999, diversos trabalhos aprofundaram o debate teórico da questão, culminando em 2007 com a organização do livro “Identidades e territórios”, num projeto conjunto com Frederico Araújo (IPPUR-UFRJ). Durante alguns anos dividi com Perla Zusman (UBA) a representação latino-americana do comitê de Geografia Cultural da UGI, tendo como resultado evento e livro (“Geografías Culturales”, 2011), com a presença de geógrafos como Neil Smith, Gil Vallentine, Paul Claval, Jacques Lévy, Vincent Berdoulay, Daniel Hiernaux e Alicia Lindon, além de diversos brasileiros. Em duas realizações do “Simpósio Nacional Discurso, Identidade e Sociedade” (2001 e 2006), organizado pelo departamento de Letras da UFRJ e PUC-Rio, participei como membro da comissão científica e como conferencista, além de ter publicado capítulos de livro. Os eventos promovidos por artistas mineiros na Oi Futuro-Belo Horizonte e no Museu da Pampulha (além de outro, sem publicação, na FAOP-Ouro Preto), resultaram em obras bilíngues onde também publiquei dois capítulos de livro. A artista Marie Ange Bordas, que tem um reconhecido trabalho vinculado a campos de refugiados, estimulada por meu conceito de multiterritorialidade, convidou-me para participar de publicação por ela organizada e de mesa-redonda de lançamento da obra no SESC-Pompeia (São Paulo). Diversos outros debates envolvendo o tema foram realizados, incluindo análise da identidade brasiguaia, a questão do hibridismo cultural e, um pouco mais recente, uma associação entre transterritorialidade e antropofagia – essa forma muito brasileira, definida no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, de “deglutir” o outro e fazer dele, sempre, algo diferente. Maior hibridismo cultural, às vezes moldado de forma violenta e/ou compulsória, como aquele de muitas diásporas migratórias, mescla-se com novas formas de apego a identidades (nacionais, regionais, locais) tidas como fechadas e que, quando vinculadas a um território específico, alimentam o fenômeno dos novos territorialismos. Abre-se um amplo leque de questões, revalorizando a questão cultural-identitária, cultura vista sempre como cultura política, sem falar na mercantilização que até a imagem dos lugares pode transformar em instrumento de compra e venda. “Não concluindo”, com a questão da identidade (e toda a polêmica que envolve o tema nos nossos dias, incluindo aqueles que questionam o termo e propõem um tratamento teórico “para além da identidade”) podemos dizer que “voltamos ao início”, já que toda a nossa trajetória foi marcada, de um modo ou de outro, pela (des)construção identitária, seja em nível mais pessoal, seja em um nível acadêmico em sentido estrito. Isso para afirmar que nossos caminhos de investigação não podem nunca ser desvinculados das questões com as quais nos encontramos mais direta e pessoal e/ou socialmente envolvidos. Identidade/identificação lembra também o contexto espaço-temporal em que está inserido nosso pensamento, aquilo que hoje banalizou-se como “lócus de enunciação” ou “lugar de fala”. Pois é a partir da valorização desses contextos geo-históricos ou da nossa geopolítica do conhecimento (como diria, entre outros, Ramon Grosfoguel) que nos inserimos, a partir do debate pós-colonial nos anos 2000 (iniciado com a leitura de Stuart Hall), na abordagem dita descolonial, de bases latino-americanas. A participação em diversos eventos na Colômbia (universidades de Antioquia e Javeriana, de Medellín), na cidade do México, na Argentina (Mendoza e Córdoba, além de cursos ministrados em Tucumán e Buenos Aires), com estadas também em Cuernavaca e Zamora (México, onde conheci a experiência autonomista de Cherán), Quito (Equador, onde visitei uma comunidade cayambe), Lima (Peru) e Chile (com visita a uma comunidade mapuche) – tudo isso me despertou para a realidade latino-americana e acabou me levando a debater o conceito de território a partir do corpo (tal como proposto pelos movimentos feminista e indígena) e a refletir sobre a abordagem descolonial na Geografia. Isso resultou no meu último livro, “Território e descolonialidade”, publicado pela CLACSO/Buenos Aires. De alguma forma é a minha “identidade latino-americana” que finalmente se coloca no centro de minhas preocupações, em todo o jogo político-econômico que coloca a questão territorial numa inédita centralidade. Dois momentos iniciais que considero decisivos para essa guinada rumo ao chamado giro territorial (que eu denomino também multiterritorial) descolonial na América Latina, além das leituras iniciais sobre pós-colonialidade (que se fortaleceram no pós-doutorado com Doreen Massey, em 2002-2003), foram a redação do livro “Regional-Global”, cuja conclusão coloca claramente a questão, e a organização do “IV Encontro da Cátedra América Latina e Colonialidade do Poder: para além da crise? Horizontes desde uma perspectiva descolonial”, em 2013, juntamente com os colegas Carlos Walter Porto-Gonçalves, Valter Cruz (UFF) e Carlos Vainer (UFRJ). Nesta ocasião foram nossos convidados pensadores chave nessa perspectiva de pensamento, como Anibal Quijano, Catherine Walsh, Alberto Acosta, Edgardo Lander e Luis Tapia. É importante lembrar ainda que todo esse trabalho acadêmico estava sempre associado a atividades administrativas e em órgãos institucionais, como a vice-coordenação da Pós-Graduação por duas vezes (partilhada com o companheiro Marcio Pinon), a participação por vários anos no comitê do Vestibular e na avaliação PIBIC, além do comitê editorial da editora da UFF. Em nível nacional, participei do comitê assessor da Capes e fui representante de área junto ao CNPq. Participei ainda da fundação e, durante duas décadas, do comitê editorial da revista GEOgraphia. Nela ainda hoje sou responsável pelas seções Nossos Clássicos (que esteve também ligada ao livro “Vidal, Vidais”, organizado com os colegas Sergio Nunes e Guilherme Ribeiro) e Conceitos Fundamentais da Geografia (onde já participaram geógrafos convidados, como Paulo Cesar da Costa Gomes, Sandra Lencioni, Leila Dias, Werther Holzer e Iná de Castro). Poderia dizer, assim, que fui gradativamente ampliando minha escala geográfica em termos de envolvimento na investigação. Da área central de Santa Maria no trabalho de conclusão de curso aos gaúchos da Campanha, no mestrado, passei aos migrantes sulistas no Nordeste, no doutorado, segui ainda pelos brasileiros (a grande maioria sulistas) no Paraguai. Somente fui deixar o vínculo com os “gaúchos” (e sua/minha identidade) ao incorporar de fato o Rio de Janeiro e sua multiterritorialidade, o que ocorreu basicamente com a pesquisa “Sociedades de in-segurança e des-controle dos territórios”, efetivada entre 2007 e 2013. Foi quando iniciou, também, meu apoio a movimentos populares como o MCP – Movimento das Comunidades Populares, especialmente seu projeto na favela Chico Mendes, no complexo de favelas do Chapadão, uma das áreas mais problemáticas em termos de precarização social no Rio de Janeiro. A partir de 2014 a escala de pesquisa ampliou-se para o âmbito continental, tratando do “território como categoria da prática social numa perspectiva latino-americana”, consolidando assim a abordagem territorial a partir “de baixo”, de seu uso como ferramenta da prática, política, entre múltiplos grupos sociais subalternos. Como indiquei, essa ampliação veio como consequência tanto da intensificação do diálogo inspirador com colegas como Carlos Walter Porto-Gonçalves e Valter Cruz quanto dos laços com outros países da América Latina, na condição de professor visitante ou como membro efetivo de programas de pós-graduação (caso ainda hoje da Pós-Graduação em Políticas territoriales y ambientales da Universidade de Buenos Aires e do doutorado em Ciências Sociais da Universidade de Tucumán). Com isso chego ao final dessa “autobiografia”, intitulada “Múltiplos territórios de memória”. Lamento não ter conseguido alcançar plenamente algumas das metas colocadas de início, como não ser “euclidiano” no caráter sequencial e metódico do relato ou não dissociar razão e emoção, teoria e prática. Acabei conseguindo isso um pouco mais ao falar de minha infância e adolescência. Depois a trajetória intelectual acabou sendo priorizada. Mas espero que o leitor entenda – afinal, quem por ventura ler essas linhas, a maioria certamente será de geógrafos, interessados mais na geografia como campo “científico” do que na geografia individualmente vivida. Espero não ter sido por vezes demasiado cansativo – ou mesmo, como ressaltado no início, egocêntrico. Como uma espécie de “conclusão inconclusiva” – já que biografia, teoricamente, termina apenas com o fim de uma vida (embora saibamos quantas releituras poderão brotar depois) – eu diria que intitulei “múltiplos territórios de memória” por dois grandes motivos. Primeiro, porque nossa memória, como mencionado no início, é sempre seletiva e geo-historicamente situada – em cada momento e local fazemos uma leitura diferente de nós mesmos, explicitando certos pontos e ocultando outros. Segundo, porque a multiplicidade espacial/territorial é a grande marca que posso identificar na minha trajetória de vida. Assim como falei de múltiplas rupturas a partir das mudanças geográficas e das viagens, múltiplas territorialidades iam se acumulando ao longo do tempo. Algumas enfraqueciam, outras emergiam com força, mas posso dizer que todas elas, em distintos níveis, continuaram sempre fazendo parte de mim. Seletivamente, é claro, mas numa construção híbrida, num amálgama que sempre foi um traço importante que carrego. Somar e sobrepor, mais do que dividir e excluir. Envolver-se e buscar compreender o espaço/território do Outro. Abertura para a multiplicidade do mundo, para a diversidade do outro, que é também a minha. Tarefa difícil, mas cada vez mais necessária, num mundo tão polarizado e excludente. Na minha história, a geografia, a diferença que é o espaço e que se multiplica através dele, sempre amalgamou paixão e razão. Transpor limites, fronteiras, para desvendar outros espaços, construir novos horizontes, foi um desafio constante que me coloquei. Nem por isso tem a ver com uma espécie de self made man (neo)liberal – que tanto critico. Sem desconhecer a força que o indivíduo tem – ou melhor, pode ter – gostaria de finalizar lembrando o quanto o Outro e o coletivo têm papel na minha trajetória, e o quão pouco eu teria sido sem eles: - meu pai e seu gauchismo (que, criticamente, me instigou ao longo de tantos anos de estudos), uma relação conturbada, mas ao mesmo tempo uma vida que, prolongada por 91 anos, proporcionou o tempo indispensável para que também nos amássemos; - minha mãe, estímulo maior, sensibilidade e resistência, a quem eu afirmava em minha dissertação de mestrado: “teu carinho plantou sementes que outros campos (não importa) estão fazendo brotar”; - minhas irmãs e irmão, cada um a seu modo, solidários na luta por superar as dificuldades de toda ordem, do emocional ao financeiro; - meus professores, mestres complacentes e/ou desafiadores, e a escola pública, esta que cursei e em que trabalhei quase a vida toda, grandes responsáveis por me possibilitarem romper com a reclusão da minha condição de classe e de gênero; - meus estudantes, alunos-mestres, especialmente aqueles do grupo de debates, que me ensinam cotidianamente, há décadas, os (i)limites da razão e o quanto a emoção com ela caminha junto e é indispensável para fortalecer e dignificar o trabalho acadêmico; - meus colegas de universidade, parceiros de tantas batalhas, na gestão e na renovação de nosso departamento, na criação da pós-graduação, na valorização de nossa revista, na promoção de eventos ou no simples diálogo cotidiano dos corredores às bancas de conclusão de curso (quanto aprendizado conjunto). - meus grandes, “velhos” amigos, batalhadores como eu, cada um com sua história de luta a nos ensinar, pelo exemplo, o quanto a vida é política, e o quanto o afeto é uma das armas mais poderosas que se pode mobilizar; - meus amigos da ação direta, do trabalho abnegado, da ajuda mútua, das diferentes frentes de luta, que, apesar de tudo, não abrem mão de sua fé em outros mundos/territórios, sempre múltiplos, e que nunca cessarão de, conosco, batalhar por eles. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABREU, M. 1998. Sobre a memória das cidades. Revista da Faculdade de Letras – Geografia Vol. XIV. ABREU, M. 1997. Memorial para o concurso de professor Titular na UFRJ. Rio de Janeiro (inédito). ASSMANN, A. 2011. Espaços da Recordação: formas e transformações da memória cultural. Campinas: Editora Unicamp. BECKER, B.; HAESBAERT, R. e SILVEIRA, C. (orgs.) 1983. Abordagens políticas da espacialidade. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Geografia. BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. 2005. Proposta de reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Brasília: Ministério da Integração Nacional. CALBÉRAC, Y. e VOLNEY, A. 2015. J'égo-géographie, Géographie et Cultures, n° 89/90. HAESBAERT, R. 1988. RS: Latifúndio e identidade regional. Porto Alegre: Mercado Aberto. HAESBAERT, R. 1990. Blocos Internacionais de Poder. São Paulo: Contexto. HAESBAERT, R. 1991. A (des)ordem mundial, os novos blocos de poder e o sentido da crise”. Terra Livre (AGB) n. 9. HAESBAERT, R. 1994a. China: entre o Oriente e o Ocidente. São Paulo: Ática. HAESBAERT, R. 1994b. O mito da desterritorialização e as “regiões-rede”. Anais do 5º Congresso Brasileiro de Geografia v. 1. Curitiba: Associação dos Geógrafos Brasileiros. HAESBAERT, R. 1997. Des-territorialização e identidade: a rede “gaúcha” no Nordeste. Niterói: EdUFF. HAESBAERT, R. (org.) 1998 (2ª ed. 2013). Globalização e Fragmentação no mundo contemporâneo. Niterói: Editora da UFF. HAESBAERT, R. 2002. Territórios alternativos. S. Paulo e Niterói: Contexto e EdUFF. HAESBAERT, R. 2004. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. HAESBAERT, R. 2010. Regional-Global: dilemas da região e da regionalização na Geografia contemporânea. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. HAESBAERT, R. 2013. A global sense of place and multi-territoriality : notes for a dialogue from a “peripheral” point of view. In: Featherstone, D. e Painter, J. (orgs.) Spatial politics: essays for Doreen Massey. Oxford: Wiley-Blackwell. HAESBAERT, R. 2014. Viver no limite: território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contenção. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. HAESBAERT, R. e MOREIRA, I. 1982. Espaço e sociedade no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Mercado Aberto. HAESBAERT, R. e ROCHA, A. 2020. Doreen Massey, 1944-2016. In: Bright, E. e Novaes, A. (orgs.) Geographers: biobliographical studies. Londres: Bloomsbury Academic. HAESBAERT, R. e ZUSMAN, P. 2011. Geografías culturales: aproximaciones, intersecciones, desafíos. Buenos Aires: Editora da Facultad de Filosofía y Letras da UBA. LEFEBVRE, H. 2004 (1970) A Revolução Urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG. LISPECTOR, C. 1943. Perto do coração selvagem. Rio de Janeiro: Rocco (disponível em: https://prceu.usp.br/repositorio/perto-do-coracao-selvagem/) MASSEY, D. 2008. Pelo espaço. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. PETERS, M. 2000. Pós-estruturalismo e filosofia da diferença. Belo Horizonte: Autêntica. SANTOS, M. 1997. Prefácio. In: Haesbaert, R. Des-territorialização e Identidade: a rede “gaúcha” no Nordeste. Niterói: EdUFF. NOTAS: 1 Substitui a última palavra, “geográfica”, por “topográfica”, por entender que o topológico é outra perspectiva para a leitura do espaço geográfico. 2 Agradeço a Amélia Cristina Bezerra por essa expressão de Guimarães Rosa. 3 À época, além dos avós, viviam ali 6 de seus 11 filhos. Hoje restam ali apenas primos, sendo que um deles criou um museu (“Fragmentos do tempo”) que recupera um pouco a memória da região e da família. 4 Nesse trabalho ele confirmou sua tese de que os últimos derrames de lava do planalto meridional eram ácidos, dando origem a uma rocha distinta do basalto e que ele denominou “granófiro”. 5 "... sinto-me na responsabilidade não de atentar para uma “nova geografia”, cujo próprio sentido de “nova” é duvidoso, mas de defender seu caráter fundamental (...): a geografia como síntese, (...) de unificação das características fisionômicas e de relação no espaço em que se desenvolvem as atividades humanas. (...) ciência que nunca poderia estar seccionada, como está hoje, em trabalhos “físicos” e “humanos”, como se fazer geografia fosse trabalhar em Geografia Física ou Geografia Humana [grifados "em" e "ou"]. Afinal, o que visam nossos estudos geográficos senão a síntese, a visão global de tudo aquilo que contribui para a explicação de um ambiente, tal como é, e possibilitando prognosticar seu quadro futuro, com base também em etapas passadas?” (Correio do Povo, 17 Ago. 1979) 6 Sobre sua participação nessa mesa, Maurício assim se referiria: “A mesa redonda foi uma experiência que jamais esqueci. Ao contrário de Milton, que era ovacionado a cada ataque que fazia à ditadura cambaleante, que era aplaudido a cada crítica que fazia ao neopositivismo ou ao establishment geográfico, que levava a plateia ao delírio com seu discurso engajado, marxista, até pouco tempo atrás impensável de ser proferido numa universidade sem perseguição política ou mesmo encarceramento, tudo o que recebi da multidão foi silêncio e indiferença. De alguns recebi inclusive o rótulo de ‘reacionário’, e mesmo de ‘imperialista’. Embora não concordando de forma alguma com isso, não havia clima para retrucar. A festa era de Milton e não minha. Ao invés de brilhar, fui eclipsado. Até hoje admiro, entretanto, a coragem que tive ao enfrentar aquela multidão. E continuo gostando muito do trabalho que apresentei naquela tarde”. (ABREU, 1997) 7 O geógrafo paranaense, Lineu Bley questionou-me, a partir de sua perspectiva “humanística”, sobre o objetivismo de minha abordagem. Mesmo reconhecendo a importância da teoria que eu utilizava, destacou que ela ignorava a percepção dos próprios habitantes sobre o que seria a “área central” de sua cidade. 8 Milton propôs a aplicação de questionários (que defini em amostragem de uma centena) junto à Vila do João, conjunto recém inaugurado a cerca de 1,5 km da área residencial original. O discurso era de que com esse “pequeno deslocamento” não teriam ocorrido mudanças negativas importantes na vida dos moradores. A pesquisa demonstrou o contrário, desde o desrespeito a laços de vizinhança e o tamanho (padronizado) das casas até dificuldades no acesso a comércio e serviços. O trabalho foi apresentado no Congresso de Geógrafos de São Paulo, em 1984. Lembro a minha tensão (e ao mesmo tempo honra e gratidão) quando Milton chegou para assistir à apresentação. 9 Neste prefácio ele afirma que o estudo “foi feito com maestria notável, o autor manejando, com propriedade, princípios oriundos da filosofia e de diversas ciências humanas, de modo a produzir uma síntese geográfica com grande riqueza interdisciplinar” (p. 11), “um trabalho sério e documentado, escrito em uma linguagem meticulosa e agradável, mas sobretudo uma análise e uma síntese originais, um estudo fadado a servir como modelo de método (...) e uma importante contribuição teórica à compreensão atual de categorias tão controvertidas quanto as de territorialidade e identidade” (Santos, 1997:12). 10 “... um espaço (não institucionalizado como Estado nação) de identidade ideológico-cultural e representatividade política, articulado em função de interesses específicos, geralmente econômicos, por uma fração ou bloco ‘regional’ de classe que nele reconhece sua base territorial de reprodução”. (Haesbaert, 1988:22) 11 “... qualquer análise regional que se pretenda consistente (e que supere a leitura da região como genérica categoria analítica, ‘da mente’) deve levar em conta tanto o campo da produção material quanto o das representações e símbolos, ideais, tanto a dimensão da funcionalidade (político-econômica, desdobrada por sua vez sobre uma base material-‘natural’) quanto do vivido (simbólico-cultural, mais subjetivo) – em outras palavras, (...) tanto a coesão ou lógica funcional quanto a coesão simbólica, em suas múltiplas formas de construção e des-articulação – em que, é claro, dependendo do contexto, uma delas pode acabar se impondo sobre – e refazendo – a outra”. (Haesbaert, 2010:117) 12 Esse projeto esteve vinculado ao Ministério da Integração Nacional e foi realizado entre 2004 e 2005, através de licitação e foi coordenado pela geógrafa Lia Machado. A participação nesse projeto foi relevante não apenas do ponto de vista de minha primeira experiência direta em projetos governamentais (e consequente diálogo com autoridades como o próprio ministro da Integração Nacional – Ciro Gomes, à época), mas também pelo rico intercâmbio com o Grupo Retis de pesquisa e o trabalho de campo pela região de fronteira entre várias cidades-gêmeas (de Saltos del Guayrá-Guaíra, no Paraná, a Bella Vista-Bela Vista, no Mato Grosso do Sul), incluindo um encontro com lideranças políticas hegemônicas e dos movimentos sociais em Ponta Porã. Seus resultados foram publicados em um livro (Brasil, 2005). 13 Esse intercâmbio incluiu convite para Doreen Massey vir ao Brasil (UFF e ANPEGE-Fortaleza, 2005), tradução de seu livro “For Space” (Massey, 2008), capítulo de livro (em sua homenagem) colocando em diálogo sua concepção de lugar e a nossa de multiterritorialidade (Haesbaert, 2011), participação em mesa-redonda em sua homenagem, após seu falecimento, no encontro da AAG (Boston, 2016) e redação de sua biografia para o livro “Geographers: biobliographical studies” (Haesbaert e Rocha, 2020). A grande amizade com Doreen também me proporcionou viagens de lazer conjuntas, como a que realizamos a Jericoacoara, no Ceará, e ao Lake District, na Inglaterra. 14 Deste artigo, ressalto os seguintes trechos: “Rompendo com uma postura empobrecedora que por longa data marcou as rupturas teóricas radicais ocorridas dentro da Geografia, divisamos hoje um desejo relativamente comum do geógrafo em resgatar suas raízes e assimilar a diversidade com que o novo se manifesta, buscando com isso respostas mais consistentes e menos simplificadoras para as questões que se impõem através da ordenação do espaço e do território. (...) Ao lado da corrente majoritária de geógrafos ainda engajados em torno de teorias universalizantes, simplificadoras, quase sempre, mas ainda assim dotadas de poder explicativo relevante para muitas questões (notadamente de ordem econômica), colocam-se hoje novas exigências teóricas, capazes de responder à dinâmica múltipla e fragmentária do espaço social”. São representativos do momento de mudança que se vivia e do caráter de reavaliação de uma Geografia crítica que deixava de ser monolítica (capitaneada por um marxismo mais ortodoxo) e adquiria rumos mais plurais, com ecos do chamado pós-modernismo e/ou pós-estruturalismo, muito criticados pelo mainstream geográfico brasileiro. 15 “... nunca teremos territórios que possam prescindir de redes (pelo menos para sua articulação interna) e vice-versa: as redes, em diferentes níveis, precisam se territorializar, ou seja, necessitam da apropriação e delimitação de territórios para sua atuação. (p. 209) (...) os territórios neste final de século são sempre, também, em diferentes níveis, ‘territórios-rede’, porque associados, em menor ou maior grau, à fluxos (externos às suas fronteiras), hierárquica ou complementarmente articulados”. (p. 211) 16 “O território envolve sempre, ao mesmo tempo (...), uma dimensão simbólica, cultural, através de uma identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, como forma de ‘controle simbólico’ sobre o espaço onde vivem (sendo também, portanto, uma forma de apropriação), e uma dimensão mais concreta, de caráter político-disciplinar: a (...) ordenação do espaço como forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos. Historicamente, podemos encontrar desde os territórios mais tradicionais, numa relação quase biunívoca entre identidade territorial e controle sobre o espaço, de fronteiras geralmente bem definidas, até os territórios-rede modernos, muitas vezes com uma coesão/identidade cultural muito débil, simples patamar administrativo dentro de uma ampla hierarquia econômica mundialmente integrada”. (Haesbaert, 1997:42) 17 Ao contrário do que afirmam críticos que, em posições mais fechadas, não concebem abertura para o diálogo, elementos ditos pós-estruturalistas presentes em muitas abordagens podem perfeitamente dialogar com leituras críticas como o marxismo. Veja por exemplo, esta afirmação: “ ... pode-se afirmar que não existe nada de necessariamente antimarxista ou pós-marxista seja no pós-modernismo seja no pós-estruturalismo. Na verdade (...) é possível fazer uma leitura pós-estruturalista, desconstrutivista ou pós-modernista de Marx. Na verdade, o marxismo estruturalista althusseriano teve uma enorme influência sobre a geração de pensadores que nós agora chamamos ‘pós-estruturalistas’ e cada um deles, à sua maneira, acertou suas contas com Marx: vejam-se, por exemplo, as ‘Observações sobre Marx’ (1991) que Foucault faz (...); ou os ‘Espectros de Marx’, de Derrida (1994); ou a tese da mercantilização ‘marxista’ no livro de Lyotard, ‘A condição pós-moderna’. (...) Deleuze [que escreveu ‘O Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia’] (...) se via, claramente, como um marxista (Deleuze, 1995:171). Todos esses pós-estruturalistas veem a análise do capitalismo como um problema central” (Peters, 2000:17). 18 Além disso, é claro, a estada em Paris trouxe grandes contribuições intelectuais, especialmente através das disciplinas cursadas na Sorbonne/Collège de France ou na École des Hautes Études em Sciences Sociales (EHESS), ministradas por intelectuais reconhecidos como Cornelius Castoriadis, Pierre Bourdieu, Alain Touraine, Marc Augé e o geógrafo Augustin Berque. Participei ainda dos debates do grupo Europe, dirigido por Jacques Lévy, do Grupo Brésil no IHEAL (Institute des Hautes Études de l’Amérique Latine), dirigido por Martine Droulers, e do Centre des Recherches sur le Brésil Contemporaine da EHESS (nos três participando também como conferencista)
ROGERIO HAESBAERT DA COSTA MÚLTIPLOS TERRITÓRIOS DE MEMÓRIA Rogério Haesbaert SÍNTESE BIOGRÁFICA PROPOSTA: 1- DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO HISTÓRICO Composição familiar: terceiro de 4 irmãos (dois casais), pai (José Flores da Costa) descendente de portugueses, mãe (Eulita Haesbaert da Costa) descendente de alemães Trajetória espacial/residencial: 1958- São Pedro do Sul (RS); 1958-1963- São José do Louro (zona rural vizinha à então vila de Mata); 1964-1967: Mata (emancipada de General Vargas em 1965); 1967-1969: General Vargas (denominada São Vicente do Sul em 1969); 1970-1982: Santa Maria (5 bairros diferentes); 1982-atual (exceto 1991-92 e 2002-03): Rio de Janeiro (bairros: Santa Tereza, Fátima, Copacabana, Botafogo); 1991-92: Paris; 2002-2003: Londres. Percurso estudantil pré-universitário: 1965-1966: Grupo Escolar de Mata; 1967-1969: Escola Estadual Borges do Canto/São Vicente do Sul; 1970-71: Colégio Estadual Coronel Pilar/Santa Maria; 1972-1975: Colégio Estadual Profa. Maria Rocha/Santa Maria (ensino profissionalizante: Tradutor e Intérprete – 1973-1975); Atuação profissional: auxiliar de empacotador – Lojas Riachuelo (Santa Maria, 1972); atendente no Crédito Educativo da Caixa Econômica Federal (UFSM, 1978-79); professor de Geografia: curso preparatório LT (Santa Maria, 1977); Fac. Ciências e Letras Imaculada Conceição (Santa Maria, 1980-82); UFSM-curso de férias (Santiago, 1981 e 1982); Colégio Pentágono Bahiense (Rio de Janeiro, 1983-84); Colégio Andrews (Rio de Janeiro, 1984-1985); Secr. Educ. RJ (Rio de Janeiro, 1985); PUC (Rio de Janeiro, 1985-87); Col. Brig. Newton Braga/Min. da Aeronáutica (Rio de Janeiro, 1985-87); Universidade Federal Fluminense (Niterói, Graduação: 1985-2019, Pós-Graduação: 1999-atual); Universidade de Buenos Aires (Bs. Aires, Pós-Graduação: 2017-atual); professor visitante nas universidades: Paris VIII, Toulouse-Le Mirail, UNAM-CRIM (Cuernavaca), Colegio de Michoacán (La Piedad), Politécnica Salesiana (Quito) e Antioquia (Medellín) 2- PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA A GEOGRAFIA BRASILEIRA - Datas e locais de constituição da carreira na Geografia: 1976-1979: Licenciatura em Geografia / 1977-1980: bacharelado, Universidade Federal de Santa Maria; 1982-1986: Mestrado em Geografia, UFRJ; 1990-1995: Doutorado em Geografia Humana, USP (1991-92: estágio doutoral no Instituto de Ciências Políticas-Paris); 2002-2003: Estágio pós-doutoral na Open University, Milton Keynes, Inglaterra. - Pesquisas expressivas realizadas que marcaram o perfil acadêmico: A Campanha Gaúcha e o resgate da identidade regional (mestrado); Gaúchos e Baianos: modernidade e desterritorialização (doutorado); O mito da desterritorialização (pós-doutorado); Globalização e regionalização – regiões transfronteiriças entre países do Mercosul; Sociedades de In-segurança e des-controle dos territórios; Território como categoria da prática numa perspectiva latino-americana. - Autores de que recebeu influência: geógrafos: Bertha Becker (orientadora de mestrado; organização de livro e evento); Milton Santos (professor no mestrado e doutorado; pesquisa no mestrado); Jacques Lévy (supervisor em estágio doutoral); Doreen Massey (supervisora em estágio pós-doutoral; tradução de livro, eventos); não-geógrafos: Gilles Deleuze e Felix Guattari (livro “O mito da desterritorialização”); Michel Foucault e Giorgio Agamben (livro “Viver no Limite”): pensadores descoloniais latino-americanos (livro “Território e Descolonialidade”). - Algumas parcerias de pesquisa ao longo da carreira – Brasil: Lia Machado (Faixa de Fronteira – Min. da Integração Nacional); Carlos Walter Porto-Gonçalves (livro “A nova desordem mundial”); Ana Angelita Rocha (biografia de Doreen Massey); Sergio Nunes e Gulherme Ribeiro (livro “Vidal, Vidais”); Fania Fridman (grupo CLACSO e livro Escritos sobre espaço e história); Frederico Araújo (livro Identidades e territórios); Argentina: Perla Zusman (UGI e livro “Geografías Culturales”); Chile: Pablo Mansilla (Univ. Católica de Valparaíso, projeto de pesquisa). - Livros marcantes da carreira: RS: Latifúndio e identidade regional (P. Alegre: Mercado Aberto, 1988); Des-territorialização e identidade: a rede “gaúcha” no Nordeste (Niterói: EdUFF, 1997); Territórios Alternativos (Niterói e São Paulo: EdUFF e Contexto, 2002); O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004, editado em espanhol pela ed. Siglo XXI); Regional-Global: dilemas da região e da regionalização na Geografia contemporânea (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010; editado em espanhol pela CLACSO/UBA em 2019); Viver no limite: território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contenção (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014; editado em espanhol em 2020 pela ed. Siglo XXI); Território e Descolonialidade: sobre o giro (multi)territorial/de(s)colonial na América Latina (Buenos Aires: CLACSO, 2021) 3- AVANÇOS TEÓRICOS E CONTROVÉRSIAS - Maiores contribuições conceituais e metodológicas realizadas: debates sobre região/regionalização (rede regional e região como arte-fato), regionalismo e identidade regional/territorial; território, multi/transterritorialidade e des-territorialização, contenção e exclusão/precarização territorial; debate modernidade-pós-modernidade; influência, na Geografia, das filosofias (pós-estruturalistas?) de Deleuze e Guattari, Foucault e Agamben; pensamento de Doreen Massey; pensamento descolonial na Geografia latino-americana. - Principais controvérsias, críticas e embates sobre a produção científica realizada: debate sobre território para além de suas perspectivas estatal (incluindo as noções de multi/transterritorialidade e corpo-território) e funcional (incluindo a dimensão simbólica do poder) – criticado por Antonio Carlos Robert de Moraes; desterritorialização como precarização territorial, território e região como categorias de análise, da prática e normativas; influências “pós-modernas” e/ou pós-estruturalistas – debate com Blanca Ramírez (México) sobre o estruturalismo de “O mito da desterritorialização” Decidi aproveitar a oportunidade deste convite para fazer um balanço autobiográfico de trajetórias que, em maior ou menor grau, formaram minhas múltiplas geografias vividas. Não se trata exatamente de uma “egogeografia”, nos moldes propostos por Jacques Lévy pois, como afirmam Yann Calbérac e Anne Volney, num número especial da revista “Géographie et Cultures”: Para além da (auto)bio-geografia de geógrafo que visa, pelo relato de vida, compor uma figura de pesquisador(a) ao ancorá-lo nos lugares em que a carreira se desdobra, ou além da abordagem egogeográfica inspirada por Jacques Lévy, que pretende construir a autoridade de um(a) autor(a) graças a um retorno sobre sua produção científica, este número [estas memórias, no meu caso] convida[m] a explorar as múltiplas relações entre o ego (dimensão identitária do sujeito epistêmico) e a geografia (conjunto de conhecimentos e de métodos) (Calbérac e Volnev, 2015). Redigir um memorial acadêmico (como fiz em 2015 para concurso de professor Titular) ou como, neste caso, um conjunto múltiplo de memórias, numa “autobiografia”, não é tarefa fácil, pois nossa lembrança é sempre seletiva e nem sempre aquilo que nos parece mais relevante – ou “crítico” – o seria sob o olhar de um outro. Realizar um balanço e uma análise crítica de nossa contribuição é ainda mais temerário. Corre-se todo o tempo o risco da falta e/ou do egocentrismo. Nossas trajetórias são moldadas não apenas pelo que é possível transpor em relatórios burocráticos, mas se revestem da dimensão do vivido que, muitas vezes, é a única capaz nem tanto de explicar, mas, pelo menos, de fazer compreensíveis nossas opções e feitos, não apenas no âmbito pessoal mas também na esfera mais estritamente profissional-acadêmica. Da mesma forma que as categorias analíticas que racionalizamos não podem ignorar seu uso enquanto categorias da prática, no senso comum cotidiano (pois é com elas que, em última instância, agimos), também devemos pensar nossos caminhos numa íntima associação entre construção intelectual e práticas da geografia vivida. Talvez nem tanto mas um pouco concordando com Clarice: É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei-o bem, mas não posso dizer. Sobretudo tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar não só não exprimo o que sinto como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ou pelo menos o que me faz agir não é o que eu sinto, mas o que eu digo. (Lispector, 1943:11) Por isso, acredito que somente um conjunto de memórias onde se cruzem sensibilidade e razão, experiência concreta e reflexão teórica, é capaz de revelar a riqueza labiríntica desses percursos. Com o cuidado, sempre, para não cair nem no esquecimento que ignora pontos e personagens significativos, nem na pretensão e/ou na arrogância que enaltecem exageradamente algumas de nossas realizações. Romper com a dicotomia entre o subjetivo e o objetivo, a emoção e a razão, pois essa ordenação de memórias permite – ou melhor, poderíamos dizer, “exige” – a sua permanente imbricação é, portanto, um dos grandes méritos de uma autobiografia ou mesmo de um memorial. Como se trata sobretudo de uma tarefa individual, podemos lembrar o que nos afirma o saudoso geógrafo e amigo Maurício Abreu em seu artigo “Sobre a memória das cidades”: O espaço da memória individual não é necessariamente um espaço euclidiano. Nele as localizações podem ser fluidas ou deformadas, as escalas podem ser multidimensionais, e a referenciação mais topológica do que topográfica (ABREU, 1998:83). (1) Nesse sentido a literatura e seus escritores também podem ser acionados para nos recordar que não é nada fácil, e mesmo contraproducente, buscar “linhas” ou regularidades numa história pessoal, ainda que pelo viés acadêmico. O grande Guimarães Rosa, por exemplo, nos alerta que “as lembranças da vida da gente se guardam em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimentos, uns com os outros não se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância” (2) . Isso nos faz lembrar também da leitura genealógica foucaultiana, que privilegia as rupturas e as descontinuidades. Quando se trata de memória, fica ainda mais difícil encontrar um fio condutor que demonstre a continuidade da lembrança. Ela é feita em pedaços, e somente o menos importante é que permite falar em continuidade. O novo efetivamente emerge nos momentos de descontinuidade com o que já estava concebido, repetitivamente dado. Talvez pudéssemos pensar também que na própria vida concreta os momentos de fato relevantes são aqueles que rompem com as continuidades e estabelecem rupturas. Nesse sentido, o novo, o que inaugura uma nova etapa ou descoberta, só pode brotar do sentido do “fazer diferença” que representam determinados momentos – e lugares, eu acrescentaria. Quem/aquilo que “faz diferença” em nossas vidas é quem/aquilo que nos instiga à mudança, rumo a outras perspectivas de mundo. E quem faz diferença, obviamente, é o Outro. Daí uma marca que posso identificar, desde agora, na minha trajetória: a busca do Outro que eu fui buscar, através da Geografia, pela diferença que fazem os nossos múltiplos espaços de vida – relembrando imediatamente a noção de espaço de Doreen Massey como a esfera da multiplicidade. Daí a proposta de intitular este relato “Múltiplos territórios de memória”. São muitos os referentes espaciais que moldam nossas trajetórias e que permitem um processo de des-reterritorialização plural e constante. Como afirma Assmann, pesquisadora na área de estudos culturais: "Após intervalos de suspensão da tradição, peregrinos e turistas do passado retornam a locais significativos para eles, e ali encontram uma paisagem, monumentos ou ruínas. Com isso ocorrem “reanimações”, mas quase tanto o lugar reativa a recordação quanto a recordação reativa o lugar (Assmann, 2011)." Com Assmann, deduz-se que lugares viram quase “sujeitos” pois, ao serem observados, podem instigar determinadas sensibilidades e ações. Assim, estamos bem acompanhados quando identificamos, em espaços do nosso passado – ou do passado que se condensa no presente (lembrando a “acumulação desigual de tempos” de Milton Santos), a força de determinados referenciais concretos que, imbuídos de um profundo simbolismo, podem provocar em nós uma espécie de atualização de viagem no tempo. Gostaria de tecer primeiro as linhas gerais e as bases primeiras do ambiente vivido e familiar que permitirão, ao longo do percurso, transmitir um pouco da minha interpretação pessoal sobre vínculos importantes que possibilitaram construir a condição de geógrafo. Geógrafo que se envolveu com problemáticas e conceituações tentando pensá-las com um olhar de algum modo próprio, o que resultou em algumas contribuições e na inserção em debates mais amplos em nível da Geografia brasileira e, hoje, também, estrangeira, especialmente a latino-americana. Mas há um roteiro proposto e, com base nele, elaborei uma síntese inicial, esperando não esquecer itens, muitos deles desdobrados também ao longo do texto. Em resumo, parto da ideia de ruptura geográfica ao longo da trajetória intelectual e de vida para delinear, de saída, alguns momentos fundamentais de mudança – ou, em termos mais especificamente geográficos, de des(re)territorialização – a saber: 1. A mudança do interior semirrural do Rio Grande do Sul (morei em zonas rurais e duas pequenas cidades, de 1.500 e 3.000 habitantes) para o polo regional que é Santa Maria, centro militar, estudantil e religioso. Essa mudança, aos 12 anos, representou uma grande abertura intelectual. Numa leitura simplista, poderia afirmar que se tratou de um salto do local para o regional – como cidade universitária, Santa Maria também me abria os olhos para as escalas nacional e mundial, auxiliado por meu radinho de ondas curtas e por meus correspondentes estrangeiros e de diversas cidades do Brasil. 2. A saída de Santa Maria, aos 23 anos, para realizar o mestrado no Rio de Janeiro, e aí permanecer – costumo dizer que saí direto do interior do Rio Grande do Sul para a megalópole, sem “estágio” em metrópole; toda uma alteração de modo de vida – e de identidade – se verificou aí, relativizando o regional e afirmando, definitivamente, o nacional (de nuança carioca). 3. A residência de um ano em Paris, durante o chamado doutorado-sanduíche, levou-me a desenvolver uma outra perspectiva sobre o Brasil e, pela primeira vez, fez-me confrontar com uma identidade latino-americana. Uma década depois, com o pós-doutorado, somou-se o ano de residência em Londres, cidade ainda mais global e cosmopolita, contribuindo para mudar uma perspectiva sobre o mundo, numa interação entre suas múltiplas escalas. Nasci no final dos anos 1950 (31 de março de 1958) no interior semirrural do Rio Grande do Sul – a pequena São Pedro do Sul, da qual não guardei lembranças, pois com poucos meses de vida minha família (então com um casal de irmãos) mudou para a zona rural de Mata, vila que só se emanciparia de General Vargas (depois denominada São Vicente do Sul) em 1965. Ali nasceu outra irmã – somos uma família de quatro irmãos – e foi onde passei meus primeiros cinco anos de vida. Uma vida marcada pela atividade no campo e pelo contato com a grande família de avôs, tios e primos Haesbaert que viviam na localidade chamada São José do Louro . (3) Enquanto a família de meu pai era descendente de portugueses que povoaram a chamada Campanha Gaúcha, minha mãe descendia de migrantes alemães – meu tataravô (Johan Peter Haesbaert), proveniente de Hamburgo, na Alemanha, foi o primeiro pastor luterano na fundação de Novo Hamburgo. A união de meus pais revela um pouco a integração entre Serra (“Colônia” ítalo-germânica, minifundiária e agrícola) e Campanha (de herança luso-espanhola, latifundiária e pastoril) que marcou a história do Rio Grande do Sul. Esse legado migrante e esse encontro de geografias marcaria também a minha trajetória acadêmica até o doutorado, e ajuda a compreender um pouco porque região, identidade, território e des-territorialização estiveram sempre no centro de minhas investigações. É interessante perceber que, desde pequeno, sem uma razão clara, até porque estava envolvido concretamente num ambiente geográfico bastante limitado, sentia-me atraído por espaços distantes e desde muito cedo a curiosidade por saber o que se passava em outros cantos do mundo se revelou muito forte, o que incluía o meu inusitado interesse por mapas. Aos seis anos de idade, mesmo morando na zona rural, meus parentes e algumas visitas se divertiam me convidando a subir num banquinho e “discursar” sobre cidades e países distantes. Um tema recorrente era o Rio de Janeiro e o Pão de Açúcar, conhecido através de capas de “folhinhas”, os calendários da época. A partir dos sete anos passei a pedir como presente de aniversário e Natal lápis de cor e cadernos com paisagens na capa para neles (re)desenhar mapas e descrever diferentes regiões do mundo. Dos nove para os dez anos cheguei a redigir, manuscrito, um “almanaque mundial” de países para a biblioteca da escola. É curioso relembrar o quanto, na infância e adolescência, a ansiedade (às vezes até a angústia) me tomava na busca por uma alternativa a um mundo que muitas vezes me parecia por demais acanhado e opressor. Minha inusitada paixão pelos mapas e descrições de lugares e a leitura/escrita como “diversão predileta” me tornavam de certa forma um estranho nesses ambientes onde transitava, lugarejos cuja condição urbana – ou urbanidade – era ficção dentro da alargada definição político-administrativa de urbano como toda sede de distrito (“vila”) ou município (“cidade”), independente da população. No interior do Rio Grande do Sul, marcado por uma forte cultura de raízes patriarcais e machista, as barreiras do controle social eram ainda mais cerceadoras. Isso me leva a imaginar que também podemos discutir uma espécie de desterritorialização em nível pessoal, mais subjetiva ou psicológica, quando também individualmente nos vemos como que descontextualizados do espaço-tempo em que vivemos e ao qual, de início sem nenhuma alternativa de escolha, fomos atrelados. A mudança da zona rural – São José do Louro – para a vila de Mata veio acompanhada da minha entrada na única escola local, o “Grupo Escolar”. Embora diminuta, sem nenhuma rua calçada, a vila – que se emanciparia no ano seguinte à nossa chegada – era servida por trem, uma grande atração, que me amedrontava e seduzia ao mesmo tempo. O trem significava a conexão mais vigorosa com o mundo, o vínculo com o desconhecido, a grande abertura para outras geografias. Uma diversão era, do alto da coxilha, contar os vagões do trem; outra, reunir pilhas velhas transformadas em trens deslocados em sulcos pelo chão. A chegada do “P”, o trem de passageiros, mobilizava o vilarejo. Lembro de meu aniversário de seis anos e a coincidência com a dita “revolução”, o golpe militar de 1964. Foi minha primeira viagem de trem, com meu pai, convidado por minha tia e madrinha, que aniversariava um dia antes e que residia em São Pedro do Sul. Viagem de apenas 30 quilômetros, mas que para mim pareceu enorme. Lamentei foi antecipar a volta, todos atentos à “ameaça de guerra” e a mobilização do exército na vizinha Santa Maria, cidade que, na época, dizia-se, abrigava o segundo maior contingente militar do Brasil, dada sua posição geopolítica equidistante das fronteiras então mais sensíveis do país, com a Argentina e o Uruguai. A religiosidade era forte. Fiz a “primeira comunhão” aos 7 anos de idade e compareci a uma reunião convocada pelo pároco com jovens voltados à “vocação sacerdotal”. Para lugarejos rurais ou quase rurais como aquele, o seminário, localizado num centro regional da Campanha, Bagé, era a grande oportunidade para garantir educação gratuita e o prosseguimento dos estudos, já que em Mata só havia “ensino primário”, até a atual quinta série. Lembro da enorme frustração quando o padre me considerou muito criança para decidir sobre o sacerdócio, deu-me um livreto ilustrado sobre a vida no seminário e mandou-me de volta para casa. Minha família era marcada pela instabilidade financeira e pela des-reterritorialização: ao longo de meus primeiros 20 anos de vida mudamos 10 vezes, numa média de uma mudança de residência a cada dois anos. Com isso, mudava também a escola, e os transtornos eram grandes. Apenas para um exemplo, ao mudarmos de São Vicente do Sul (então chamada General Vargas) para Santa Maria eu havia estudado francês como segunda língua e fui obrigado, nas férias, por minha conta, a estudar inglês para poder acompanhar os estudos. Ao nos mudarmos de Mata para São Vicente do Sul, meus irmãos mais velhos que, para estudar, moravam com os avós em Santa Maria, tiveram uma enorme perda ao trocarem uma excelente escola pública pelo único “Ginásio” de São Vicente do Sul. Ali, mesmo no início da adolescência, estudando à noite, eles começaram a trabalhar – minha irmã como balconista numa livraria e meu irmão vendendo passagens na estação rodoviária. Eu, mesmo entre nove e dez anos, também consegui um trabalho como vendedor de revistas a domicílio. Em Santa Maria, aos 14, teria meu primeiro emprego com carteira assinada, como auxiliar de empacotador. Uma grande frustração de meu pai era eu e meu irmão não nos envolvermos com ele nas “lides campeiras”. Autoritário e com um severo e muito próprio senso de justiça, meu pai era um típico representante da cultura gaúcha pastoril, e nossa reação, como que negando a vida do campo, ele muito criticou. Relutou muito em mudar para uma cidade maior para que pudéssemos estudar. Minha mãe, ao contrário, sempre gostou de ler e estudar, mas não teve a oportunidade de ir além da terceira série (dizia que havia aprendido na escola rural tudo o que a professora sabia). Ela é quem nos estimulava para que buscássemos outro caminho. Assim, foi graças ao auxílio dos filhos formados (meu irmão é médico e minha irmã mais velha, como eu, professora universitária) que meus pais tiveram uma velhice mais tranquila. Não eram raras as reações enérgicas e mesmo violentas de meu pai a uma resposta contrária a comandar uma carreta e uma junta de bois ou a colocar os arreios e fazer um percurso (que ele nos forçava) a cavalo. Aos seis anos eu já tinha a tarefa, todas as tardes, de buscar o terneiro no campo, o que pra mim representava uma provação, pois era comum o bezerro sair em disparada e eu, para a indignação de meu pai, chegar em casa chorando porque não havia logrado o intento. Minha identificação, definitivamente, não era com o ritmo e a tranquilidade do campo que meu pai tentava, a muito custo, nos impor. Preferia a agitação dos centros urbanos – mesmo que uma cidade “de verdade”, como a vizinha Santa Maria, fosse apenas alcançada nas férias a partir de uma muito esperada viagem de fusca proporcionada por um tio que ali residia. Em casa, inovações tecnológicas como luz elétrica e rádio só chegariam por volta dos sete anos de idade. Desenhava-se assim, gradativamente e com muita dificuldade, uma nova geografia, para mim muito mais múltipla e estimulante. O professor de Geografia do 1º ano do então Ginásio (hoje correspondente à 5ª série, pois na 4ª realizei o então temido “exame de admissão”) convidou-me para um concurso em plena praça de São Vicente do Sul durante a Semana da Pátria, onde até o prefeito e o pároco locais formulavam perguntas. Ganhei como prêmio um dicionário de quatro idiomas ilustrado com mapas e entrada grátis para o cineminha local por dois anos. Lembro que isso me fez ficar muito conhecido, mas a sensação era a de ser percebido como alguém “fora do lugar”, que vivia na biblioteca ou enfurnado nos livros. A paixão pela Geografia continuou se fortalecendo e a nova mudança, para Santa Maria, cidade média de mais de cem mil habitantes à época, sede da primeira universidade pública do interior do país, fundada em 1960, representou a primeira grande ruptura na minha trajetória de vida. Ali também, logo após a chegada, participei de vários concursos sobre Geografia (através de um programa de rádio chamado “Música e Cultura”, cujo prêmio era um determinado valor para gastar numa loja de roupas da cidade). Foi aí que me deparei com a clássica Geografia dos livros didáticos de Aroldo de Azevedo, que eram indicados para leitura pelo programa. Logo depois da chegada a Santa Maria, criei o “Clube Amigos da Quadra” entre os vizinhos de quarteirão e passei a organizar um jornalzinho mimeografado, que tinha até “patrocinador” (um dos vizinhos que trabalhava numa concessionária de automóveis). A partir daí comecei a pensar se faria também o vestibular para Comunicação Social – “também”, porque para Geografia nunca tive dúvida. Cursar “Tradutor e Intérprete” como ensino profissionalizante no “Científico” (atual ensino médio) também foi mais um estímulo para escrever. Acabei publicando algumas crônicas no diário “A Razão”, todas elas de natureza geográficas. O quanto um ambiente social e geográfico representa condição básica na trajetória de quem pertence às classes subalternas às vezes só é devidamente percebido quando nos deparamos com algumas situações concretas. Algum esforço a nível individual, é claro, deve ser considerado, mas, além do fato de ele obrigatoriamente ser muito mais árduo no caso dos subalternos, as condições do que, simplificadamente, denominamos “ambiente social e geográfico” é fundamental, sobretudo no que se refere às oportunidades favorecidas pelo Estado em termos de ensino público de qualidade e empregos e/ou bolsas como garantia de alguma autonomia financeira. Na impossibilidade de realizar grandes viagens, eu acabava viajando por mapas e enciclopédias. Durante um tempo passava todos os sábados na biblioteca pública de Santa Maria. Numa família grande, de 14 tios e inúmeros primos, felizmente pude contar também com a ajuda de parentes distantes: uma prima de Criciúma, em Santa Catarina, patrocinou minha primeira viagem para conhecer o mar, sozinho, aos 11 anos (com troca de ônibus em Porto Alegre); um primo que se aventurou a trabalhar numa companhia de navegação no exterior e foi parar na Suécia pagava os fascículos de minha coleção de Geografia Ilustrada e, de vez em quando, me presenteava pelo correio com exemplares (muito esperados) da National Geographic. Nesse circuito é importante acrescentar ainda, mais tarde, um presente fundamental na minha formação: no início do ensino superior, escrevendo ao IBGE, fui brindado com uma coleção de dezenas de exemplares do Boletim Geográfico e da Revista Brasileira de Geografia. Outra fonte básica de informação e que me proporcionou “viajar” por lugares muito distantes, fazendo uma espécie de conexão local-global pré-internet, foram os correspondentes postais. Depois de uma argentina que conheci na rodoviária de São Vicente do Sul e que me enviava folhetos da agência de turismo em que trabalhava, de uma chilena de Valparaíso (a partir de anúncio em diário de Porto Alegre, e que só recentemente fui conhecer pessoalmente), expandi amplamente o número de correspondentes ao colocar anúncio numa revista do Rio de Janeiro destinada ao público jovem e onde propunha “trocar selos, mapas e postais”. Cheguei a receber mais de 100 cartas e mantive cerca de 30 correspondentes durante vários anos, alguns deles do exterior, como Canadá (que depois me visitou em Santa Maria), Alemanha (que depois visitei em Nuremberg) e México. Essa foi a primeira forma que encontrei para, de algum modo, partilhar múltiplas territorialidades, conhecendo outras culturas e preparando o terreno para contatos que puderam se materializar, tempos depois, com viagens efetivas pelo Brasil e pelo mundo. Em síntese, essa foi minha “entrada”, na infância e na adolescência, no universo geográfico dos mapas e da descrição de lugares, regiões e países, que me levou a desenvolver uma grande admiração pela Geografia – nem tanto a “ciência geográfica”, que eu ainda mal conhecia, através de mapas e descrições elementares, mas a geografia cotidiana, vivida, que tanto afeta o senso comum através da simples curiosidade por saber o que se passa em outros cantos do mundo e do quanto é rica – e desigual – a diferenciação do ecúmeno terrestre. Essa multiplicidade de territórios que, concreta ou virtualmente, iam se sobrepondo na minha trama de vida, sem dúvida ajuda a entender a força futura de minha percepção da multi ou mesmo transterritorialidade de tantos grupos sociais – alguns diriam até, da condição multiterritorial inerente à condição humana. Condição essa que, dependendo da situação econômica e cultural, não só permite vivenciar, concomitantemente, múltiplos territórios, como também oferece distintas – e profundamente desiguais – possibilidades de transitar entre territórios diferentes. De algum modo, desde pequeno, desconfortável com a territorialidade que me era imposta, estive em busca de um outro espaço, e esse outro, eu descobriria ainda na adolescência, na verdade, também era parte de mim mesmo. A desterritorialização que vivíamos com tanta troca de residência era experimentada também subjetivamente: meu território era múltiplo, e Santa Maria seria apenas o começo de uma longa trajetória de busca e trânsito por múltiplas territorialidades. A Geografia que recebi em minha formação básica na Universidade Federal de Santa Maria, na segunda metade dos anos 1970, em pleno ensaio para a saída da ditadura militar, foi basicamente uma Geografia tradicional e amplamente descritiva. Mas, pautado numa herança “enciclopédica” (ao memorizar as capitais, o desenho e características dos diferentes países do mundo), eu não condenava essa Geografia. O que me indignava eram professores que, como a esposa e a filha do reitor (professoras de Geografia medíocres que, por nepotismo, se tornaram docentes universitárias), usavam uma descrição tão elementar e inútil que suas aulas se transformavam num exercício de paciência e comiseração. “Virou lenda” a leitura em sala de aula, durante mais de um mês, da carta de Pero Vaz de Caminha na disciplina de Geografia do Brasil. Alguns professores, entretanto, como os de Geomorfologia (o geógrafo e exímio desenhista Ivo Muller Filho) e Geologia (o geólogo Pedro Luiz Sartori) foram marcantes. A tal ponto que nos dois primeiros anos minha inclinação maior foi pela Geografia Física – até hoje com carga inicial mais forte na maioria dos cursos de graduação. Já no segundo semestre do curso assumi a monitoria de Mineralogia e Petrografia, o que me levou, mais tarde, a ser convidado pelo professor Pedro para um inesquecível trabalho de campo com coleta de amostras de rochas em todo o planalto catarinense, de Chapecó, no oeste, a São Joaquim, no leste do estado (4). Também graças a essa formação uma das primeiras disciplinas que ministrei no ensino superior (na FIC – Faculdade Imaculada Conceição, hoje Universidade Franciscana, em Santa Maria) foi Mineralogia. Um currículo que em nada parece se relacionar com as linhas de pesquisa que segui logo depois, mas que marcou de tal modo minha formação que a isso delego a constante preocupação em não dicotomizar sociedade e natureza, Geografias Física e Geografia Humana. Isso já estava evidente em um de meus primeiros artigos de divulgação, “Pela unidade da Geografia”, publicado no diário Correio do Povo, de Porto Alegre, em 1979; (5) Eram tempos complicados, politicamente turbulentos, com o início da “abertura”, e geograficamente agitados, com a disputa entre uma Geografia quantitativa de matriz neopositivista, dita também pragmática, por suas ligações com o planejamento, e uma Geografia crítica de matriz marxista, recém chegada ao contexto brasileiro. Em Santa Maria, de certo modo uma “periferia distante”, ainda dominada por uma Geografia “tradicional” e descritiva, eu vivia um duplo dilema. Difundida desde o final dos anos 1960 no Brasil, especialmente na UNESP-Rio Claro, no IBGE e na UFRJ (onde ainda em 1982 fui obrigado a fazer provas de Matemática e Estatística para ingressar no mestrado), a chamada Geografia quantitativa só apareceria no final do curso de graduação e a novata Geografia crítica marxista simplesmente, na UFSM, não existia. O ingresso na primeira turma do curso de bacharelado (curiosamente denominado “curso de Geógrafo”, como constava até na pasta vendida pelo Diretório Acadêmico) deu-se após novo exame vestibular, depois de já ter cursado um ano de licenciatura. A conhecida hesitação dos cursos de Geografia, Brasil (e mundo) afora, entre as áreas de Ciências Humanas e Exatas/Naturais chegou ao extremo de colocar-se o curso de bacharelado num Centro (o de Ciências Matemáticas e da Natureza como ocorre, por exemplo, com o curso de Geografia da UFRJ) e o de licenciatura em outro (Filosofia e Ciências Humanas, como na Geografia da USP). O contexto político da época também merece ser comentado, principalmente porque estive envolvido diretamente com a política estudantil, presidindo um Diretório Acadêmico. A politica altamente conservadora do período militar fazia com que a grande maioria do movimento estudantil, principalmente em universidades interioranas como Santa Maria, fosse cooptado pela Arena, o partido governista (e sua fictícia oposição, o MDB, que assegurava a máscara democrática do regime). Durante vários anos experimentei o ocultamento pela mídia do que se passava no país, especialmente para quem vivia no interior e sem acesso às raras mídias de oposição, associado a uma avalanche de publicações governamentais (algumas gratuitas, como a revista “Rodovia”, que eu recebia). Infelizmente só fui adquirir efetiva consciência política através de um radinho de ondas curtas (onde sintonizava programas em português de rádios como Deutsche Welle, Central de Moscou e Rádio Pequim), com alguns correspondentes estrangeiros que enviavam artigos de exilados brasileiros (como Francisco Julião, das Ligas Camponesas, no México) e, já no terceiro ano de universidade, a participação, fundamental, no Congresso Nacional de Geógrafos de Fortaleza em 1978. O fascínio pelas viagens, quaisquer que fossem, por lugares diferentes, faz parte do meu envolvimento, desde a infância, com uma espécie de “heterotopia” que bem mais tarde fui descobrir, primeiro em Foucault, depois em Lefebvre – na verdade este antecedendo àquele em termos de proposição. Para Lefebvre, em sua teoria do “espaço diferencial”, comentada em “A Revolução Urbana”, a heteropia é o “o outro lugar e o lugar do outro, ao mesmo tempo excluído e imbricado” (2004:120) – e que, ele fazia questão de enfatizar, não era representada pela separação, pela segregação que, mesmo lado a lado, distancia, e sim pelos contrastes, superposições e justaposições – uma espécie de multiterritorialidade. Para este autor, as diferenças e a heterotopia, condizente com minha atração pelas cidades, referia-se basicamente ao urbano, pois “as diferenças que emergem e se instauram no espaço não provêm do espaço enquanto tal, mas do que nele se instala, reunido, confrontado pela/na realidade urbana” (2004:117). Como lugar de encontro e sobreposição de diferenças, dirá Lefebvre, “todo espaço urbano teve um caráter heterotópico em relação ao espaço rural” (2004:117) – embora hoje, com as novas tecnologias, nem tanto. Para uma criança e adolescente como eu, morador do campo e de embriões de cidades, as diferenças brotavam de uma apropriação do espaço em que era impossível segmentar a diferença que o próprio espaço dito natural incorporava, “produzia”, e a diferença mais estrita dessa perspectiva urbana lefebvreana. O espaço, em maior ou menor grau de urbanidade, para mim, até hoje, é um “potencializador de diferenças” (ou da multiplicidade, como diria Massey [2008]) – o espaço geográfico, em seu mais amplo sentido, efetivamente, “faz diferença” – ou melhor, pode fazer diferença, dependendo da sensibilidade e do “afeto” (a capacidade de afetar e ser afetado) constituinte da geo-história de cada um de nós. A ida ao III Encontro Nacional de Geógrafos, em Fortaleza, foi outro momento de ruptura muito representativo. A viagem foi realizada com grande dificuldade – consegui dinheiro emprestado com meu avô e tive o apoio de amigos correspondentes ao longo dos quatro dias de percurso. O momento mais aguardado era o do retorno de Milton Santos ao país, depois de muitos anos de uma espécie de autoexílio no exterior. A mesa-redonda que ele dividiu com Maurício Abreu, representante de outra linha teórica, a geografia quantitativa neopositivista de matriz norte-americana, tornou-se até hoje um momento emblemático da Geografia brasileira. Maurício se tornaria depois meu professor no mestrado e um de meus maiores amigos . (6) O Encontro de Fortaleza também me proporcionaria a leitura da cópia clandestina de “A Geografia, isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra”, de Yves Lacoste, fotocopiada e distribuída durante o evento por estudantes da Universidade Federal Fluminense. Com relação à ruptura com a visão tradicional e conservadora de Geografia veiculada pelo curso, ressalto dois fatores principais: meu empenho em participar desses eventos da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), fundamentais na minha formação extracurricular, e o contato com professores externos, alguns convidados especialmente para ministrar módulos de disciplinas do bacharelado que não encontravam docentes no nosso próprio Departamento, como “Geografia Teorética” (um dos nomes equivocados da Geografia quantitativa neopositivista) e “Geografia Aplicada”. A primeira foi ministrada por Dirce Suertegaray, uma de nossas poucas professoras com pós-graduação (nesse caso, mestrado na USP), contratada como colaboradora já que estava vinculada também à Unijuí (universidade desde então reconhecida por posicionamentos críticos). Dirce, que depois foi também diretora da AGB, é hoje uma das mais reconhecidas pesquisadoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. “Geografia Aplicada”, ministrada de forma concentrada, coube aos geógrafos convidados Aluizio Capdeville Duarte e Luiz Bahiana, do IBGE/Rio de Janeiro. Destaque especial teve Aluízio Duarte, responsável depois, via correio, pela orientação de minha monografia de conclusão de curso, relativa à delimitação da área central de Santa Maria. Ele havia realizado pesquisa, referência relevante, sobre a área central do Rio de Janeiro e teve, depois, participação importante no debate que travei sobre a questão regional durante o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com base na herança dos encontros e cursos da AGB, até hoje incentivo muito os estudantes a participarem desses eventos, fundamentais para fortalecer o espírito crítico e estimular a abertura para novos horizontes teóricos. Os encontros e cursos promovidos pela AGB, tanto em nível nacional quanto estadual (a sempre atuante AGB-Porto Alegre), foram, assim, imprescindíveis na minha formação. Foi num desses encontros estaduais, em Caxias do Sul, que tive travei meu primeiro contato pessoal com Bertha Becker, depois minha orientadora de mestrado na UFRJ. Meu grande dilema intelectual na graduação foi que, ao mesmo tempo em que me deparava com autores, principalmente geógrafos ligados ao IBGE e à UNESP de Rio Claro, que abraçavam uma Geografia neopositivista ou quantitativa que eu praticamente desconhecia, também tomava conhecimento da renovação crítica proporcionada pela Geografia de fundamentação marxista, representada principalmente pelas figuras de Yves Lacoste em sua “revolucionária” perspectiva de uma Geografia “para fazer a guerra”, e Milton Santos, o grande geógrafo brasileiro que retornava de sua espécie de exílio e que acabaria sendo meu professor durante o mestrado na UFRJ e o doutorado na USP. Como as mudanças nunca são lineares e unidirecionais, não se pode esquecer do convívio concomitante com a crítica, de caráter mais epistemológico (e menos político-ideológico), da chamada Geografia Humanista – aqui mais conhecida, à época, como “Geografia da Percepção”. Nesse sentido foi muito importante um minicurso ministrado em 1980 pela geógrafa Lívia de Oliveira, uma das pioneiras desse pensamento na Geografia brasileira. Também ficou nítida para mim a relevância dessa perspectiva mais subjetiva do espaço quando de uma crítica que foi feita a meu trabalho sobre a delimitação da área central de Santa Maria, no Encontro da AGB em Porto Alegre, em 1982 . (7) Um outro momento de ruptura espacial que representou uma transformação efetiva no meu modo de ver a Geografia – e o próprio espaço vivido – foi o saída de Santa Maria para cursar o mestrado no Rio de Janeiro, “com a cara e a coragem”, em 1982. Na verdade, minha intenção inicial era cursar pós-graduação na Universidade de São Paulo – principalmente pela maior identificação com a linha teórica crítica ali predominante. A opção pelo mestrado na UFRJ, mesmo com seus temidos exames de Matemática e Estatística, deu-se em função, fundamentalmente, de três fatores: a forma mais democrática de seleção – um concurso geral e aberto – ao contrário da USP, onde o ingresso era (e ainda é) feito diretamente com o orientador e suas vagas; o antigo fascínio pela cidade e o fato de já ter conhecido a geógrafa Bertha Becker, que me estimulou a candidatar-me ao mestrado em sua instituição. A escolha pelos temas da diferença/desigualdade regional e da identidade pode ser vinculada às experiências vividas no interior do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, percebendo o encontro entre duas visões de mundo, muitas vezes antagônicas, simbolizadas pelas geografias e histórias diversas de meu pai e minha mãe. Enquanto o primeiro representava o velho “gênero de vida” gaúcho-campeiro, identificado com a pecuária extensiva e o latifúndio e amplamente moldado pelas práticas do chamado tradicionalismo gaúcho, minha mãe carregava uma herança imigrante da “Serra” minifundiária, pautada na ética protestante da ascensão social pelo trabalho, principalmente o trabalho agrícola. Em segundo lugar, acredito que essa minha aproximação com o tema identitário (que se estenderia até meu doutorado) teve relação também com a busca por explicar a questão identitária representada, em nível mais individual, pela nem sempre fácil relação travada com meu pai e, através dele, com a identidade regional em seu conjunto. A identidade vista enquanto processo ambíguo e contraditório está, assim, indissociavelmente ligada às dinâmicas de diferenciação, pois só se constrói o “idêntico” (ou o “semelhante”) pela construção, concomitante, do diferente. Esse jogo permanente entre identidade e diferença está moldado sempre, é claro, como enfatizado na dissertação de mestrado em relação à identidade gaúcha, por um histórico de desigualdade e poder onde hegemonia e subalternidade se conjugam na imposição daquilo que Gramsci, reunindo coerção e consenso, definiu como bloco hegemônico ou bloco histórico – neste caso, também, um bloco agrário. Ao falar dessa construção teórico-conceitual não há como, agora, através dessas memórias, não retomar meandros da própria relação com meu pai, sempre contraditória. Minha relação com seu espaço de referência identitária, a Campanha gaúcha, seria moldada por uma profunda ambiguidade, entre a atração e a repulsa. Vagar por aquele horizonte aberto do Pampa era um convite ao desafio (misto de fascínio e temor) pela abertura permanente para o novo, o ilimitado, e pela sensação de vulnerabilidade e não ocultamento do que ainda está por surgir. Os imensos latifúndios são ao mesmo tempo símbolo de liberdade e de dominação, através das cercas impostas sobre o modo de vida livre dos povos originários. Meu pai também portava, um pouco, essa representação: rígido, intempestivo, temido e marcado por uma afetividade reprimida, um forte e muito próprio senso de justiça, ao mesmo tempo que imerso em uma recorrente situação de fragilidade econômica. O mestrado na UFRJ e a vivência da cidade do Rio de Janeiro para um gaúcho do interior do Rio Grande do Sul foi um dilema e um enorme aprendizado. A dificuldade da adaptação foi grande, mas o Rio era também um espaço profundamente estimulante, onde tive o privilégio de viver experiências marcantes, incluindo as políticas, como a campanha eleitoral de Brizola e as manifestações pelas Diretas-Já. Com as dificuldades financeiras, não conseguindo sobreviver apenas com a bolsa e a poupança que havia construído, tive de recorrer a vários empregos, começando por dar aulas para o “1º Grau” (da 6ª à 8ª séries) em Jacarepaguá e Botafogo, fazendo concurso para o magistério estadual (aulas para adultos no Sambódromo) e para o ministério da Aeronáutica (aulas para 2º Grau no Colégio Brigadeiro Newton Braga, na ilha do Governador) e também dando aulas na PUC-Gávea, para só enfim, em 1986, ingressar na Universidade Federal Fluminense. Entre os professores do mestrado, além dos geógrafos Bertha Becker, Maria do Carmo Galvão, Roberto Lobato Corrêa e Maurício Abreu, da socióloga Ana Clara Ribeiro e do filósofo Hilton Japiassu, tive o privilégio de ser aluno de Milton Santos, durante sua rápida passagem pela UFRJ. No período em que cursei sua disciplina, fui convidado para trabalhar em sua pesquisa sobre as transformações urbanas na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente as consequências do Projeto Rio, que então se desdobrava na área do Complexo de favelas da Maré. Esse projeto implicava na remoção de um grande número de famílias da zona de palafitas para conjuntos habitacionais – agora mais próximos, dadas as críticas sofridas pelas remoções para áreas distantes, efetuadas na década de 1960 (caso, emblemático, da Cidade de Deus) . (8) Milton Santos teria um papel importante na minha formação. Primeiro, pelo significado de sua fala no Encontro de Geógrafos de Fortaleza, em 1978. A partir daí, as leituras de livros como “Por uma Geografia Nova”, “O espaço dividido” e “Economia Espacial: críticas e alternativas” (que ganhei de meu pai como presente de formatura) foram decisivas. Além do convite para a pesquisa na favela da Maré, no congresso da AGB em Porto Alegre (1982) ele me apresentaria o geógrafo Jacques Lévy. Uma década depois, com o próprio incentivo de Milton (e uma carta de apresentação que até hoje muito me orgulha), Jacques Lévy se tornaria meu orientador durante a bolsa de doutorado sanduíche no Instituto de Estudos Políticos de Paris. Tentei a orientação de Milton no doutorado, na USP, mas ele estava sobrecarregado de orientações. Destaco, entretanto, suas relevantes contribuições através da disciplina que cursei e de sua participação no exame de qualificação, além do generoso prefácio que fez ao livro que resultou da tese, “Des-territorialização e identidade: a rede ‘gaúcha’ no Nordeste” (Haesbaert, 1997) (9) . No doutorado tive a orientação do geógrafo Heinz Dieter Heidemann, cujo grupo de debates muito me estimulou durante o período em que, mesmo morando no Rio de Janeiro, viajava semanalmente para o doutorado na USP. As atividades desenvolvidas com Bertha Becker durante o mestrado também devem ser ressaltadas. Com ela participei de projetos e organizei eventos, com destaque para um encontro internacional da UGI, em Belo Horizonte. Um desses eventos resultou no livro “Abordagens Políticas da Espacialidade” (Becker, Haesbaert e Silveira, 1983), com a participação dos geógrafos Edward Soja, Arie Schachar, Walter Stöhr e Miguel Morales. A pesquisa de mestrado resultou no livro “RS: Latifúndio e identidade regional” (Haesbaert, 1988), tendo como principal contribuição a elaboração de um conceito de região a partir da realidade econômica, política e cultural da Campanha gaúcha. (10) A questão regional atravessou diretamente minha vida acadêmica ao longo de toda a década de 1980 e tem a ver não apenas com o regionalismo e a identidade regional vividos, mas também com a aposta em uma Geografia minimamente una e “integradora”. Começou pela publicação do livro “Espaço & Sociedade no Rio Grande do Sul” (Haesbaert e Moreira, 1982) e de um breve artigo sobre a regionalização do Rio Grande do Sul (na ótica centro-periferia), em 1983. A questão seria retomada em pelo menos três livros na década de 1990: “Blocos Internacionais de Poder”, de 1990 (com diversas reedições), “China: entre o Oriente e o Ocidente”, de 1994a, e “Globalização e Fragmentação no mundo contemporâneo” (como organizador e autor de dois capítulos), em 1998 (com segunda edição atualizada em 2013). Esses últimos, juntamente com “A Nova Desordem Mundial”, escrito com o colega Carlos Walter Porto-Gonçalves, em 2006, constituem o resultado, em grande parte, de minha inserção, desde 1985, na Universidade Federal Fluminense, na área de “Geografia Regional do Mundo” – uma área pouco valorizada em termos de pesquisa se comparada com outras áreas da Geografia, pelo menos no Brasil. Por isso esses trabalhos de divulgação, de ampla inserção paradidática (“Blocos Internacionais de Poder” foi adquirido em programa governamental para bibliotecas escolares), vieram preencher uma lacuna, especialmente em relação ao ensino, onde são temáticas recorrentes, mas com grande carência de bibliografia. Abriram também perspectivas mais amplas de minha participação em projetos educativos, como a consultoria ao suplemento cartográfico “Mundo – Divisão Política” (jornal O Globo, 1993), debate e consultorias na TV Futura/Fundação Roberto Marinho (1995-96), e convites para minicursos em instituições como o Colégio Pedro II e a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Durante praticamente todo meu período de Universidade Federal Fluminense trabalhei com teoria da região/regionalização. Desses debates resultaram artigos como “Região, Diversidade Territorial e Globalização” (1999) e “Morte e vida da região: antigos paradigmas e novas perspectivas da Geografia Regional” (apresentação na UNESP-Presidente Prudente, 2001). Finalmente, em 2010, publiquei o livro “Regional-Global: dilemas da região e da regionalização na Geografia contemporânea”, publicado também em espanhol em 2019. Como contribuições teóricas, além do conceito de região já comentado, propus a noção de “rede regional” (Haesbaert, 1997), a partir da experiência des-re-territorializadora dos migrantes sulistas (ditos “gaúchos”) no interior do país. No livro “Regional-Global” elaborei a concepção de região como arte-fato, a fim de superar a dicotomia entre região como simples artifício metodológico e a região como fato concreto, evidência empírica . (11) Boa parte dessas proposições teórico-conceituais teve como pano de fundo importantes trabalhos de campo, como os que desenvolvi na Campanha gaúcha, no mestrado, nos cerrados nordestinos (especialmente o oeste baiano), no doutorado, no leste paraguaio (com os “brasiguaios”), durante a primeira pesquisa como bolsista CNPq (1998-2002), e na fronteira Brasil-Paraguai (especialmente no Mato Grosso do Sul) durante o projeto de regionalização da faixa de fronteira desenvolvido junto com o grupo Retis, da UFRJ . (12) Outro reflexo dessa importância da questão regional em minhas investigações foi o nome dado a nosso grupo de pesquisa, criado em 1994 como “Núcleo de Estudos sobre Regionalização e Globalização (NUREG)”. Somente em 2020, com a entrada de um segundo “líder”, Timo Bartholl, ele teve sua denominação modificada para “Núcleo de Estudos Território e Resistência na Globalização”, mantendo, entretanto, a mesma sigla. O NUREG, juntamente com o PET – Programa Especial de Treinamento, que implantei na UFF em 1996 e em cuja tutoria permaneci por 4 anos, representaram ambientes de intenso debate, intercâmbio e pesquisa, tendo por ele passado inúmeros alunos de graduação, incluindo 18 bolsistas de iniciação científica, 14 bolsistas PET e 20 com trabalhos de conclusão de curso, estudantes de mestrado (29), doutorado (21) e pós-doutorado (9), além de pesquisadores estrangeiros em diversos tipos de intercâmbio. O primeiro grande projeto fundamentalmente teórico em nossas investigações veio com a pesquisa de pós-doutorado, realizada na Open University (Inglaterra), sob supervisão de Doreen Massey (2002-2003), com quem passou a ser desdobrado intenso intercâmbio pessoal e acadêmico .(13) Refiro-me às reflexões que resultaram no livro “O mito da desterritorialização: do ‘fim dos territórios’ à multiterritorialidade” (Haesbaert, 2004), que pode ser considerado meu trabalho de maior repercussão, já tendo onze edições em português e duas em espanhol (editora Siglo XXI, México). Este livro marca a consolidação de uma segunda grande linha conceitual de debates, já aberta antes da tese de doutorado, centrada no território e nos processos de des-reterritorialização. Embora só se tornem majoritárias na passagem dos anos 1990 para os 2000, as reflexões sobre o território vêm de longa data, remontando à influência dos trabalhos de Bertha Becker, Milton Santos e da leitura de Deleuze e Guattari, nos anos 1980. Bertha Becker incorporava o debate do território, especialmente em seus escritos sobre o papel do Estado e a “ordenação” do território. Um dos livros chave de Milton Santos nesse tema foi “O espaço do cidadão”, de 1987. Assim, em meio à finalização do livro “RS: Latifúndio e Identidade Regional”, escrevi um artigo publicado no suplemento “Ideias”, do Jornal do Brasil, em 1987, intitulado “Territórios Alternativos”. Nele eu destacava a relevância da perspectiva geográfica e as novas alternativas que se colocavam a partir da abordagem de autores como Michel Foucault e Felix Guattari (citando também Castoriadis e Baudrillard).(14) Esse artigo me inspiraria, quinze anos depois, abrindo e dando nome ao livro “Territórios Alternativos” (Haesbaert, 2002). A preocupação com o território se intensificou na década de 1990, com a publicação de artigos, especialmente em congressos – um deles é precursor, no título e no conteúdo, de proposições muito mais aprofundadas, uma década depois, em “O mito da desterritorialização”. Trata-se de “O mito da desterritorialização e as ‘regiões-rede’” (Haesbaert, 1994b), onde era discutida a íntima relação entre território e rede e a conceituação de território-rede (15). O livro resultante da tese de doutorado (Haesbaert, 1997) trouxe no próprio título a questão da des-territorialização e apresentou o conceito de multiterritorialidade, que seria desdobrado em trabalhos posteriores e representaria uma contribuição importante no nosso campo, inclusive entre cientistas sociais de outras áreas. Era uma época de tamanho domínio do debate territorial que território muitas vezes se confundia com a própria noção de espaço. Tentávamos ali, à luz da experiência migrante, precisar um pouco mais o conceito (16). A influência dos debates sobre território acabou se expandindo, especialmente com a publicação de “O mito da desterritorialização” (em 2004 no Brasil e em 2011 no México), influenciado pela obra de Deleuze e Guattari (especialmente “O Anti-Édipo” e “Mil Platôs”) e, uma década depois, “Viver no limite”. Neste livro diálogo com ideias como a biopolítica de Michel Foucault e o Estado de exceção de Giorgio Agamben, aprofundando noções como as de contenção, precarização e exclusão territorial. Empiricamente, volto-me para a realidade das favelas do Rio de Janeiro. Nos anos 2000 cabe mencionar também a participação em debates a nível governamental – além do projeto desenvolvido com a UFRJ para o Ministério da Integração Nacional, já comentado, ocorreu em 2003 a “Oficina sobre a Política Nacional de Ordenamento Territorial”, em Brasília. Ali, debatendo a concepção de território a ser incorporada nessa política, tive a satisfação de discutir com colegas geógrafos como Antônio Carlos Robert de Moraes (que, defendendo uma visão estatal, discordava de minha noção de território), Wanderley Messias da Costa e Bertha Becker. O debate foi intenso, principalmente entre uma visão que eu chamaria predominantemente “de cima para baixo”, das dinâmicas territoriais centrada na própria figura do Estado, e outra mais “de baixo para cima”, focada na vivência/prática cotidianas de seus habitantes. Diversos convites recebidos de áreas externas à Geografia, como a Sociologia, a História, os Estudos Culturais, as Artes, a Literatura, a Economia, a Comunicação e até mesmo a Medicina Social demonstram a amplitude de nossa inserção no debate sobre o território, a territorialidade e os processos de des-reterritorialização. O diálogo teórico-filosófico que pautava nossas reflexões buscou desde o início questionar as abordagens monolíticas e o autoritarismo de uma ciência objetivista e heterônoma sem, no entanto, menosprezar a busca pelo rigor conceitual, analítico, a permanente retroalimentação entre teoria e prática e, sobretudo, a prioridade à crítica social (17) . Foi assim que estivemos entre os primeiros geógrafos a questionar o excessivo racionalismo “moderno” em leituras materialistas mais ortodoxas e a inserir a dimensão cultural, mais subjetiva, na constituição do espaço geográfico. Evidências disso são artigos como “O espaço na modernidade” (escrito com Paulo Cesar da Costa Gomes em 1988), “Filosofia, Geografia e crise da modernidade” (de 1990) e “Questões sobre a (pós)modernidade” (de 1997), todos republicados em “Territórios Alternativos” (Haesbaert, 2002). No intenso debate que se travava na época entre modernidade e pós-modernidade, uma das proposições foi de que uma perspectiva distinta e transformadora da modernidade envolveria: ... a possibilidade de que, rompendo com os dualismos, se assuma um projeto profundamente renovador, que nunca se pretenda completo, acabado, que respeite a diversidade e assimile, ao lado da igualdade e do “bom senso”, a convivência com o conflito e a consequente busca permanente de novas alternativas para uma sociedade menos opressora e condicionadora – onde efetivamente se aceite que o homem é dotado não apenas do poder de (re)produzir, mas sobretudo de criar, e que a criação é suficientemente aberta para não se restringir às determinações da razão. (Haesbaert, 1990:84) O estágio de doutorado na França, sob supervisão de Jacques Lévy, entre 1991 e 1992 foi outro momento vivido de clara ruptura de trajetória, principalmente na minha perspectiva de olhar o mundo (aquilo que mais tarde eu definiria como a característica mais marcante potencializada pelo espaço geográfico: a mudança de perspectiva). Na França – e nas inúmeras viagens realizadas a partir dali, especialmente aquelas ao Marrocos e à China/Tibet (ambas em 1992) – pude perceber pela primeira vez uma “identidade latina” – ou “latino-americana” – que, de outra forma, não seria tão nítida (18). Esse impacto das viagens no modo de olhar o mundo – que começara virtualmente com os “correspondentes” da juventude – se fortaleceu a tal ponto que boa parte de minhas economias passou a ser canalizada para essas viagens. Além das muitas viagens a trabalho, onde quase sempre proponho acrescentar uma saída de campo, durante muito tempo planejei viagens de férias nas quais, sem outro compromisso que o de um relato, redigia escritos pessoais e tirava fotos que acabaram servindo como material para dois livros de crônicas: “Por amor aos lugares” (2017) e “Travessias” (2020). Essas viagens acabavam, de um modo ou de outro, problematizando a minha identificação pessoal e com os lugares. A questão identitária, assim, nunca saiu completamente do meu campo de preocupações. Meu memorial para professor Titular, ao qual recorri para parte deste relato biográfico, termina com o item “De volta ao início: questão de identidade”. Trata-se da busca permanente de um sentido de vida, sempre atrelado ao espaço onde nos movemos. Presente tanto no título do livro de minha dissertação de mestrado quanto no do doutorado, “identidade” é tratada a partir de sua caracterização como processo social (de “identificação”), de sua imbricação indissociável com relações de poder (o “poder simbólico”) e de sua multiplicidade. Assim, desde o artigo “Identidades territoriais”, de 1999, diversos trabalhos aprofundaram o debate teórico da questão, culminando em 2007 com a organização do livro “Identidades e territórios”, num projeto conjunto com Frederico Araújo (IPPUR-UFRJ). Durante alguns anos dividi com Perla Zusman (UBA) a representação latino-americana do comitê de Geografia Cultural da UGI, tendo como resultado evento e livro (“Geografías Culturales”, 2011), com a presença de geógrafos como Neil Smith, Gil Vallentine, Paul Claval, Jacques Lévy, Vincent Berdoulay, Daniel Hiernaux e Alicia Lindon, além de diversos brasileiros. Em duas realizações do “Simpósio Nacional Discurso, Identidade e Sociedade” (2001 e 2006), organizado pelo departamento de Letras da UFRJ e PUC-Rio, participei como membro da comissão científica e como conferencista, além de ter publicado capítulos de livro. Os eventos promovidos por artistas mineiros na Oi Futuro-Belo Horizonte e no Museu da Pampulha (além de outro, sem publicação, na FAOP-Ouro Preto), resultaram em obras bilíngues onde também publiquei dois capítulos de livro. A artista Marie Ange Bordas, que tem um reconhecido trabalho vinculado a campos de refugiados, estimulada por meu conceito de multiterritorialidade, convidou-me para participar de publicação por ela organizada e de mesa-redonda de lançamento da obra no SESC-Pompeia (São Paulo). Diversos outros debates envolvendo o tema foram realizados, incluindo análise da identidade brasiguaia, a questão do hibridismo cultural e, um pouco mais recente, uma associação entre transterritorialidade e antropofagia – essa forma muito brasileira, definida no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, de “deglutir” o outro e fazer dele, sempre, algo diferente. Maior hibridismo cultural, às vezes moldado de forma violenta e/ou compulsória, como aquele de muitas diásporas migratórias, mescla-se com novas formas de apego a identidades (nacionais, regionais, locais) tidas como fechadas e que, quando vinculadas a um território específico, alimentam o fenômeno dos novos territorialismos. Abre-se um amplo leque de questões, revalorizando a questão cultural-identitária, cultura vista sempre como cultura política, sem falar na mercantilização que até a imagem dos lugares pode transformar em instrumento de compra e venda. “Não concluindo”, com a questão da identidade (e toda a polêmica que envolve o tema nos nossos dias, incluindo aqueles que questionam o termo e propõem um tratamento teórico “para além da identidade”) podemos dizer que “voltamos ao início”, já que toda a nossa trajetória foi marcada, de um modo ou de outro, pela (des)construção identitária, seja em nível mais pessoal, seja em um nível acadêmico em sentido estrito. Isso para afirmar que nossos caminhos de investigação não podem nunca ser desvinculados das questões com as quais nos encontramos mais direta e pessoal e/ou socialmente envolvidos. Identidade/identificação lembra também o contexto espaço-temporal em que está inserido nosso pensamento, aquilo que hoje banalizou-se como “lócus de enunciação” ou “lugar de fala”. Pois é a partir da valorização desses contextos geo-históricos ou da nossa geopolítica do conhecimento (como diria, entre outros, Ramon Grosfoguel) que nos inserimos, a partir do debate pós-colonial nos anos 2000 (iniciado com a leitura de Stuart Hall), na abordagem dita descolonial, de bases latino-americanas. A participação em diversos eventos na Colômbia (universidades de Antioquia e Javeriana, de Medellín), na cidade do México, na Argentina (Mendoza e Córdoba, além de cursos ministrados em Tucumán e Buenos Aires), com estadas também em Cuernavaca e Zamora (México, onde conheci a experiência autonomista de Cherán), Quito (Equador, onde visitei uma comunidade cayambe), Lima (Peru) e Chile (com visita a uma comunidade mapuche) – tudo isso me despertou para a realidade latino-americana e acabou me levando a debater o conceito de território a partir do corpo (tal como proposto pelos movimentos feminista e indígena) e a refletir sobre a abordagem descolonial na Geografia. Isso resultou no meu último livro, “Território e descolonialidade”, publicado pela CLACSO/Buenos Aires. De alguma forma é a minha “identidade latino-americana” que finalmente se coloca no centro de minhas preocupações, em todo o jogo político-econômico que coloca a questão territorial numa inédita centralidade. Dois momentos iniciais que considero decisivos para essa guinada rumo ao chamado giro territorial (que eu denomino também multiterritorial) descolonial na América Latina, além das leituras iniciais sobre pós-colonialidade (que se fortaleceram no pós-doutorado com Doreen Massey, em 2002-2003), foram a redação do livro “Regional-Global”, cuja conclusão coloca claramente a questão, e a organização do “IV Encontro da Cátedra América Latina e Colonialidade do Poder: para além da crise? Horizontes desde uma perspectiva descolonial”, em 2013, juntamente com os colegas Carlos Walter Porto-Gonçalves, Valter Cruz (UFF) e Carlos Vainer (UFRJ). Nesta ocasião foram nossos convidados pensadores chave nessa perspectiva de pensamento, como Anibal Quijano, Catherine Walsh, Alberto Acosta, Edgardo Lander e Luis Tapia. É importante lembrar ainda que todo esse trabalho acadêmico estava sempre associado a atividades administrativas e em órgãos institucionais, como a vice-coordenação da Pós-Graduação por duas vezes (partilhada com o companheiro Marcio Pinon), a participação por vários anos no comitê do Vestibular e na avaliação PIBIC, além do comitê editorial da editora da UFF. Em nível nacional, participei do comitê assessor da Capes e fui representante de área junto ao CNPq. Participei ainda da fundação e, durante duas décadas, do comitê editorial da revista GEOgraphia. Nela ainda hoje sou responsável pelas seções Nossos Clássicos (que esteve também ligada ao livro “Vidal, Vidais”, organizado com os colegas Sergio Nunes e Guilherme Ribeiro) e Conceitos Fundamentais da Geografia (onde já participaram geógrafos convidados, como Paulo Cesar da Costa Gomes, Sandra Lencioni, Leila Dias, Werther Holzer e Iná de Castro). Poderia dizer, assim, que fui gradativamente ampliando minha escala geográfica em termos de envolvimento na investigação. Da área central de Santa Maria no trabalho de conclusão de curso aos gaúchos da Campanha, no mestrado, passei aos migrantes sulistas no Nordeste, no doutorado, segui ainda pelos brasileiros (a grande maioria sulistas) no Paraguai. Somente fui deixar o vínculo com os “gaúchos” (e sua/minha identidade) ao incorporar de fato o Rio de Janeiro e sua multiterritorialidade, o que ocorreu basicamente com a pesquisa “Sociedades de in-segurança e des-controle dos territórios”, efetivada entre 2007 e 2013. Foi quando iniciou, também, meu apoio a movimentos populares como o MCP – Movimento das Comunidades Populares, especialmente seu projeto na favela Chico Mendes, no complexo de favelas do Chapadão, uma das áreas mais problemáticas em termos de precarização social no Rio de Janeiro. A partir de 2014 a escala de pesquisa ampliou-se para o âmbito continental, tratando do “território como categoria da prática social numa perspectiva latino-americana”, consolidando assim a abordagem territorial a partir “de baixo”, de seu uso como ferramenta da prática, política, entre múltiplos grupos sociais subalternos. Como indiquei, essa ampliação veio como consequência tanto da intensificação do diálogo inspirador com colegas como Carlos Walter Porto-Gonçalves e Valter Cruz quanto dos laços com outros países da América Latina, na condição de professor visitante ou como membro efetivo de programas de pós-graduação (caso ainda hoje da Pós-Graduação em Políticas territoriales y ambientales da Universidade de Buenos Aires e do doutorado em Ciências Sociais da Universidade de Tucumán). Com isso chego ao final dessa “autobiografia”, intitulada “Múltiplos territórios de memória”. Lamento não ter conseguido alcançar plenamente algumas das metas colocadas de início, como não ser “euclidiano” no caráter sequencial e metódico do relato ou não dissociar razão e emoção, teoria e prática. Acabei conseguindo isso um pouco mais ao falar de minha infância e adolescência. Depois a trajetória intelectual acabou sendo priorizada. Mas espero que o leitor entenda – afinal, quem por ventura ler essas linhas, a maioria certamente será de geógrafos, interessados mais na geografia como campo “científico” do que na geografia individualmente vivida. Espero não ter sido por vezes demasiado cansativo – ou mesmo, como ressaltado no início, egocêntrico. Como uma espécie de “conclusão inconclusiva” – já que biografia, teoricamente, termina apenas com o fim de uma vida (embora saibamos quantas releituras poderão brotar depois) – eu diria que intitulei “múltiplos territórios de memória” por dois grandes motivos. Primeiro, porque nossa memória, como mencionado no início, é sempre seletiva e geo-historicamente situada – em cada momento e local fazemos uma leitura diferente de nós mesmos, explicitando certos pontos e ocultando outros. Segundo, porque a multiplicidade espacial/territorial é a grande marca que posso identificar na minha trajetória de vida. Assim como falei de múltiplas rupturas a partir das mudanças geográficas e das viagens, múltiplas territorialidades iam se acumulando ao longo do tempo. Algumas enfraqueciam, outras emergiam com força, mas posso dizer que todas elas, em distintos níveis, continuaram sempre fazendo parte de mim. Seletivamente, é claro, mas numa construção híbrida, num amálgama que sempre foi um traço importante que carrego. Somar e sobrepor, mais do que dividir e excluir. Envolver-se e buscar compreender o espaço/território do Outro. Abertura para a multiplicidade do mundo, para a diversidade do outro, que é também a minha. Tarefa difícil, mas cada vez mais necessária, num mundo tão polarizado e excludente. Na minha história, a geografia, a diferença que é o espaço e que se multiplica através dele, sempre amalgamou paixão e razão. Transpor limites, fronteiras, para desvendar outros espaços, construir novos horizontes, foi um desafio constante que me coloquei. Nem por isso tem a ver com uma espécie de self made man (neo)liberal – que tanto critico. Sem desconhecer a força que o indivíduo tem – ou melhor, pode ter – gostaria de finalizar lembrando o quanto o Outro e o coletivo têm papel na minha trajetória, e o quão pouco eu teria sido sem eles: - meu pai e seu gauchismo (que, criticamente, me instigou ao longo de tantos anos de estudos), uma relação conturbada, mas ao mesmo tempo uma vida que, prolongada por 91 anos, proporcionou o tempo indispensável para que também nos amássemos; - minha mãe, estímulo maior, sensibilidade e resistência, a quem eu afirmava em minha dissertação de mestrado: “teu carinho plantou sementes que outros campos (não importa) estão fazendo brotar”; - minhas irmãs e irmão, cada um a seu modo, solidários na luta por superar as dificuldades de toda ordem, do emocional ao financeiro; - meus professores, mestres complacentes e/ou desafiadores, e a escola pública, esta que cursei e em que trabalhei quase a vida toda, grandes responsáveis por me possibilitarem romper com a reclusão da minha condição de classe e de gênero; - meus estudantes, alunos-mestres, especialmente aqueles do grupo de debates, que me ensinam cotidianamente, há décadas, os (i)limites da razão e o quanto a emoção com ela caminha junto e é indispensável para fortalecer e dignificar o trabalho acadêmico; - meus colegas de universidade, parceiros de tantas batalhas, na gestão e na renovação de nosso departamento, na criação da pós-graduação, na valorização de nossa revista, na promoção de eventos ou no simples diálogo cotidiano dos corredores às bancas de conclusão de curso (quanto aprendizado conjunto). - meus grandes, “velhos” amigos, batalhadores como eu, cada um com sua história de luta a nos ensinar, pelo exemplo, o quanto a vida é política, e o quanto o afeto é uma das armas mais poderosas que se pode mobilizar; - meus amigos da ação direta, do trabalho abnegado, da ajuda mútua, das diferentes frentes de luta, que, apesar de tudo, não abrem mão de sua fé em outros mundos/territórios, sempre múltiplos, e que nunca cessarão de, conosco, batalhar por eles. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABREU, M. 1998. Sobre a memória das cidades. Revista da Faculdade de Letras – Geografia Vol. XIV. ABREU, M. 1997. Memorial para o concurso de professor Titular na UFRJ. Rio de Janeiro (inédito). ASSMANN, A. 2011. Espaços da Recordação: formas e transformações da memória cultural. Campinas: Editora Unicamp. BECKER, B.; HAESBAERT, R. e SILVEIRA, C. (orgs.) 1983. Abordagens políticas da espacialidade. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Geografia. BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. 2005. Proposta de reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Brasília: Ministério da Integração Nacional. CALBÉRAC, Y. e VOLNEY, A. 2015. J'égo-géographie, Géographie et Cultures, n° 89/90. HAESBAERT, R. 1988. RS: Latifúndio e identidade regional. Porto Alegre: Mercado Aberto. HAESBAERT, R. 1990. Blocos Internacionais de Poder. São Paulo: Contexto. HAESBAERT, R. 1991. A (des)ordem mundial, os novos blocos de poder e o sentido da crise”. Terra Livre (AGB) n. 9. HAESBAERT, R. 1994a. China: entre o Oriente e o Ocidente. São Paulo: Ática. HAESBAERT, R. 1994b. O mito da desterritorialização e as “regiões-rede”. Anais do 5º Congresso Brasileiro de Geografia v. 1. Curitiba: Associação dos Geógrafos Brasileiros. HAESBAERT, R. 1997. Des-territorialização e identidade: a rede “gaúcha” no Nordeste. Niterói: EdUFF. HAESBAERT, R. (org.) 1998 (2ª ed. 2013). Globalização e Fragmentação no mundo contemporâneo. Niterói: Editora da UFF. HAESBAERT, R. 2002. Territórios alternativos. S. Paulo e Niterói: Contexto e EdUFF. HAESBAERT, R. 2004. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. HAESBAERT, R. 2010. Regional-Global: dilemas da região e da regionalização na Geografia contemporânea. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. HAESBAERT, R. 2013. A global sense of place and multi-territoriality : notes for a dialogue from a “peripheral” point of view. In: Featherstone, D. e Painter, J. (orgs.) Spatial politics: essays for Doreen Massey. Oxford: Wiley-Blackwell. HAESBAERT, R. 2014. Viver no limite: território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contenção. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. HAESBAERT, R. e MOREIRA, I. 1982. Espaço e sociedade no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Mercado Aberto. HAESBAERT, R. e ROCHA, A. 2020. Doreen Massey, 1944-2016. In: Bright, E. e Novaes, A. (orgs.) Geographers: biobliographical studies. Londres: Bloomsbury Academic. HAESBAERT, R. e ZUSMAN, P. 2011. Geografías culturales: aproximaciones, intersecciones, desafíos. Buenos Aires: Editora da Facultad de Filosofía y Letras da UBA. LEFEBVRE, H. 2004 (1970) A Revolução Urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG. LISPECTOR, C. 1943. Perto do coração selvagem. Rio de Janeiro: Rocco (disponível em: https://prceu.usp.br/repositorio/perto-do-coracao-selvagem/) MASSEY, D. 2008. Pelo espaço. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. PETERS, M. 2000. Pós-estruturalismo e filosofia da diferença. Belo Horizonte: Autêntica. SANTOS, M. 1997. Prefácio. In: Haesbaert, R. Des-territorialização e Identidade: a rede “gaúcha” no Nordeste. Niterói: EdUFF. NOTAS: 1 Substitui a última palavra, “geográfica”, por “topográfica”, por entender que o topológico é outra perspectiva para a leitura do espaço geográfico. 2 Agradeço a Amélia Cristina Bezerra por essa expressão de Guimarães Rosa. 3 À época, além dos avós, viviam ali 6 de seus 11 filhos. Hoje restam ali apenas primos, sendo que um deles criou um museu (“Fragmentos do tempo”) que recupera um pouco a memória da região e da família. 4 Nesse trabalho ele confirmou sua tese de que os últimos derrames de lava do planalto meridional eram ácidos, dando origem a uma rocha distinta do basalto e que ele denominou “granófiro”. 5 "... sinto-me na responsabilidade não de atentar para uma “nova geografia”, cujo próprio sentido de “nova” é duvidoso, mas de defender seu caráter fundamental (...): a geografia como síntese, (...) de unificação das características fisionômicas e de relação no espaço em que se desenvolvem as atividades humanas. (...) ciência que nunca poderia estar seccionada, como está hoje, em trabalhos “físicos” e “humanos”, como se fazer geografia fosse trabalhar em Geografia Física ou Geografia Humana [grifados "em" e "ou"]. Afinal, o que visam nossos estudos geográficos senão a síntese, a visão global de tudo aquilo que contribui para a explicação de um ambiente, tal como é, e possibilitando prognosticar seu quadro futuro, com base também em etapas passadas?” (Correio do Povo, 17 Ago. 1979) 6 Sobre sua participação nessa mesa, Maurício assim se referiria: “A mesa redonda foi uma experiência que jamais esqueci. Ao contrário de Milton, que era ovacionado a cada ataque que fazia à ditadura cambaleante, que era aplaudido a cada crítica que fazia ao neopositivismo ou ao establishment geográfico, que levava a plateia ao delírio com seu discurso engajado, marxista, até pouco tempo atrás impensável de ser proferido numa universidade sem perseguição política ou mesmo encarceramento, tudo o que recebi da multidão foi silêncio e indiferença. De alguns recebi inclusive o rótulo de ‘reacionário’, e mesmo de ‘imperialista’. Embora não concordando de forma alguma com isso, não havia clima para retrucar. A festa era de Milton e não minha. Ao invés de brilhar, fui eclipsado. Até hoje admiro, entretanto, a coragem que tive ao enfrentar aquela multidão. E continuo gostando muito do trabalho que apresentei naquela tarde”. (ABREU, 1997) 7 O geógrafo paranaense, Lineu Bley questionou-me, a partir de sua perspectiva “humanística”, sobre o objetivismo de minha abordagem. Mesmo reconhecendo a importância da teoria que eu utilizava, destacou que ela ignorava a percepção dos próprios habitantes sobre o que seria a “área central” de sua cidade. 8 Milton propôs a aplicação de questionários (que defini em amostragem de uma centena) junto à Vila do João, conjunto recém inaugurado a cerca de 1,5 km da área residencial original. O discurso era de que com esse “pequeno deslocamento” não teriam ocorrido mudanças negativas importantes na vida dos moradores. A pesquisa demonstrou o contrário, desde o desrespeito a laços de vizinhança e o tamanho (padronizado) das casas até dificuldades no acesso a comércio e serviços. O trabalho foi apresentado no Congresso de Geógrafos de São Paulo, em 1984. Lembro a minha tensão (e ao mesmo tempo honra e gratidão) quando Milton chegou para assistir à apresentação. 9 Neste prefácio ele afirma que o estudo “foi feito com maestria notável, o autor manejando, com propriedade, princípios oriundos da filosofia e de diversas ciências humanas, de modo a produzir uma síntese geográfica com grande riqueza interdisciplinar” (p. 11), “um trabalho sério e documentado, escrito em uma linguagem meticulosa e agradável, mas sobretudo uma análise e uma síntese originais, um estudo fadado a servir como modelo de método (...) e uma importante contribuição teórica à compreensão atual de categorias tão controvertidas quanto as de territorialidade e identidade” (Santos, 1997:12). 10 “... um espaço (não institucionalizado como Estado nação) de identidade ideológico-cultural e representatividade política, articulado em função de interesses específicos, geralmente econômicos, por uma fração ou bloco ‘regional’ de classe que nele reconhece sua base territorial de reprodução”. (Haesbaert, 1988:22) 11 “... qualquer análise regional que se pretenda consistente (e que supere a leitura da região como genérica categoria analítica, ‘da mente’) deve levar em conta tanto o campo da produção material quanto o das representações e símbolos, ideais, tanto a dimensão da funcionalidade (político-econômica, desdobrada por sua vez sobre uma base material-‘natural’) quanto do vivido (simbólico-cultural, mais subjetivo) – em outras palavras, (...) tanto a coesão ou lógica funcional quanto a coesão simbólica, em suas múltiplas formas de construção e des-articulação – em que, é claro, dependendo do contexto, uma delas pode acabar se impondo sobre – e refazendo – a outra”. (Haesbaert, 2010:117) 12 Esse projeto esteve vinculado ao Ministério da Integração Nacional e foi realizado entre 2004 e 2005, através de licitação e foi coordenado pela geógrafa Lia Machado. A participação nesse projeto foi relevante não apenas do ponto de vista de minha primeira experiência direta em projetos governamentais (e consequente diálogo com autoridades como o próprio ministro da Integração Nacional – Ciro Gomes, à época), mas também pelo rico intercâmbio com o Grupo Retis de pesquisa e o trabalho de campo pela região de fronteira entre várias cidades-gêmeas (de Saltos del Guayrá-Guaíra, no Paraná, a Bella Vista-Bela Vista, no Mato Grosso do Sul), incluindo um encontro com lideranças políticas hegemônicas e dos movimentos sociais em Ponta Porã. Seus resultados foram publicados em um livro (Brasil, 2005). 13 Esse intercâmbio incluiu convite para Doreen Massey vir ao Brasil (UFF e ANPEGE-Fortaleza, 2005), tradução de seu livro “For Space” (Massey, 2008), capítulo de livro (em sua homenagem) colocando em diálogo sua concepção de lugar e a nossa de multiterritorialidade (Haesbaert, 2011), participação em mesa-redonda em sua homenagem, após seu falecimento, no encontro da AAG (Boston, 2016) e redação de sua biografia para o livro “Geographers: biobliographical studies” (Haesbaert e Rocha, 2020). A grande amizade com Doreen também me proporcionou viagens de lazer conjuntas, como a que realizamos a Jericoacoara, no Ceará, e ao Lake District, na Inglaterra. 14 Deste artigo, ressalto os seguintes trechos: “Rompendo com uma postura empobrecedora que por longa data marcou as rupturas teóricas radicais ocorridas dentro da Geografia, divisamos hoje um desejo relativamente comum do geógrafo em resgatar suas raízes e assimilar a diversidade com que o novo se manifesta, buscando com isso respostas mais consistentes e menos simplificadoras para as questões que se impõem através da ordenação do espaço e do território. (...) Ao lado da corrente majoritária de geógrafos ainda engajados em torno de teorias universalizantes, simplificadoras, quase sempre, mas ainda assim dotadas de poder explicativo relevante para muitas questões (notadamente de ordem econômica), colocam-se hoje novas exigências teóricas, capazes de responder à dinâmica múltipla e fragmentária do espaço social”. São representativos do momento de mudança que se vivia e do caráter de reavaliação de uma Geografia crítica que deixava de ser monolítica (capitaneada por um marxismo mais ortodoxo) e adquiria rumos mais plurais, com ecos do chamado pós-modernismo e/ou pós-estruturalismo, muito criticados pelo mainstream geográfico brasileiro. 15 “... nunca teremos territórios que possam prescindir de redes (pelo menos para sua articulação interna) e vice-versa: as redes, em diferentes níveis, precisam se territorializar, ou seja, necessitam da apropriação e delimitação de territórios para sua atuação. (p. 209) (...) os territórios neste final de século são sempre, também, em diferentes níveis, ‘territórios-rede’, porque associados, em menor ou maior grau, à fluxos (externos às suas fronteiras), hierárquica ou complementarmente articulados”. (p. 211) 16 “O território envolve sempre, ao mesmo tempo (...), uma dimensão simbólica, cultural, através de uma identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, como forma de ‘controle simbólico’ sobre o espaço onde vivem (sendo também, portanto, uma forma de apropriação), e uma dimensão mais concreta, de caráter político-disciplinar: a (...) ordenação do espaço como forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos. Historicamente, podemos encontrar desde os territórios mais tradicionais, numa relação quase biunívoca entre identidade territorial e controle sobre o espaço, de fronteiras geralmente bem definidas, até os territórios-rede modernos, muitas vezes com uma coesão/identidade cultural muito débil, simples patamar administrativo dentro de uma ampla hierarquia econômica mundialmente integrada”. (Haesbaert, 1997:42) 17 Ao contrário do que afirmam críticos que, em posições mais fechadas, não concebem abertura para o diálogo, elementos ditos pós-estruturalistas presentes em muitas abordagens podem perfeitamente dialogar com leituras críticas como o marxismo. Veja por exemplo, esta afirmação: “ ... pode-se afirmar que não existe nada de necessariamente antimarxista ou pós-marxista seja no pós-modernismo seja no pós-estruturalismo. Na verdade (...) é possível fazer uma leitura pós-estruturalista, desconstrutivista ou pós-modernista de Marx. Na verdade, o marxismo estruturalista althusseriano teve uma enorme influência sobre a geração de pensadores que nós agora chamamos ‘pós-estruturalistas’ e cada um deles, à sua maneira, acertou suas contas com Marx: vejam-se, por exemplo, as ‘Observações sobre Marx’ (1991) que Foucault faz (...); ou os ‘Espectros de Marx’, de Derrida (1994); ou a tese da mercantilização ‘marxista’ no livro de Lyotard, ‘A condição pós-moderna’. (...) Deleuze [que escreveu ‘O Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia’] (...) se via, claramente, como um marxista (Deleuze, 1995:171). Todos esses pós-estruturalistas veem a análise do capitalismo como um problema central” (Peters, 2000:17). 18 Além disso, é claro, a estada em Paris trouxe grandes contribuições intelectuais, especialmente através das disciplinas cursadas na Sorbonne/Collège de France ou na École des Hautes Études em Sciences Sociales (EHESS), ministradas por intelectuais reconhecidos como Cornelius Castoriadis, Pierre Bourdieu, Alain Touraine, Marc Augé e o geógrafo Augustin Berque. Participei ainda dos debates do grupo Europe, dirigido por Jacques Lévy, do Grupo Brésil no IHEAL (Institute des Hautes Études de l’Amérique Latine), dirigido por Martine Droulers, e do Centre des Recherches sur le Brésil Contemporaine da EHESS (nos três participando também como conferencista) OLGA LÚCIA CASTREGHINI DE FREITAS FIRKOWSKI ELEMENTOS E FRAGMENTOS DE UMA CARREIRA DOCENTE. MEU PERCURSO PELA GEOGRAFIA Olga Lúcia Castreghini de Freitas-Firkowski Professora Titular do Departamento de Geografia da UFPR Pesquisadora do CNPQ 1. INTRODUÇÃO Este texto, registra as principais atividades desenvolvidas por mim ao longo de mais de 36 anos de formação em Geografia, com especial ênfase nos 28 cumprimos no âmbito da UFPR – Universidade Federal do Paraná. Tem como base o Memorial Descritivo da carreira Docente, formulado por ocasião da promoção à Professora Titular do Departamento de Geografia, Setor de Ciências da Terra da UFPR, apresentado em sessão pública (1) no dia 13 de novembro de 2019. Mescla a subjetividade das lembranças e a objetividade dos comprovantes, guardados ao longo de tanto tempo. Mostra que o caminho profissional pela atividade científica é longo, não pode ser aligeirado pelos interesses de curto prazo. Sou produto da iniciação científica, trilhei os passos desejados para quem começa na pesquisa como estudante de graduação e passa por todos os ritos da formação: mestrado, doutorado, pós-doutorado. No meu caminho cruzei com muita gente e cada um/a teve sua contribuição para que eu pudesse trabalhar, não se trabalha sozinho.... Foram professores/as, pesquisadoras/es, dirigentes, líderes de movimentos, servidores/as técnicos, pessoal da manutenção e limpeza, pessoas que entrevistei em tantas etapas de pesquisa, mas, sobretudo duas ‘categorias’ de pessoas devem ser ressaltadas: i) as pessoas de bem que sempre estiveram ao meu lado, meus amores, minha filha, meu filho, minha mãe, minhas irmãs, cunhados, sobrinhas e sobrinho, meus amigos e minhas amigas, minha secretária; ii) meus alunos e minhas alunas, que sempre me trataram com respeito e admiração, revelados em ocasiões públicas e também privadas, foram palavras que ouvi de agradecimento e reconhecimento pela seriedade do meu trabalho e que muito me fortaleceram ao longo dessa caminhada. A seguir uma reflexão do meu trabalho, mas, sobretudo da minha vida, afinal, o trabalho como dimensão da vida, não pode dela estar dissociado. 2. QUEM SOU, DE ONDE VIM E COMO A GEOGRAFIA MUDOU A MINHA VIDA Nascida Olga Lúcia Castreghini de Freitas, em 17 de fevereiro de 1964, no exato momento em que uma “tromba d’água” assolava a cidade de Presidente Prudente (SP), às 8h: 30min, uma vizinha foi chamada para realizar o parto, já que a parteira combinada, não conseguiu se deslocar devido às intensas chuvas. Sou a filha do meio, nascida da união de Anterino de Freitas e Áurea Olga Castreghini de Freitas, tendo Maria Isabel como irmã mais velha e Adriana como mais nova. Seu Anterino - faleceu precocemente em 1996, aos 64 anos -, era policial militar e dona Áurea dona de casa, com habilidades acima do comum para a costura e a culinária! Escolaridade básica de ambos almejavam que as filhas pudessem avançar nos estudos, e assim se fez! Superando as premências da vida material, empreenderam esforços imensos para que possibilitassem às três filhas aquilo que garantiria um futuro de autonomia: a formação superior. Quis os mistérios da vida, que trabalhássemos as três, com a formação em Geografia: Maria Isabel Castreghini de Freitas atuou como professora do departamento de Planejamento Regional da UNESP campus de Rio Claro (SP), até o ano de 2018, quando se aposentou, mesma instituição onde fiz o meu mestrado, entre os anos de 1985 e 1989. Adriana Castreghini de Freitas Iasco Pereira atua no Departamento de Geociências da UEL - Universidade Estadual de Londrina (PR), coincidentemente, local onde iniciei minha carreira profissional no ensino público superior, como professora auxiliar de ensino no ano de 1987. Detalhe, ambas são Engenheiras Cartógrafas, também formadas pela Unesp de Presidente Prudente. Somos - as três - doutoras, o que me faz lembrar um comentário lúcido de meu avô materno Caetano Castreghini - filho de imigrantes italianos que vieram para o Brasil para trabalhar na fazenda de café Guatapará em Ribeirão Preto – SP, ao dizer sobre um primo dentista que se intitulava doutor, que “só é doutor quem tem o diploma de doutor...” quando criança, nunca entendi muito bem o que ele queria dizer com isso... depois compreendi que se tratava de uma solene crítica ao “doutor social” e não ao diplomado, visão que ainda é frequente na nossa sociedade. Morei em poucas cidades ao longo da vida: Presidente Prudente até o ano de 1985; Rio Claro (SP) entre 1985 e 1987, para cursar o Mestrado; Londrina (PR) quando assumi o cargo de professora na UEL entre 1987 e 1989; Curitiba (PR) desde 1989, quando optei por me exonerar da UEL por questões pessoais e afetivas: havia me casado (1988) com Henrique e estava a caminho nossa filha, Nicole (1990). Porém, diversas inserções curtas me colocaram em contato com muitas outras cidades: Ourinhos (SP) no ano de 1985, atuando numa faculdade privada; São Paulo onde passava temporadas, em especial em 1985-86; Jaú (SP), onde lecionei numa faculdade privada, Ponta Grossa (PR), onde trabalhei na UEPG no primeiro semestre de 1991; Paris (FR) onde morei um ano quando realizei meu estágio de pós-doutorado (2007-2008) e Belém (desde 2015), refúgio maravilhoso na Amazônia que me restabelece e me faz lembrar dos meus tempos de criança, como numa escala diacrônica, onde tempos se cruzam em movimentos autônomos de tradição e modernidade. À Goretti (2) , devo essas novas experiências, que me impulsionaram para o reconhecimento desse país tão diverso e profundo, ampliando meus limites profissionais e pessoais, desde que nossas vidas se entrelaçaram há alguns anos. Com Marcel (1992) conclui minha incursão pelo mundo da maternidade e não posso esquecer uma frase que escutei de uma renomada geógrafa dos anos 1970/80, profa. Helena Kohn Cordeiro, disse ela “imaginava tudo de você, menos que fosse mãe”, pois sou! e espero que tenha tido a lucidez de orientar minha filha e meu filho no caminho da solidariedade e da responsabilidade, tão necessárias num país como o nosso. Ninguém avança só, apenas o avanço coletivo pode resultar em conquistas efetivas e ganhos sociais. Passados 36 anos de minha formatura na graduação (1984) e 28 anos como professora no Departamento de Geografia da UFPR (1992), esse texto apresenta uma espécie de balanço de minha trajetória, motivada pelo registro de meu percurso, mas também pelo desejo de reconhecer de onde vim e onde me situo no campo da produção do conhecimento e da formação em Geografia. Revela-se, assim, uma mistura de lembranças de fatos e pessoas, reconhecimento de importantes momentos da história desse país imbricados na minha própria história, e a recuperação de uma trajetória que gerou muitos frutos, contribuiu com a formação de muita gente, reverberou em diversos lugares do país e fora dele. Olhar o passado me permite entender o caminho trilhado, avaliar decisões, reconhecer limites e continuar a sonhar, os sonhos que me motivaram e me moveram pela vida afora. Sempre me pergunto como teria sido se tivesse optado por um outro caminho, sim, sempre vivemos em bifurcações que nos oferecem mais de uma possibilidade de escolha. Contudo, o caminho que escolhi, me trouxe até aqui e a esse encontro comigo e com minha trajetória. É sobre ele que vou tratar. Impossível relembrar de tudo, impossível tratar de tudo, no entanto, decidi escolher um caminho, que me permita lançar luzes sobre aquilo que vou denominar de “as primeiras experiências” em minha carreira. Jamais pensei em fazer o curso de graduação em Geografia, pensei em história, jornalismo me fascinava. No entanto, vinda de uma família que tinha uma vida regrada e de dinheiro curto, acabei pleiteando uma vaga no Vestibular da UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", campus de Presidente Prudente, que à época se denominava IPEA - Instituto de Planejamento e Estudos Ambientais, desde o ano de 1989 o campus passou a se denominar Faculdade de Ciências e Tecnologia. Iniciei meu curso de graduação no ano de 1981, com 17 anos, absolutamente sem saber o que me esperava. Passei no primeiro vestibular que fiz. Uma surpresa. Nunca soube, ao longo de toda minha vida, o que é pagar por ensino, nunca estudei em escola privada, jamais gastei um centavo com minha formação, absolutamente toda ela se fez no ensino público: primário no Grupo Escolar Arruda Mello, em Presidente Prudente, iniciado no ano de 1970, primeiro ano em que havia turmas mistas, uma revolução a reunião de meninas e meninos em uma mesma sala de aula! Ginásio na Escola Estadual Florivaldo Leal e Colegial no Instituto de Educação Fernando Costa (3). Me lembro de alguns fatos marcantes, dentre eles o rigor da disciplina: o ato de levantar da cadeira assim que o professor/a ou diretor/a entrasse na sala de aula; a obrigatoriedade da participação nos desfiles de 7 de setembro (uma vez, inclusive, fui a porta-bandeira!); o sinal que marcava o início e o final da aula; o uniforme, primeiro saia plissada xadrez escura e blusa branca com o emblema da escola bordado no bolso, passando por um guarda-pó com o emblema não mais bordado mas decalcado e, por fim, a camiseta e calça jeans. A transformação nas regras e no vestuário eram indícios da liberação do rigor da vestimenta e da ampliação do acesso aos níveis básicos de formação escolar, ampliando essas oportunidades para parcelas mais amplas da população. Outro fato marcante eram as aulas de francês, porque, naquela época era o francês a língua estrangeira oficial no colégio e não o inglês como na atualidade. Me lembro de um episódio muito interessante quando estava na 7ª série, no ano de 1976 e com 12 anos, a chegada de uma nova aluna na sala, proveniente de Angola (África), uma moça branca, alta, e com um sotaque estranho, pois bem, era a fuga da guerra que marcava a retirada dos portugueses do território conquistado. Ficava fascinada com as estórias, em especial aquelas que se referiam à fuga deixando todos os bens e pertences para trás.... talvez tenha sido meu primeiro contado com uma realidade tão longínqua.... Eu nunca soube ou imaginei onde a Geografia me levaria, mas eu sabia que me permitiria mudar de vida e mudar a minha vida! Me lembro da dedicação aos estudos, da seriedade com que sempre me lancei aos conteúdos de cada uma das disciplinas que cursei na graduação. Me lembro dos finais de semana estudando para as provas; da realização de trabalhos individuais ou em grupo, das leituras, da curiosidade pelo novo universo que se descortinava em minha vida. Cursei as seguintes disciplinas, cujos programas ainda guardo comigo e me permitiram transcrever seus títulos e responsáveis. Rever os nomes das disciplinas, evidencia as mudanças e as permanências havidas na definição do currículo do curso de Geografia ao longo de décadas. No ano de 1981: História Econômica Geral e do Brasil, com Dióres Santos Abreu; Geografia Física, com João Afonso Zavatini; Fundamentos de Petrografia, Geologia e Pedologia I, com José Martin Suarez, mais conhecido como Pepe; Elementos de Matemática, com Roberto Bernardo de Azevedo; Economia I, com Marcos Kazuharu Funada; Cartografia e Topografia I, com Adalberto Leister; Antropologia, com Ruth Kunzli; Análise Estatística, com Antonio Assis de Carvalho Filho; Geografia Humana I, com Eliseu Savério Sposito; Educação Física, com Mário Artoni, e Sociologia I, com Marília Gomes Campos Libório. No segundo ano de faculdade, 1982, cursei: Psicologia da Educação, com Antonia Marini, História Econômica Geral e do Brasil II, com Jayro Gonçalvez de Melo e Maria de Lourdes Ferreira Lins; Fundamentos de Petrografia, Geologia e Pedologia II, com José Martin Suarez; Etnologia e Etnografia do Brasil, com Ruth Kunzli; Estudos de Problemas Brasileiros, com Maria de Lourdes Ferreira Lins; Climatologia I, com Hideo Sudo; Cartografia e Topografia II, com Adalberto Leister, Aerofotogrametria, com Lúcio Muratori de Alencastro Graça e Raul Audi e Geografia Regional: organização do espaço I, com João Paulo. Em 1983, foram cursadas as seguintes disciplinas: Geomorfologia I, com Marília Barros de Aguiar; Geografia do Brasil I, com Armando Pereira Antonio; Didática, com Josefa Aparecida Gonçalves Grígoli; Biogeografia, com Messias Modesto dos Passos; Geografia Regional: organização do espaço II, com José Ferrari Leite e Geografia Urbana, com Maria Encarnação Beltrão Sposito. Em 1984 foram: Sociologia II, com José Fernando Martins Bonilha; Fotointerpretação, com Maria Heloisa Borges e José Milton Arana; Prática de Ensino, com Maria Ignes Sillos Santos; Metodologia em Geografia, com Augusto Litholdo; Geografia do Brasil II, com Fernando Carlos Fonseca Salgado; Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º e 2º Graus, com Tsutaka Watanabe; Conservação Ambiental, com Valdemir Gambale; Geografia Humana II, com Olimpio Beleza Martins; Geografia da Circulação e dos Transportes, com Fátima Rotundo da Silveira; Economia II, com Tomás Rafael Cruz Cáceres; Planejamento Regional, com Antonio Rocha Penteado; Introdução do Planejamento, com Yoshie Ussami; Geografia Rural, com Miguel Gimenez Benites e Geografia Regional: estudo de caso, com Armando Garms. Me lembro da felicidade quando descobri que havia trabalho de campo em Geografia, para desespero de minha mãe, sempre avessa às viagens... Entrei em um curso cujo conteúdo desconhecia, minha aproximação com essa disciplina no ensino básico não foi tão agradável a ponto de desejar me aprofundar nela.... Práticas de decorar textos, temas e pontos... a mais pura manifestação da Geografia Clássica ou Tradicional. Mas me lembro de um trabalho aplicado da disciplina por volta da 5ª série, ministrada pela profa. Suria Abucarma: mapear os usos do solo numa importante rua central de Presidente Prudente, a Tenente Nicolau Maffei. Fiz o trabalho, mas desconhecia seu propósito... hoje sei o que significa e o que ela queria nos mostrar com esse levantamento. Quando comecei a graduação, o interesse pelos lugares distantes me tomou de assalto! Me lembro de escrever para embaixadas e consulados solicitando materiais sobre os diversos países, recebi muita coisa da Itália, Holanda, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, França, dentre outros. Um fascínio pelas imagens, paisagens, culturas, me tomava e o desejo de conhecer o mundo se fortalecia. No primeiro trabalho de campo de Geologia, promovido pelo prof. Pepe (José Martins Soares) em 1981, o destino foi a Serra da Fartura em São Paulo, o segundo, da mesma disciplina, foi para Curitiba e Paranaguá (1981)! Como poderia imaginar que viveria em Curitiba por mais de 30 anos! As surpresas da vida.... Viajei muito na época da graduação, tanto em razão dos trabalhos de campo, quanto de minha atuação na AGB – Associação dos Geógrafos Brasileiros, seção local de Presidente Prudente que, a partir dos novos ares advindos com as mudanças no início dos anos de 1980, permitia a participação de alunos como filiados, bem como nas diretorias locais. Dessa época me lembro de viagens para participar das gestões coletivas, ou seja, uma nova forma de discutir e deliberar sobre os rumos da entidade, resultante das novidades da democracia que começava a se insinuar no país, ao mesmo tempo em que a Geografia se direcionava à uma leitura crítica do espaço, alterando sua trajetória tradicional e quantitativa precedente. Também comecei a participar de eventos em outras cidades, me lembro de uma longa viagem de micro-ônibus entre Presidente Prudente e Porto Alegre (cerca de 1.300 km), por ocasião do V Encontro Nacional de Geógrafos em 1982 e de um trabalho de campo para o Pantanal e Corumbá destino inesquecível: parte da viagem de ônibus e parte no famoso trem que cruzava o Pantanal, pela estrada de ferro Noroeste do Brasil. Viajei muito, conheci pessoas e lugares, ampliei meus horizontes. Uma frustração: não ter participado das atividades do Campus avançado que a Unesp mantinha em Humaitá no Amazonas, ainda não estive nessa porção da Amazônia... mas estou cada dia mais perto! Fui uma aluna aplicada, ativa, interessada, questionadora...o que me causou alguns dissabores com certos professores. Uma coisa que nunca fiz foi me envolver na política estudantil observada a partir da atuação em centro acadêmico e semelhantes, não sei explicar a razão. Contudo, fui representante discente em várias instâncias e momentos da minha vida como aluna (integrei a Comissão especial para elaboração de anteprojeto dos regulamentos dos Cursos de Pós-Graduação em Geografia da UNESP, campus de Rio Claro no ano de 1985, e fui representante discente junto ao Conselho do curso de Pós-graduação em Geografia da mesma instituição no ano de 1986), depois também tive várias representações como professora, mas com a política estudantil e sindical nunca me envolvi. Como representante discente na pós-graduação, participei ativamente das discussões que ocorriam em torno da criação de uma entidade específica ligada à pós-graduação, mais tarde surgiria a ANPEGE – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia, criada em 1993. No final do ano de 1982, o Prof. Eliseu Sposito me chamou em sua sala e me indagou sobre meu interesse em elaborar um projeto para submissão ao CNPQ com vistas à uma bolsa de iniciação científica. Obviamente eu não fazia ideia do que era isso, mas, prontamente concordei. De modo a testar o meu real interesse, estabeleceu um cronograma de leituras e discussão de um livro, cujo título me foge à lembrança, mas era algo como “Evolução da geografia humana” (4) uma edição em espanhol, que cuidadosamente lia de modo a apresentar minha compreensão ao professor em encontros periódicos de discussão. Outras leituras se sucederam até que conseguimos avançar na formulação de um projeto de Iniciação Científica a ser submetido ao CNPQ, importante lembrar que àquela época, o funcionamento da agência era distinto de hoje, não havia cota para professor, mas projetos aprovados individualmente no mérito. Foi um desafio, mas no ano de 1983, comecei a ser bolsista do CNPQ! Com conta no banco do Brasil e direito a talão de cheque! Isso precedeu a emergência do cartão de crédito, eram outros tempos! O projeto intitulava-se “A aplicação do capital local no setor secundário em Presidente Prudente” e tinha por objetivo entender o processo de industrialização daquela cidade. Foi desafiador, mas também empolgante: realizava com muito entusiasmo as entrevistas em campo, conheci todas as poucas indústrias da cidade – registre-se que esse nunca foi o forte da economia prudentina. Uma situação particular deve ser lembrada: o prof. Eliseu ainda não era mestre e, portanto, precisou acionar o prof. Olímpio Beleza Martins, já doutor, para que fosse o solicitante oficial da bolsa. Assim seguimos renovando com sucesso a bolsa de IC até a conclusão de minha graduação no final do ano de 1984. Dois registros importantes dessa fase: i) o primeiro trabalho apresentado num evento nacional e ii) o primeiro artigo publicado em periódico científico. O primeiro trabalho apresentado em evento foi no ano de 1984, por ocasião do 4º Congresso Brasileiro de Geógrafos, realizado pela AGB (de 14 a 21 de julho de 1984, na USP), justamente em comemoração aos seus 50 anos de fundação. Eu, uma jovem de exatos 20 anos, participando de um evento histórico. O detalhe: chego à USP e encontro uma colega de militância da AGB, ela, com a programação em punho me diz algo como “não se preocupe, vai dar certo”, eu sem entender, pergunto o porquê do comentário. Para minha surpresa meu singelo trabalho originário de uma pesquisa de iniciação científica estava escalado para ser apresentado num dos maiores auditórios do evento (na Escola Politécnica da USP) em razão de estar alocado numa sessão temática que discutia a economia. Sim, meu tema era a industrialização em Presidente Prudente. Mas isso não era tudo: na mesma mesa que eu, simplesmente estava um dos mais festejados nomes da Geografia brasileira àquele momento: o prof. Rui Moreira, éramos dois na mesa! Rui tratava do tema da “subsunção formal e subsunção real” no capitalismo... naquele momento não fazia ideia do que se tratava.... Num auditório lotado, com pessoas sentadas no chão, um debate ferrenho se seguiu e, dentre os arguidores, nada menos que Prof. Milton Santos.... Por delicadeza, algumas questões foram dirigidas a mim. Penso que esse excesso de democracia na organização das mesas poderia ter me custado caro, em termos da instalação de um grande trauma na minha primeira vez... Contudo, isso não ocorreu, acho até que isso me impulsionou, percebendo que havia uma possibilidade concreta de aproximação entre pessoas de diferentes níveis de formação. Isso me proporcionou uma lição: o cuidado com a preservação das pessoas em seus níveis de formação. Muitos anos depois, conheci uma geógrafa que me disse “nunca vou me esquecer de você, naquela mesa, naquele congresso”. Foi assim minha primeira apresentação, e muitas outras vieram na sequência. Não tenho o registro de todos os eventos dos quais participei, mas voltarei a esse tema oportunamente. O primeiro artigo publicado foi: FREITAS, Olga L. C. de Capital e força do trabalho no setor secundário em Presidente Prudente. Caderno Prudentino de Geografia. Presidente Prudente: AGB, n. 8, 1986, p. 15-32. Edição disponível on line em: http://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/view/6255/4788 Recolho essas referências de um exemplar da publicação original que guardo comigo e revela um outro tempo e uma outra lógica dos periódicos em nosso país. Registro que participei do nascimento do Caderno Prudentino de Geografia, porque fazia parte da AGB como segunda tesoureira na gestão de 1982 (a primeira edição foi em 1981) e porque era eu quem juntava a capa padrão às páginas mimeografadas e fazia a encadernação da referida publicação, com um grampeador manual. Assim era nos velhos tempos... No inverno de 1983, tive uma experiência muito relevante, fiz estágio voluntário na EMPLASA – Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S.A., tendo estagiado junto à Superintendência do Sistema Cartográfico Metropolitano. Na ocasião, a empresa preparava um Atlas da Região Metropolitana de São Paulo e eu fui designada para estagiar na preparação dos rascunhos de diversos mapas e no teste do uso de cores nos mesmos, trabalho manual, que precedeu às técnicas computadorizadas atuais. Trabalhei sob a supervisão de uma renomada geógrafa dos tempos da Geografia Tradicional: profa. Nice Lecocq Müller. Foi uma experiência muito proveitosa e me despertou o interesse pela formação técnica em geografia, expressa pelo bacharelado. Importante registrar que nessa época eram intensos os debates em torno da regulamentação da profissão de Geógrafo, o que ocorreu por meio da Lei Federal 6.664, de 26 de junho de 1979. 3. A PÓS-GRADUAÇÃO, UM PERCURSO DE DESAFIOS E APRENDIZADOS Finalizada a graduação, decidi sair de Presidente Prudente, mesmo porque àquela época não havia sido implantado ainda o programa de pós-graduação, o que só viria a ocorrer no ano de 1987. Tinha alguns destinos possíveis: USP e UNESP de Rio Claro, além de uma remota possibilidade da UFRJ. Fiz o processo seletivo em Rio Claro e fui aprovada. Meu tema era a indústria e a orientadora Profa. Silvia Selingardi Sampaio. Contudo, o desejo de cursar a USP e de morar em São Paulo me levou também a me submeter ao processo seletivo daquela instituição. Depois de aprovada na prova de línguas, fui para a entrevista com a orientadora indicada, de quem ouço que as vagas daquele ano estavam comprometidas, mas eu poderia aguardar as do próximo. Agradeci e voltei para Rio Claro, onde uma bolsa estava garantida em razão de meu desempenho no processo seletivo. Resolvi interagir com a USP de outra forma, cursei no ano de 1985 a disciplina ofertada pelo recém retornado ao Brasil, Prof. Milton Santos, eram cerca de 8 alunos na sala, eu e Glaúcio Marafon (UERJ), nos deslocávamos de trem toda semana para as aulas. A disciplina intitulava-se “A reorganização do espaço geográfico na fase histórica atual”, cursada no segundo semestre de 1985. Milhares de lembranças me voltam à memória, mas uma em especial me marcou muito. Professor Milton tinha por prática iniciar os trabalhos de um novo semestre letivo com os alunos do semestre anterior apresentando seus trabalhos. Foi assim que na primeira aula do semestre seguinte, retornei a São Paulo para apresentar o trabalho de conclusão de curso que tratava da relação entre distância absoluta e relativa no estado de São Paulo partindo do tempo de deslocamento por trem ou rodovia. A ideia era: o longe pode estar conectado por vias eficientes que o tornam perto e o perto pode estar longe em razão das deficiências do transporte. Após minha exposição uma aluna da nova turma me indaga porque eu não fiz isso ou aquilo, poderia ter inserido essa ou outra coisa, deveria ter ido por outro caminho.... ao que o Prof. Milton intervém e com a solenidade natural de sua pessoa diz “nós não viemos aqui para dizer o que Olga deveria ter feito, nós viemos aqui para discutir o que Olga fez”, lição que carrego comigo desde então! Obrigada professor por sua generosidade (lembro que eu tinha apenas 21 anos nessa época). Outra lembrança desse período diz respeito às leituras indicadas pelo Prof. Milton Santos, dentre elas, um pequeno livro editado pelas Edições Progresso de Moscou, em português de Portugal, que discorria sobre os modos de produção ao longo da história. Tratava-se do exato momento da renovação da Geografia brasileira em direção ao marxismo. Jamais tinha sido iniciada nas leituras sobre modo de produção e sequer sabia o que isso significava. Porém, como aluna aplicada que sempre fui, tomei a providência de comprar o livro (que guardo até hoje) e de estudar detidamente o tema. Foi o que me salvou, pois na aula subsequente, prof. Milton me escalou para discorrer sobre o tema lido! No mestrado, fui orientada pela Profa. Dra. Silvia Selingardi Sampaio, que me ensinou muito, em especial sobre postura, método, disciplina, pontualidade e rigor. O trabalho orientado foi intitulado “A industrialização recente do município de Limeira em face do contexto industrial paulista” e o título obtido em 1989, rigorosamente dentro dos prazos previstos à época: 4 anos. A defesa ocorreu no dia 19 de dezembro de 1989 e a banca foi constituída pela Profa. Yoshiya Nakagawara Ferreira (UEL) e pelo Prof. Jurgen Richard Langenbuch (UNESP – Rio Claro). Passagem que merece registro: fui bolsista CNPQ e pleiteei uma bolsa da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), notoriamente a instituição que melhor remunerava as bolsas àquela época. Feliz por ter sido aprovada num processo rigoroso de seleção de bolsistas, declinei da bolsa CNPQ. Para minha surpresa, pelas contingências daquele momento histórico e político, talvez aquele ano de 1987 tenha sido o único na história da FAPESP que o valor das bolsas tenha sido inferior a qualquer outra agência no país. E eu era bolsista!!! No mestrado encontrei as condições de ampliar minha participação em eventos e quero aqui ressaltar outra primeira vez que foi muito importante: minha participação, como ouvinte, no 1º Encontro de Geógrafos da América Latina – EGAL (5 a 10 de abril de 1987), realizado em um hotel escola na cidade de Águas de São Pedro, eu e minha grande amiga e colega de geografia Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (atualmente diretora do IGC-UFMG), íamos de manhã e voltávamos a noite de ônibus, pois nossa condição financeira não nos permitia arcar com as diárias daquele hotel. Era um evento pequeno, todas as mesas redondas e apresentações de trabalho ocorriam num mesmo auditório, todos os inscritos participavam de tudo, não havia a grandeza dos eventos atuais e o seccionamento dos espaços de discussão. No ano de 2019, depois de algumas outras edições que participei, estive em Quito no Equador participando, com apresentação e trabalho, do XVII EGAL, portanto, vivi essa história. Quero destacar, ainda, minha presença em dois outros primeiros eventos: o I Simpósio Nacional de Geografia Urbana, realizado na USP entre 20 e 23 de novembro de 1989 e o I Encontro Nacional de Pós-Graduação em Geografia, realizado em São Paulo entre os dias 16 e 18 de dezembro de 1984. Sobre ambos, registro que meu orientado de Iniciação Científica Luiz Felipe Élicker e eu tivemos trabalho apresentado no XVI SIMPURB, que foi realizado em Vitória (ES) entre os dias 14 e 17 de novembro de 2019, e ainda que entre os dias 2 e 6 de setembro de 2019, integrei a coordenação do GT 41 Metrópole e Região, no interior da programação do XIII Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, realizado na USP. Constatar que estive nas primeiras edições de eventos tão relevantes para a Geografia brasileira e latino-americana, permite refletir sobre o período de renovação dessa área do conhecimento, ocorrido a partir dos anos de 1980. Não foi apenas a diversificação e a especialização dos eventos que teve início nesse período (anos de 1980), esse também foi um tempo de nascimento de um mercado editorial nacional sobre os temas da Geografia. Como não lembrar que minha formação se deu por meio da leitura de muitos textos clássicos e de autores, em sua maioria, franceses? Como não mencionar que Pierre George estava à frente da maioria dos títulos que trabalhávamos no curso de graduação? Para todas as especialidades da geografia humana, lá estava um livro de Pierre George a nos fornecer uma vasta coleção de informações, bem como apontar caminhos para a reflexão. A inserção desse autor no mercado editorial brasileiro, foi uma extensão de sua presença no mercado editorial francês, facilitado pela publicação por meio da PUF - Presses Universitaires de France, que publicava uma coleção de grande importância na divulgação de temas das ciências humanas que se intitulava Que sais-je? (literalmente: que sei eu?), traduzida para o português como Coleção Saber Atual e publicada pela DIFEL (Difusão Européia do Livro – hoje Bertrand Brasil). Ainda hoje tenho vários exemplares dessa época, livros em formato pequeno que assumiu as cores branco e verde como padrão, inconfundível... Assim, para além da qualidade e variedade do conteúdo de seus livros, parte de sua influência foi razão direta de um acanhado mercado editorial nacional, com poucos títulos de geógrafos/as brasileiros/as, fato que só se alteraria após final dos anos de 1980 e que nos permite hoje ler e indicar aos alunos que leiam uma grande variedade de autores/as nacionais e livros a preços acessíveis. Temos hoje, uma produção geográfica de alta qualidade produzida no e a partir da realidade brasileira, fato que mudou certamente a grande dependência que havia em relação à geografia francesa. Para se ter uma ideia da vasta obra de Pierre George, basta citar alguns dos títulos mais conhecidos de seus livros, a grande maioria publicado entre 1950 e 1970 e disponível em língua portuguesa: Geografia Industrial do Mundo (1963); Geografia Agrícola do Mundo (1965); Geografia da União Soviética (1961); A Geografia Ativa (1968); Geografia urbana (1961); Geografia econômica (1961); A Geografia do Consumo (1971); Geografia agrícola do mundo (1975); A ação do homem (1971); Os métodos da Geografia (1972); O meio ambiente (1973); Sociedades em Mudança. Introdução a uma Geografia Social do Mundo Moderno (1982). Me lembro que, em meados dos anos de 1980, surgiu no Brasil uma editora que inovaria a produção editorial da Geografia brasileira, tratou-se da Editora Contexto, por meio da Coleção Repensando a Geografia. Vários autores brasileiros foram convidados a publicar textos que, como o nome sugere, promoviam um repensar dos caminhos dessa área do conhecimento no Brasil. Os livros de capa marrom e padronizada, com número pequeno de páginas, favoreciam a leitura e a aquisição, tendo em vista os altos preços dos livros à época. Guardo até hoje diversos volumes em suas edições originais, acompanhei, portanto, o surgimento dessa novidade, que se revelou de suma importância na popularização e divulgação científica. Passados 6 anos do término de meu mestrado e já atuando no Departamento de Geografia da UFPR, era hora de retomar meus estudos e realizar o doutorado. Decidi conhecer mais profundamente a USP, e lá realizar meu doutorado. Numa primeira tentativa no ano de 1995 não fui selecionada, retornei dois anos depois (1997) e então obtive a aprovação numa das vagas disponibilizadas pela Profa. Dra. Sandra Lencioni. Foram anos difíceis: filhos pequenos, viagem de ônibus, recém-empossada num cargo administrativo junto à Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFPR. Mas seguimos, com comprometimento de meu marido à época e de minha mãe que se mudou para Curitiba após o falecimento de meu pai. Minha rotina de viagem implicava em sair de Curitiba com o ônibus das 6 h da manhã, assistir aulas no período da tarde e retornar no ônibus das 19 h, embarcando no Butantã por volta das 20 h. Dia seguinte, compromissos na PROGRAD. Assim foi por pouco mais de um ano, até o final da gestão de reitor do Prof. Dr. José Henrique de Faria (1998), após o que obtive licença integral para realizar meu doutorado. O tema de minha tese de doutorado ainda fazia referência à indústria, mas inseria uma outra dimensão que muito me encantou desde então: a metrópole. Curitiba estava fervilhando em termos de sua inserção na mídia e no marketing urbano. Um processo importante de implantação de indústrias se verificava, com ênfase nas montadoras de veículos: Renault, Audi-VW e Chrysler. Uma nova oportunidade de pesquisa se anunciava e nela investi minhas forças intelectuais. Esse momento resultou em frutos saborosos, voltarei a eles em breve. Minha tese, intitulada “A nova territorialidade da indústria e o aglomerado metropolitano de Curitiba”, foi defendida em 21 de dezembro de 2001. A banca foi composta pelos professores: Dra. Silvia Selingardi Sampaio (UNESP – Rio Claro); Dr. Eliseu Saverio Sposito (UNESP – Presidente Prudente); Dra. Silvia Maria Pereira de Araújo (UFPR) e Dr. Francisco Capuano Scarlato (USP). Aprendi muito nesse tempo, conheci pessoas, ampliei amizades e relações. A competência de Sandra foi fundamental na consolidação dessa nova etapa. Os colóquios de orientação nos permitiam expor nossos temas e, ao mesmo tempo, sair deles, interagindo com os demais colegas. A ampliação das leituras, os debates, os eventos, tudo convergiu para a solidez da formação nesse nível. Para além do trabalho, estabeleci com Sandra uma amizade que nutro com muito carinho e admiração. Enfim, o título de doutora me lançaria a outras demandas, como é esperado, e em seguida o trabalho se avolumou, em especial pelo fato de que a área de Geografia Humana era extremamente frágil no Departamento de Geografia da UFPR. 4. O PERCURSO PROFISSIONAL E A CARREIRA DOCENTE Minha primeira experiência formal em sala de aula ocorreu de outubro a novembro de 1983, quando atuei como professora substituta na EESG Monsenhor Sarrion, em Presidente Prudente (SP). Quando adentro a sala, em substituição a uma professora em licença saúde, me deparo com um jovem sentado na última fileira e se esquivando de meu olhar, para minha surpresa eu seria professora de um vizinho e amigo de brincadeiras de infância. O acanhamento foi dele.... Duas outras experiências foram importantes: a da Faculdade Miguel Mofarrej em Ourinhos (SP), para onde viajava desde Rio Claro para ministrar 4 aulas na sexta-feira a noite e depois retornava (cerca de 250 km entre ambas as cidades), no ano de 1985 e aquela que me levou a passar dois dias por semana em Jaú na FAFIJA, entre os anos de 1986 e 1987, trabalhando com duas disciplinas na graduação em Geografia e algumas turmas no segundo grau, hoje ensino médio. Dessa experiência, resultou pela primeira vez uma homenagem na formatura, quando fui patronesse da turma de formandos do ano de 1988. Contudo, posso dizer que começo efetivamente minha carreira profissional com a aprovação no concurso público para o departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina, no ano de 1987. Ainda era mestranda, num tempo em que a titulação era ainda rara. Fui aprovada em primeiro lugar e me mudei para Londrina. Trabalhei com várias disciplinas, mas minha prioridade era finalizar meu mestrado, de interesse pessoal e institucional. Fiz muitos/as amigos/as, em especial Francisco Mendonça, colega de departamento lá e cá! Em, 1990, após a defesa de meu mestrado e por questões de ordem pessoal já mencionadas, me exonerei da UEL e me mudei para Curitiba. Passei a trabalhar no Colégio Dom Bosco, lecionando para 7ª e 8ª séries. Foram anos difíceis e de muita insatisfação profissional. Passei a elaborar o material didático de Geografia do colégio, uma boa experiência. No ano de 1991, fiz meu segundo concurso público, para o departamento de Geociências da UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa, a área era cartografia temática! Passei em primeiro lugar e por lá fiquei pouco mais de um semestre por não encontrar o ambiente de trabalho que desejava. No ano de 1992 submeto-me ao meu terceiro concurso público, dessa vez para o departamento de Geografia da UFPR - Universidade Federal do Paraná. Novamente fui aprovada em primeiro lugar. A partir daí começa o capítulo mais duradouro de minha vida profissional. Fui nomeada por meio do Termo de Posse n. 347/92 do Processo n. 36837/92-38, no dia 15 de dezembro de 1992 para o cargo de Professor do Grupo Magistério Superior, classe Assistente, Nível I, lotada no Departamento de Geografia, Setor de Tecnologia, em regime de 20 horas semanais e com o salário de Cr$ 1.224.602,11 (hum milhão, duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e dois cruzeiros e onze centavos). No dia 16 de fevereiro de 1993, solicitei a mudança no regime de trabalho e passei a ser Dedicação Exclusiva. Em novembro de 2019, fui promovida, após defesa de Memorial da Carreira Docente, à Professora Titular do Departamento de Geografia da UFPR. Desde meu ingresso como Professora Assistente, galguei todos os níveis de progressão até encontrar-me hoje, no ápice da carreira. Voltando ao início dessa caminhada, em 1993 me foram atribuídas as seguintes disciplinas na graduação: Geografia da Atividade Industrial, objeto do concurso que realizei, além de Geografia Física Básica para o curso de Ciências Sociais e Cartografia Temática. No ano de 1994 ministrei, além de Geografia Industrial, Fundamentos de Geografia e Orientação à Pesquisa geográfica. A oferta da disciplina de Geografia Física Básica me inseriu no curso de Ciências Sociais, onde participei do primeiro grupo de pesquisas formalizado, o GEAS – Grupo de Estudos Agricultura e Sociedade, coordenado pela Profa. Roseli Santos. Lá conheci também a Profa. Ângela Damasceno Duarte, com quem viria a trabalhar anos mais tarde no Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Também integrei o Colegiado do Curso de Ciências Sociais. Trabalhei com várias disciplinas na graduação, mas desde o ano de 2001, é a Geografia Urbana que tenho sob minha responsabilidade, além de períodos ministrando Geografia Industrial e mais recentemente, uma optativa denominada Urbanização e Metropolização. O departamento de Geografia contava com poucos titulados no momento de meu ingresso. Nos anos de 1990 um vigoroso processo de titulação foi posto em marcha, sob a batuta do competente e saudoso Prof. Naldy Emerson Canali. O desafio era titular os docentes e construir uma proposta de pós-graduação. Devo registrar o entusiasmo de alguns colegas, em especial: Francisco Mendonça (que ingressou na UFPR no ano de 1996), Chisato Oka Fiori, Ines Moresco Danni Oliveira, ambas hoje aposentadas, Sylvio Fausto Gil Filho, dentre outros. Nos anos seguintes ao meu ingresso, tive várias inserções em atividades de representação, tanto na PROEC – Pró Reitoria de Extensão e Cultura, como na PROGRAD – Pró Reitoria de Graduação, essa última resultou na criação do Programa Prolicen na UFPR, sob minha coordenação no ano de 1995 e posteriormente no cargo administrativo de Coordenadora Central dos Cursos de Graduação da UFPR (1996 – 1998). Concluído o mandato junto à PROGRAD, me afastei para o doutorado e retornei no ano de 2000, ainda sem concluir a tese, o que ocorreu em dezembro de 2001. Nessa altura, o Mestrado em Geografia já havia sido implantado (o início foi em 1998), meu envolvimento com o grupo era tamanho que no mês seguinte à minha titulação, já era a nova coordenadora do Mestrado, função que exerci por dois mandatos, desde o dia 24 de janeiro de 2002, exatos um mês de minha defesa de doutorado. E assim, minha vida acelerou... Ao final de meu segundo mandato à frente da Coordenação, iniciei o projeto de criação do doutorado, que só foi implantado anos depois, em 2006. No ano de 2013 assumi novamente a coordenação do agora Programa de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado e Doutorado), até o ano de 2015. Durante uma das minhas gestões à frente do PPGGEO, tivemos aprovado um MINTER - Mestrado Interinstitucional (2005), cuja turma foi ofertada em União da Vitória, na Faculdade de Filosofia, mantida pelo estado do Paraná. Foi uma experiência muito produtiva, contribuímos com a formação de profissionais qualificados que ocupavam postos de docente na própria instituição, em áreas distintas. Em fevereiro de 1996 assumi a Coordenação do Projeto Licenciar, junto à PROGRAD, importante registrar que tal Programa, originalmente vinculado ao MEC foi extinto e decidimos mantê-lo internamente na UFPR, fizemos - sob o comando do Pró-reitor de Graduação, Prof. Euclides Marchi -, um programa próprio da UFPR, com expressiva alocação do que passamos a denominar de “bolsa de licenciatura”, existente até hoje. Fui membro do Comitê Gestor do PROLICEN, junto à Pró Reitoria de Graduação da UFPR, no ano de 1995. Em 1997, integrei a Comissão para análise da proposta de organização do Concurso Vestibular da UFPR. Participei, em 1998, da Comissão responsável por criar o programa institucional de alocação de vagas docentes. No âmbito do Programa das Licenciaturas – PROLICEN, participei da criação do “Caderno de Licenciatura” no ano de 1994, publicação que veiculava os resultados dos projetos desenvolvidos pelo programa. Na década de 2000 integrei o Comitê Gestor do Programa de Fomento da Pós-Graduação – PROF/CAPES, do qual a UFPR experimentalmente fazia parte. Além disso, integrei também diversas Comissões de Estágio Probatório ao longo do tempo, inclusive de vários colegas atuais e alguns já aposentados do departamento de Geografia. No campo da extensão, minhas atividades foram de menor expressão, mas merecem registro. Além das representações junto ao Comitê Assessor de Extensão da PROEC entre os anos de 1993 e 1995, fui vice coordenadora do Projeto de Extensão “Diagnóstico socioambiental das Ilhas das Baías de Guaraqueçaba e Laranjeiras”, integrante do Programa “Desenvolvimento Sustentável em Guaraqueçaba”, nos anos de 2001 e 2002. Esse projeto mobilizou diversos professores do departamento, e também alunos bolsistas de extensão, e foi coordenado pela Profa. Inês Moresco Danni-Oliveira. Realizamos diversos trabalhos de campo nas ilhas mencionadas e tivemos contato muito próximo com a realidade social dos moradores. Minha participação no Comitê Assessor de Extensão me rendeu também alguns artigos publicados sobre a temática da extensão, na revista denominada “Cadernos de Extensão”, publicada desde outubro de 1995 pela PROEC-UFPR. Atuei e participei ativamente da oferta de vários cursos de extensão, os mais relevantes foram aqueles ministrados junto ao CEPAT – Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores e junto à Escola de formação Política Milton Santos e Lorenzo Milani, no CEFÚRIA – Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo. Isso em meados dos anos de 2000. Na última década as atividades de extensão foram frequentes, mas nunca mais oficializadas no âmbito da PROEC. Foram atividades que favoreceram o contato direto com a sociedade, sem a mediação institucional. Talvez isso se justifique pelos vários mecanismos que dificultam o registro das atividades. 5. FORMAÇÃO DE PESSOAS: O PONTO ALTO DA CARREIRA DOCENTE Sem dúvida a atividade mais importante de toda a carreira docente é a formação de pessoas. Pessoas são formadas não só por meio de conteúdos, leituras, aulas, textos escritos, mas, sobretudo, por exemplos, postura, diálogo, incentivo. Assim, atuei na formação de pessoas, que, para além de suas especialidades, são, em primeiro lugar cidadãos/cidadãs, com compromissos sociais no mundo em que vivem. Foram vários níveis de formação: graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, além das participações em bancas, momento particular da formação acadêmica. A parte mais simples de nosso trabalho na universidade são as horas em sala de aula, momentos coletivos de reunião que, obviamente, são antecedidos de preparação, leituras, etc. Simples no sentido da objetividade de um conteúdo previamente definido por um currículo, com ementa, objetivos e bibliografia. A parte difícil, trabalhosa e demandadora de tempo é a formação individualizada, que se faz por meio das orientações, de diferentes modalidades: IC, TCC, dissertação e tese. Assim como as bancas: horas de leitura criteriosa, seguida da exposição pública das considerações. Minha participação no Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento - MADE, se deu entre os anos de 2004 e 2008, foi um tempo de muita aprendizagem coletiva, tendo em vista a forma como as atividades eram estruturadas. Porém, a intensa demanda de tal programa, me levou a me afastar do mesmo formalmente, embora ao longo do tempo tenha tido inserções pontuais. Minha primeira orientação de doutorado ocorreu no MADE no ano de 2007, Rosirene Martins Lima, geógrafa, egressa do mestrado em Geografia e professora na UEMA – Universidade Estadual do Maranhão, realizou no MADE seu doutorado sob minha orientação, cuja tese foi intitulada “Conflitos ambientais urbanos: o lugar enquanto categoria de análise no processo de intervenção pública”. No PPU – Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano, participei desde a construção da proposta e tenho me dedicado a contribuir com o fortalecimento do programa. Tem sido anos de muito trabalho, mas também de muita amizade, solidariedade e alegria. Meus/minhas ex-orientandos/orientandas, atuam em diversos locais do país, em áreas distintas, para além do ensino. Muitos/as já formam pessoas e exercem funções de liderança em suas respectivas instituições. Com alguns mantenho contato, outros tomaram atalhos diversos e nos perdemos. Em nível de mestrado tive uma primeira orientação que, de fato, não poderia ter, pois ainda não estava com o doutorado concluído. Assim, orientei Adriana Rita Tremarin, mas oficialmente seu orientador foi Francisco Mendonça, o trabalho intitulou-se: “Análise do processo de ocupação do setor estrutural norte de Curitiba no contexto do planejamento urbano” e a defesa ocorreu em 2001. Adriana realizou uma pesquisa muito importante sobre a verticalização nos setores estruturais de Curitiba. Sua dissertação é um registro importante de um processo que se acelerou nos anos recentes, e como tal, permite retomar comparativamente o processo, tendo em vista o detalhado trabalho de campo realizado por Adriana, que mapeou os usos do solo nos respectivos setores estruturais. No ano de 2002, tive o prazer de ter minha primeira orientanda de Iniciação Científica, Mônika Christina Portella Garcia, premiada como primeira colocada na Banca n. 34 do Setor de Ciências da Terra no EVINCI. Desde então, tenho orientado regularmente um ou dois alunos de IC por ano, alguns desenvolveram suas atividades de modo voluntário, o que tem sido frequente, após a mudança da política de concessão de bolsas aos docentes na UFPR, normalmente limitada a uma bolsa por docente. A maioria dos meus/minhas orientandos/as prosseguiu na formação em nível de mestrado e, alguns, também já são doutores/as, cumprindo, dessa maneira, com o que se espera da iniciação científica: despertar o jovem para a pesquisa e produção do conhecimento. Três modalidades de orientação de outra natureza foram relevantes ao longo de minha carreira. A primeira referiu-se as orientações do programa PDE - Programa de Desenvolvimento da Educação – SEED/PR do governo do Estado do Paraná, por meio do qual, professores eram dispensados de parte de sua carga didática para cumprir um conjunto de atividades na universidade, incluindo o desenvolvimento de um projeto de ensino a ser aplicado na escola. Foi um tipo diferente de capacitação e me permitiu a aproximação mais direta com a realidade escolar, por meio dos professores que orientei. Outra modalidade, constituiu-se numa bolsa ofertada aos alunos de graduação e que já não existe mais, denominava-se “bolsa trabalho”, por meio da qual os alunos cumpriam certa carga horária de atividades e recebiam uma retribuição financeira por isso. Sempre tive por prática envolver esses alunos nas atividades de pesquisa. Muitos migraram, depois, para a iniciação científica. Importante também foram as bolsas de Licenciatura, que me permitiram desenvolver projetos relevantes, como aquele que se dedicava a divulgar o Curso de Geografia em escolas do segundo grau com vistas a demostrar aos alunos as potencialidades desse curso. Intitulava-se “Promoção e divulgação do Curso de Geografia junto ao ensino de 1º e 2º graus em Curitiba - Feira Geográfica itinerante” e, com a participação ativa de um grupo de alunos da graduação, percorríamos diversas escolas. Não tenho o registro de todos/as os/as alunos/as que estiveram integrados a esse projeto, mas alguns nomes me recordo: Cássia Dias Teixeira, Herlon de Oliveira Andrade, Marco Aurélio Rodrigues, Maria Cristina Borges da Silva, Helen Simone França, no ano de 1996. Minha primeira experiência como membro de banca de mestrado ocorreu no ano de 2002, por ocasião do bem-sucedido projeto sobre as indústrias automobilísticas, onde, sob orientação da Profa. Benilde Motim, o candidato Cesar Sanson, apresentou sua dissertação “O feitiço da organização: novas relações de trabalho - um estudo de caso”, junto ao Mestrado em Sociologia da Universidade Federal do Paraná. A maioria dos meus/minhas orientandos/as prosseguiu na formação em nível de mestrado e, alguns, também já são doutores/as, cumprindo, dessa maneira, com o que se espera da iniciação científica: despertar o jovem para a pesquisa e produção do conhecimento. Três modalidades de orientação de outra natureza foram relevantes ao longo de minha carreira. A primeira referiu-se as orientações do programa PDE - Programa de Desenvolvimento da Educação – SEED/PR do governo do Estado do Paraná, por meio do qual, professores eram dispensados de parte de sua carga didática para cumprir um conjunto de atividades na universidade, incluindo o desenvolvimento de um projeto de ensino a ser aplicado na escola. Foi um tipo diferente de capacitação e me permitiu a aproximação mais direta com a realidade escolar, por meio dos professores que orientei. Outra modalidade, constituiu-se numa bolsa ofertada aos alunos de graduação e que já não existe mais, denominava-se “bolsa trabalho”, por meio da qual os alunos cumpriam certa carga horária de atividades e recebiam uma retribuição financeira por isso. Sempre tive por prática envolver esses alunos nas atividades de pesquisa. Muitos migraram, depois, para a iniciação científica. Importante também foram as bolsas de Licenciatura, que me permitiram desenvolver projetos relevantes, como aquele que se dedicava a divulgar o Curso de Geografia em escolas do segundo grau com vistas a demostrar aos alunos as potencialidades desse curso. Intitulava-se “Promoção e divulgação do Curso de Geografia junto ao ensino de 1º e 2º graus em Curitiba - Feira Geográfica itinerante” e, com a participação ativa de um grupo de alunos da graduação, percorríamos diversas escolas. Não tenho o registro de todos/as os/as alunos/as que estiveram integrados a esse projeto, mas alguns nomes me recordo: Cássia Dias Teixeira, Herlon de Oliveira Andrade, Marco Aurélio Rodrigues, Maria Cristina Borges da Silva, Helen Simone França, no ano de 1996. Minha primeira experiência como membro de banca de mestrado ocorreu no ano de 2002, por ocasião do bem-sucedido projeto sobre as indústrias automobilísticas, onde, sob orientação da Profa. Benilde Motim, o candidato Cesar Sanson, apresentou sua dissertação “O feitiço da organização: novas relações de trabalho - um estudo de caso”, junto ao Mestrado em Sociologia da Universidade Federal do Paraná. A maioria dos meus/minhas orientandos/as prosseguiu na formação em nível de mestrado e, alguns, também já são doutores/as, cumprindo, dessa maneira, com o que se espera da iniciação científica: despertar o jovem para a pesquisa e produção do conhecimento. Três modalidades de orientação de outra natureza foram relevantes ao longo de minha carreira. A primeira referiu-se as orientações do programa PDE - Programa de Desenvolvimento da Educação – SEED/PR do governo do Estado do Paraná, por meio do qual, professores eram dispensados de parte de sua carga didática para cumprir um conjunto de atividades na universidade, incluindo o desenvolvimento de um projeto de ensino a ser aplicado na escola. Foi um tipo diferente de capacitação e me permitiu a aproximação mais direta com a realidade escolar, por meio dos professores que orientei. Outra modalidade, constituiu-se numa bolsa ofertada aos alunos de graduação e que já não existe mais, denominava-se “bolsa trabalho”, por meio da qual os alunos cumpriam certa carga horária de atividades e recebiam uma retribuição financeira por isso. Sempre tive por prática envolver esses alunos nas atividades de pesquisa. Muitos migraram, depois, para a iniciação científica. Importante também foram as bolsas de Licenciatura, que me permitiram desenvolver projetos relevantes, como aquele que se dedicava a divulgar o Curso de Geografia em escolas do segundo grau com vistas a demostrar aos alunos as potencialidades desse curso. Intitulava-se “Promoção e divulgação do Curso de Geografia junto ao ensino de 1º e 2º graus em Curitiba - Feira Geográfica itinerante” e, com a participação ativa de um grupo de alunos da graduação, percorríamos diversas escolas. Não tenho o registro de todos/as os/as alunos/as que estiveram integrados a esse projeto, mas alguns nomes me recordo: Cássia Dias Teixeira, Herlon de Oliveira Andrade, Marco Aurélio Rodrigues, Maria Cristina Borges da Silva, Helen Simone França, no ano de 1996. Minha primeira experiência como membro de banca de mestrado ocorreu no ano de 2002, por ocasião do bem-sucedido projeto sobre as indústrias automobilísticas, onde, sob orientação da Profa. Benilde Motim, o candidato Cesar Sanson, apresentou sua dissertação “O feitiço da organização: novas relações de trabalho - um estudo de caso”, junto ao Mestrado em Sociologia da Universidade Federal do Paraná. As bancas permitem uma relação mais direta com a formação, como destacado anteriormente, por vezes são momentos tensos, a depender do trabalho apresentado. Situações de reprovação não foram comuns, mas ocorreram... Participei de mais de trinta bancas de mestrado desde o ano de 2002, em diferentes áreas do conhecimento e em diferentes instituições. Dentre as mais de duas dezenas de participações em bancas de doutorado, registro a primeira, de modo especial, ocorrida em 2003, porque foi na instituição onde me doutorei – USP-, e defendida por um contemporâneo de doutorado, em cuja banca estava também a Profa. Ana Clara Torres Ribeiro da UFRJ, além de Odete Seabra e Francisco Capuano Scarlato, a orientação esteve a cargo de Sandra Lencioni. Tratou-se da banca de Floriano José Godinho de Oliveira (UERJ), que desenvolveu a tese “Reestruturação produtiva e regionalização da economia no território fluminense”. Uma das faces mais gratificantes de meu trabalho ao longo de tantos anos, tem sido a relação com meus alunos e alunas. A relação de respeito e o exercício da autoridade do argumento, como enfatiza Pedro Demo (5) , resultou em vários momentos em que fui homenageada nas solenidades de formatura, em muitos tive que discursar, o que permitiu dirigir-me a uma plateia formada por familiares e amigos/as dos/as formandos/as, pessoas com as quais nunca interagimos, a não ser no dia em que os alunos/as deixam a instituição. É sempre uma grande responsabilidade. Nessas ocasiões sou sempre levada a pensar em quem são os/as alunos/as, de onde vieram, no que acreditam, de que contextos familiares são resultados, as vezes apenas nesse momento de contato descortina-se a explicação para certas atitudes, até então incompreendidas.... 6. A PESQUISA E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO Meu primeiro projeto de pesquisa registrado na UFPR intitulou-se “Análise da evolução temporo-espacial da atividade industrial no Estado do Paraná”, no ano de 1993 e sob o número 093003180 no BANPESQ – Banco de Pesquisa da UFPR. Nessa época, participava de dois grupos de pesquisa: GEAS – Grupo de Estudos Agricultura e Sociedade, com pesquisadores dos departamentos de Economia, Ciências Sociais, Antropologia e Geografia e do Grupo de Pesquisa em História Urbana, com pesquisadores dos departamentos de História, Arquitetura e Urbanismo, Antropologia, Ciências Sociais e Geografia. Observa-se a interação que já caracterizava minhas relações de pesquisa. A primeira experiência de pesquisa coletiva, ocorreu no âmbito do departamento de Geografia, por ocasião do projeto integrado que tratava de diversas dimensões de ocupação na Bacia do Alto Iguaçu, na Região Metropolitana de Curitiba (1996-2000). Foi uma tentativa exitosa de fazer a articulação dos professores do departamento de Geografia em suas várias áreas de trabalho, convergindo para o que resultou, na sequência, no projeto de criação do curso de mestrado. Contudo, foi após a finalização de meu doutorado que encontrei – como esperado - as condições de me dedicar com autonomia à pesquisa. Nesse trajeto, alguns encontros devem ser registrados. O primeiro deles ocorreu em torno da discussão da implantação da indústria automobilística no Paraná: Profa. Silvia Araújo e Profa. Benilde Motim, ambas do departamento de Ciências Sociais. Juntas criamos um grande grupo de discussão do então recente processo de implantação das montadoras no Paraná, com desdobramentos muito relevantes e positivos em termos de qualificação de recursos humanos, publicação de livros e capítulos e financiamento de pesquisa. Esse tema nos proporcionou um primeiro financiamento de pesquisa pelo CNPQ e pela Fundação Araucária entre os anos de 2003 e 2006, com o projeto “Indústria automobilística no Paraná: relações de trabalho e novas territorialidades”. Em seguida, no ano de 2005, fui contemplada com uma Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPQ com o projeto “Território e territorialidades da indústria automobilística no Paraná”, desenvolvido entre 2005 e 2008, bem como, a concessão de bolsa para realização de estágio de pós-doutorado na Universidade de Paris I (2007-2008), para desenvolver e aprofundar o tema da indústria automobilística, com ênfase na Renault. Outro projeto que me projetou a redes muito férteis de trabalho, foi o de cooperação com a Argentina, iniciado no âmbito das minhas atividades junto ao Comitê de Desenvolvimento Regional da AUGM (Associação das Universidades do Grupo de Montevideo), prosperou em direção à uma cooperação financiada pela CAPES no Brasil e pelo MinCyT na Argentina, dedicado a compreender as metrópoles secundárias em ambos os países, intitulou-se “Para além das metrópoles globais: análise comparada das dinâmicas metropolitanas em metrópoles secundárias no Brasil (Curitiba) e na Argentina (São Miguel de Tucumán)”. A cooperação segue, agora amparada pelo Programa de Internacionalização PrInt, financiado pela CAPES, em projeto por mim coordenado. Uma vasta produção bibliográfica e de relações de trabalho foi desenvolvida, contatos que favoreceram a ampliação dos horizontes de muitos alunos e alunas da pós-graduação. Esse projeto interagiu com o Doutorado em Arquitetura da Universidade Nacional de Tucumán, ampliando suas perspectivas temáticas. No âmbito das redes de cooperação e pesquisa, sem dúvida a experiência junto ao INCT-Observatório das Metrópoles deve ser ressaltada. Se trata de uma ampla rede nacional de pesquisa, que permitiu a interação com pesquisadores de diversas instituições no país, além de ter representado, por certo tempo, uma fonte de recursos perene para pesquisa e, em especial, para publicações. Essa experiência de pesquisa foi e continua sendo desafiadora, na medida em que, se tratou de construir uma agenda de pesquisa que permitisse a interlocução com diversos pesquisadores de diferentes lugares do país e de distintas áreas de formação, debruçados sobre a temática urbano/metropolitana. Além de minha participação ativa como pesquisadora da Linha 1, intitulada atualmente, “Metropolização e o desenvolvimento urbano: dinâmicas, escalas e estratégias”, integrei, durante os anos de 2009 e 2012, o Comitê Gestor do INCT-OM e atuei como Coordenadora do Núcleo Curitiba, entre os anos de 2008 e 2019. Na configuração inicial do projeto, coordenei a Linha 1 em conjunto com a geógrafa Rosa Moura e, atualmente, coordenamos, também em conjunto, o projeto “Organização do espaço urbano-metropolitano e construção de parâmetros de análise das dinâmicas de metropolização”. Tentamos, desse modo, favorecer uma leitura do território desde as metrópoles e, em especial, como as mesmas participam do processo de metropolização em curso no país, com ênfase nas suas especificidades regionais. No Observatório, a interlocução com pesquisadores e pesquisadoras de diferentes áreas do conhecimento e de diferentes instituições, oportunizou momentos ímpares de reflexão acadêmica e de ganhos pessoais. Destaco como de grande relevância tanto no âmbito da pesquisa quanto da extensão, o desenvolvimento do projeto “Megaeventos e espaço: análise e acompanhamento das transformações metropolitanas decorrentes da realização da Copa do Mundo de 2014 em Curitiba (PR)”. Oriundo de uma demanda do Observatório das Metrópoles, tal projeto teve como desafio, acompanhar e compreender as transformações decorrentes dos megaeventos esportivos, tanto nas 12 cidades-sedes dos jogos da Copa de 2014, como também no Rio de Janeiro, por ocasião das Olimpíadas de 2016. Recebeu financiamento da FINEPE. Esse projeto permitiu uma inserção social jamais alcançada com os demais projetos, dada sua temática e os vários questionamentos dela decorrentes. Apoiamos movimentos sociais, interagimos com organizações de diferentes níveis, oferecemos diversas interpretações para a mídia local, nacional e internacional. Me lembro de compor uma mesa redonda com uma grande atleta brasileira, Ana Moser (vôlei), por ocasião de um evento promovido pelo Instituto Esporte e Educação, no âmbito do projeto Cidades da Copa idealizado pelo referido instituto, coordenado pela atleta, no ano de 2013. Da mesma forma, algumas entrevistas à imprensa internacional merecem destaque: Brazilian officials are giving up on some unfinished World Cup projects publicada no prestigiado jornal americano The Washington Post em matéria assinada pelo repórter Dom Phillips, na edição de 7 de maio de 2014; The World Cup in Brazil. The half-time verdict. Publicada no jornal inglês The Economist, em matéria de 27 de junho de 2014 e Grands stades en quête d’urbanité. Publicado num Dossiê da revista francesa Revue Urbanisme n. 393, em 10 de abril de 2014. Livros, capítulos, artigos e um boletim mensal de acompanhamento das ações relativas à Copa, foram um importante legado desse projeto. O Boletim Copa em Discussão, foi a maneira que encontramos de divulgar as ações, as atividades e de circular informação qualificada sobre o processo de realização da Copa em Curitiba. Foi uma experiência importante, tendo como responsável, a então bolsista, Patrícia Baliski. Nesse percurso, inserções mais pontuais em projetos de grande envergadura devem ser lembradas, tal qual aquela que resultou na minha participação na equipe de pesquisadores do Projeto Temático, financiado pela FAPESP e coordenado pelo Prof. Eliseu Sposito, intitulado “O mapa da indústria no início do século XXI. Diferentes paradigmas para a leitura territorial das dinâmicas econômicas no Estado de São Paulo", entre os anos de 2006-2011. Recentemente, fui lançada a um novo desafio profissional, coordenar um dos projetos da UFPR, desenvolvidos no âmbito do Programa de Internacionalização da Capes, a saber “Capes/PrInt - Espaço, sociedade e desenvolvimento: desafios contemporâneos”. Nele as redes se ampliaram, tanto dentro da UFPR, na interação direta com outros cinco programas de pós-graduação, quanto com os desdobramentos internacionais dos membros do grupo. Seu desafio é compreender processos contemporâneos que nos alcançam em face da temática do espaço e da sociedade, mediados pelas perspectivas de desenvolvimento. Retoma-se a cooperação com a Universidade Nacional de Tucumán na Argentina, partindo-se do pressuposto de que desde o Sul, temos uma inserção diferenciada nos processos em curso no mundo contemporâneo e olhar realidades similares a nossa pode favorecer o reconhecimento de “onde estamos” no contexto das discussões sobre desenvolvimento. Ainda em setembro de 2019, realizei uma Missão de trabalho em Tucumán, que se pautou no estabelecimento de uma agenda de trabalho e que favoreceu a troca de experiências em face do momento político que vivem ambos os países. Também uma agenda de pesquisa foi elaborada, com objetivo de potencializar as leituras de nossas respectivas realidades. Uma das características que posso identificar olhando minhas pesquisas em conjunto, é seu caráter comparado. Tal característica é estruturante no meu projeto atual de pesquisa, intitulado “Convergências e distanciamentos na estruturação das metrópoles brasileiras: Curitiba e Belém”. Se trata de um desdobramento de duas preocupações anteriores: uma com a pesquisa comparada, como afirmado anteriormente, outra com a compreensão do papel das metrópoles brasileiras, desde seus contextos distintos no território nacional. Assim, esse projeto é, de certa forma, um desdobramento da cooperação com Tucumán e de minha inserção no Observatório das Metrópoles. Posso afirmar que descobrir a Amazônia foi transformador em minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Conhecer o Brasil profundo, me trouxe inúmeras indagações sobre a formação de nosso país: sociedade, cultura, natureza e, em especial, sobre a natureza constitutiva e diferenciada do espaço geográfico. Compreender como se conformam metrópoles em face de tais singularidades tem sido um desafio de pesquisa. Nela tenho inserido alunos de diversos níveis, permitindo que persigamos uma visão de realidade nacional que ultrapasse as fronteiras do “sul maravilha” e confronte a diversidade que nos caracteriza enquanto país. Além dessas principais pesquisas, me envolvi em várias outras, seja em função das demandas de orientação, seja em função da interação com outros pesquisadores em suas trajetórias de pesquisa. Uma dessas interações ocorreu entre os anos de 2002 e 2008, quando passei a integrar a equipe de um grande projeto de pesquisa sobre a assistência social no estado do Paraná, intitulado “Descentralização Político-Jurídico-Administrativa da LOAS - reconstrução de conceitos ou manutenção de saberes e práticas” e com o qual contribui especificamente desenvolvendo o tema “O processo de regionalização do estado do Paraná: relação entre história, economia, política, sociedade e cultura e a implementação da política de assistência social”. Nele, pensávamos a regionalização desde a assistência social como contribuição da Geografia, mas a equipe contou com diversos profissionais de várias áreas do conhecimento. A coordenadora da pesquisa era a Profa. Odaria Battini, da PUCPR e um dos principais produtos da pesquisa foi a produção do Atlas da Assistência Social no Paraná. Ainda no âmbito das atividades de pesquisa, criei em 2009 o Grupo de Estudos sobre Dinâmicas Metropolitanas – GEDiMe, que tem como vice-líder a Profa. Madianita Nunes da Silva. O GEDiMe, congrega pesquisadores e estudantes de pós-graduação e graduação de diferentes áreas do conhecimento e de diferentes instituições, que visam discutir as dinâmicas metropolitanas, com especial ênfase naquelas que se desenvolvem em Curitiba e aglomerado metropolitano. A linha de investigação do Grupo é norteada teoricamente, pelas inúmeras e recentes proposições que buscam qualificar o urbano/metropolitano e sua expressão espacial. Metodologicamente, cada pesquisador e ou estudante, desenvolve sua pesquisa sobre um dos setores/atividades selecionados para análise, respectivamente: centros empresariais, edifícios corporativos e novas implantações industriais; shoppings centers e hipermercados; hotéis, ambientes para conferências e feiras; parques temáticos e complexos cinematográficos; edifícios de alto padrão e condomínios fechados; ocupações irregulares; além dos fluxos como os do deslocamento pendular e dos transportes coletivos. As linhas de pesquisa do GEDiMe são: Espaços de moradia e dinâmica metropolitana; Indústria, equipamentos de comércio e serviços e extensão metropolitana; Metropolização e megaeventos; Redes, fluxos e dinâmica metropolitana. Integro, ainda como pesquisadora, o Grupo de Pesquisa Geografia Regional e Produção do Espaço - GERPE, criado em 2018 e sediado na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA e liderado pelo Prof. Eudes Leopoldo de Souza. O Grupo possui três linhas de pesquisa, a saber: Dinâmicas regionais do desenvolvimento; Metropolização, urbanização e regionalização, e Regionalismos e contradições do planejamento regional. Meus interesses estão na segunda linha, dedicada a discutir a metropolização. Como decorrência das atividades de pesquisa, fui coordenadora do único laboratório de pesquisa na área de Geografia Humana do Departamento de Geografia, o LAGHUR – Laboratório de Geografia Humana e Regional, cuja materialização se deu quando da primeira visita da CAPES ao recém-criado Programa de Pós-Graduação em Geografia (por volta de 1999), momento em que, pela ausência completa de espaço físico nas precárias dependências do Departamento, o banheiro feminino foi transformado em laboratório. Quando o departamento ampliou suas instalações, transferindo-se para o novo edifício João José Bigarella (2013), resultante, dentre outros, dos esforços da então diretora do Setor de Ciências da Terra, Profa. Chisato Oka Fiori, tivemos a possibilidade de criar novos laboratórios, momento em que propus a criação do LaDiMe – Laboratório de Dinâmicas Metropolitanas, que ainda coordeno, tendo o Prof. Danilo Volochko como vice coordenador e responsável por várias pesquisas em seu interior. 7. PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA Se a formação de pessoas pode ser considerada a atividade mais importante de toda a carreira docente, a produção bibliográfica pode ser considerada o capítulo mais sólido dessa mesma carreira. O que está escrito, está registrado, tem longa duração e revela a contribuição original do pesquisador em face dos seus temas de investigação. Observar os títulos dos artigos, capítulos, trabalhos produzidos, é reconhecer a trajetória, a diversidade de temas que me motivaram para pesquisa, ora em razão de meus interesses e objetos próprios de pesquisa, ora por encampar temas trazidos pelos orientandos em seus processos de amadurecimento. Assim, as redes de pesquisa e os temas de meu interesse podem ser encontrados nos títulos dos textos que escrevi ao longo do tempo. No final de ano de 2019, finalizei a organização de um dossiê para o Cadernos Metrópole (PUCSP), intitulado “Metropolização: dinâmicas, escalas e estratégias”, composto por 13 textos relacionados à temática e que integram o volume 22, n. 47 da referida publicação, publicada em janeiro de 2020. Em 2020, forçada pelo distanciamento imposto pela pandemia da covid 19, consegui avançar em vários projetos de artigos, que deverão repercutir em publicações futuras. Os principais projetos de pesquisa que desenvolvi/participei, resultaram em livros, em especial aqueles relacionados à temática da indústria automobilística, à cooperação com a Argentina e aqueles desenvolvidos no interior do INCT/Observatório das Metrópoles. Trabalho coletivo, árduo, mas de grande satisfação quando concluído. Diversos capítulos de livros também registram o percurso da pesquisa e dos temas ao longo do tempo. A metrópole, a indústria, a região metropolitana, os megaeventos, estão entre os principais temas tratados. A relação completa dos artigos e livros publicados pode ser consultada na Plataforma Lattes, especificamente no link: http://lattes.cnpq.br/9800077863356518 8. ATIVIDADES TÉCNICAS Além das atividades de pesquisa, produção do conhecimento, elaboração de textos e formação de recursos humanos, uma outra dimensão da vida acadêmica deve ser destacada. Se trata da participação em atividades técnicas, entendidas como de assessoria e consultoria, além da inserção nos diversos processos de avaliação por pares. Por vezes, tais atividades não são devidamente valoradas nos processos de avaliação, mas são demandadoras de muito esforço intelectual, uma vez que parte delas relaciona-se a avaliação por pares. Assim, avaliar um texto para publicação ou um projeto para uma agência de fomento, são atividades que demandam alto grau de dedicação, além da necessária discrição. Contudo, não posso deixar de registrar aqui, a minha primeira experiência com avaliação de projetos como consultora ad hoc junto ao CNPQ no início dos anos de 2000, sem mencionar o projeto, posso apenas afirmar que foi proposto por uma pessoa que muito admiro profissional e pessoalmente, com competência acadêmica ímpar. Difícil começo... No campo da participação em atividades de avaliação de cursos, tenho que ressaltar duas experiências principais: minha participação no Comitê de Área de Geografia da CAPES, por dois triênios (um deles não completo) e a avaliação de uma Unidade de Pesquisa na Universidade de Artois, na cidade de Arras, no norte da França. A experiência de participar da Comissão da Área de Geografia na CAPES me permitiu conhecer os meandros do processo avaliativo e as dificuldades dele decorrente. A passagem da condição de professora-pesquisadora para a de representante oficial da agência de avaliação é reveladora de conflitos, ou seja, a condição de professora-pesquisadora fica em segundo plano, sobreposta pela representação e uma instituição em cuja política e definições internas nada ou muito pouco podemos interferir. Por ocasião de minha primeira experiência, fiquei pouco mais de um ano, tendo em vista minha saída do país para a realização do pós-doutorado. O ano era 2006 e a coordenadora da área era a Profa. Dra. Dirce Suetergaray (UFRGS), com quem trabalhei em diversas visitas aos programas, em meio a uma das maiores crises aéreas pelas quais o país passou. Ao estresse da avaliação, somou-se o dos deslocamentos. Em 2008 retorno à Comissão, dessa vez sob coordenação do Prof. Dr. José Borzachielo da Silva (UFC), cumprindo o triênio 2008-2010 e participando ativamente de todas as etapas do processo de avaliação. Nas visitas que fiz pelos diversos programas de pós-graduação nos pontos mais distantes do país, sempre me inquietou as diferenças regionais e o esforço de cada programa em superar sua condição anterior, contudo, nós que tínhamos a visão de todos os programas do Brasil, sabíamos que mesmo com todo o esforço demostrado e efetivado, a condição do programa não tinha se alterado no conjunto. Difícil mobilizar esforços em realidades tão diversas e com condições assimétricas de recursos, infraestrutura, etc. Por outro lado, num país com as dimensões do nosso, é preciso que sejam estabelecidos critérios capazes de equiparar as formações em cada canto do território. Por duas outras ocasiões fui convidada a voltar à Comissão, mas penso que quanto maior a diversidade de pessoas envolvidas com essa dinâmica, maior qualidade se agrega ao processo, e mais se conhece sobre suas características próprias. Ainda no campo da avaliação da pós-graduação, tive uma experiência espetacular em dezembro de 2008. Fui convidada para atuar como avaliadora externa de uma Unidade de Pesquisa localizada na Universidade de Artois, no norte da França, tratou-se da EA 2468 - DYRT - Dynamique des réseaux et des territoires. Tal processo de avaliação foi conduzido pela AERES - Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur da França. A composição da Comissão de avaliação foi a seguinte: Presidente, Jean-Christophe GAY (Université de Nice-Sophia Antipolis), experts: Olga FIRKOWSKI (Université fédérale du Parana – Curitiba - Brésil), Bernard VALLADAS (Université de Limoges) e Colette VALLAT (Université Paris 10); expert representante do comitê de avaliação de pessoal (CNU, CoNRS, CSS INSERM, representante INRA, INRIA, IRD): Jean-Paul Amat (CNU) e um observador, delegado científico da AERES, Yvette VEYRET. Um dos coordenadores da agência, Gabriel Dupuy, foi meu supervisor de pós-doutorado e foi o responsável por minha indicação. Na França, não há programas de pós-graduação na concepção que temos no Brasil, assim, doutorandos estão alocados em Unidades de Pesquisa que são avaliadas periodicamente com vistas a continuidade do credenciamento para doutorado e dos recursos dispensados. A avaliação consistia na leitura prévia de vários documentos enviados pela respectiva Unidade de Pesquisa, ao que se seguia a visita e posterior avaliação de um dossiê conclusivo. A visita ocorreu no dia 10 de dezembro de 2008, um dia frio de muita neve em Paris e minha mala não foi embarcada no mesmo vôo que eu.... mas essa história é para outra oportunidade.... Ainda no âmbito dos trabalhos técnicos, tive uma larga experiência de avaliação junto ao PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, do MEC/FNDE. Minha primeira participação se deu como avaliadora e ocorreu no ano de 2005, quando tal foi coordenado pela Unesp de Presidente Prudente. Se tratou talvez do trabalho de maior complexidade que executei na minha vida profissional, o que pode parecer estranho para quem nunca teve envolvimento com essa dimensão de uma política pública ou talvez para quem não tenha assumido tal tarefa com a seriedade e compromisso com a qual eu assumi. Ao todo, participei de sete edições do PNLD, de fases distintas do ensino básico e com posições diferentes na equipe: nos anos de 2005 (UNESP – Pres. Prudente), 2008 (UNESP – Pres. Prudente), 2011 (UFRGS) e 2013 (UFU) atuei como avaliadora e, em 2013, por um curto lapso de tempo também como coordenadora adjunta, fazendo a leitura e avaliação das fichas de avaliação dos livros. Nos anos de 2011 e 2014 atuei como coordenadora da área de Geografia, assumindo, junto com o coordenador técnico, Prof. Eliseu Sposito, a responsabilidade por todo o processo, bem como com a Profa. Inês Moresco Dani-Oliveira que atuou como coordenadora institucional em 2011 e com o Prof. Tony Moreira Sampaio, que teve tal função no ano de 2014. Sem dúvida foi uma experiência densa, em todos os sentidos possíveis: na relação com o MEC, na relação com as instâncias superiores da UFPR, na relação com a equipe de adjuntos e coordenadores e na relação com os avaliadores. Impossível descrever a carga de trabalho e de responsabilidade que envolviam tal atividade, ao que se somava o fato de que tal atividade era sigilosa, portanto, merecedora de cuidados com a divulgação do material, com os lugares das reuniões, com o fluxo de arquivos, etc. Como meu envolvimento foi grande com esse processo, em 2018 tive a curiosidade de saber como seria o encaminhamento do PNLD sob uma nova fase da vida nacional, em especial pelo fato de que as universidades foram paulatinamente retiradas da coordenação do processo, assumindo o próprio MEC tal atribuição. Assim, me candidatei a ser avaliadora, processo ocorrido totalmente a distância pelo site do MEC. Avaliei uma coleção, jamais conheci que eram os coordenadores imediatos e que avaliavam a minha avaliação. Um poderoso e complexo sistema on line foi desenvolvido e nele inseríamos nossas avaliações. Perdeu-se, assim, o momento rico de discussão de cada obra, para confrontar prós e contras da decisão de cada coleção. O avaliador passou a ser um mero tarefeiro tendo externalizada para postos superiores as decisões, sem qualquer retorno ou participação ampliada. Uma lástima.... Muito provavelmente esse é mais um capítulo fechado em minha carreira. Avaliar tem sido uma atividade recorrente em minha vida profissional. Assim, além de avaliar textos, programas de pós-graduação, artigos submetidos a eventos, também tive a oportunidade de compor juris de premiação de trabalhos de conclusão da pós-graduação stricto sensu. Assim, por diversas vezes integrei juris de melhor dissertação e de melhor tese, tanto no âmbito da ANPUR, quanto da ANPEGE e também da Capes. No ano de 2020, novo desafio se apresentou nesse campo de trabalho: fui designada pelo CNPQ, para integrar o Comitê de Assessoramento Arquitetura, Demografia, Geografia, Turismo e Planejamento Urbano e Regional, na qualidade de representante da Área de Geografia Humana. O processo de escolha dos representantes se dá pela votação dos pares, pesquisadores PQ 1 do CNPQ, além de um voto da associação da área. Para minha surpresa, meu nome foi indicado e assumo essa função até junho de 2023, tendo como colega de representação a Profa. Dra. Doralice Sátyro Maia (UFPB). Refletindo sobre minha inserção nas discussões acerca do planejamento urbano, em especial numa cidade como Curitiba, reconhecida por suas inciativas aplicadas nesse campo, algumas observações devem ser registradas. Em primeiro lugar posso afirmar que tive êxito na inserção da Geografia no universo da discussão crítica do planejamento urbano em Curitiba. Pensar a cidade e opinar sobre ela tem sido marcas de meu trabalho, atuar muito próximo aos arquitetos e urbanistas me proporcionou diálogos importantes ao longo do tempo e, em especial, me permitiu ter participação ativa na formação desses profissionais, tendo em vista a formação em nível de pós-graduação (mestrado e doutorado) com a qual contribui, haja vista que tive diversos/as orientandos/as provenientes dessa área do conhecimento. Contudo, um acontecimento sobre o qual raramente comentei, penso que deve ser registrado nesse momento: se tratou de um convite que recebi no ano de 2006, para assumir a Diretoria de Planejamento do IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Poucos convites me deixaram tão honrada como esse, contudo, declinei, por algumas razões que explicito. Em primeiro lugar pelo fato de que estava imersa num projeto de envergadura que era minha saída do país para realizar o pós-doutorado, projeto que envolvia uma enorme logística preparativa, em razão de suas especificidades em termos profissionais e familiares; em segundo lugar porque tal atividade se daria já no decurso de cerca de dois anos da gestão municipal, ou seja, não se tratava de iniciar um novo projeto, mas de envolvimento em um projeto em curso, muito embora a presidência do IPPUC estava sendo alterada nesse momento e dela recebi o convite; em terceiro lugar e não menos relevante, isso certamente resultaria em embates cotidianos pesados em razão do fato de eu ser originária da Geografia, e não pertencer ao grupo predominante de arquitetos urbanistas do instituto. Avaliei os prós e os contras e resolvi seguir com meus projetos de mais longo prazo, fato do qual nunca tive arrependimento. Ponderei que o custo pessoal seria demasiado em face dos prováveis ganhos de visibilidade dos/as geógrafos/as no processo de planejamento. Nem imagino como teria sido se a decisão fosse outra... Duas outras experiências no campo aplicado da atuação do geógrafo merecem também registro: uma participação na equipe de elaboração do Estudo da Rede Urbana da Bahia, encomendado pelo governo do estado da Bahia e desenvolvido pelo escritório Vertrag Planejamento Urbano no ano de 2009. Esse envolvimento me trouxe um conjunto muito relevante de aprendizados e de contatos. Do ponto de vista dos aprendizados, foi a partir dessa atuação que refleti muito sobre a vida na universidade e a aplicação daquilo com que trabalhamos na perspectiva conceitual. O tema principal de minha atuação foi relacionado ao processo de criação de regiões metropolitanas na Bahia, ou seja, havia a intenção de proposição de outras regiões metropolitanas para o estado, além de Salvador. Nessas discussões, muito refleti sobre a noção de “pureza conceitual”, ou seja, sobre minha visão do processo de proposição de regiões metropolitanas observando o conceito de metrópole e a escala nacional. Assim, embora apenas Salvador concentrasse os papeis normalmente atribuídos à metrópole, o estado da Bahia desejava criar outras regiões metropolitanas que pudessem atender às demandas de políticas públicas internas ao estado, ou seja, numa visão restrita ao território baiano. A “pureza conceitual” significava tomar o conceito acima de tudo, o que pode não ser adequado quando o trabalho é aplicado à uma realidade específica, assim, desde a atuação técnica são necessárias concessões... é preciso alterar o olhar em busca das demandas da realidade o que pode significar uma flexibilidade teórica pelo bem da ação. Outra experiência que deve ser registrada foi aquela ocorrida no ano de 2016 por ocasião de um convite para atuar na equipe que havia ganho a licitação para a formulação do Plano Diretor de Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Os trabalhos foram conduzidos pela URBTEC – Planejamento, Engenharia, Consultoria. Também nessa ocasião, fui acionada para tratar da viabilidade de implantação da região metropolitana de Campo Grande, o que não se mostrou adequado, conforme conclusões do estudo. Contudo, tive a oportunidade de participar de várias etapas de construção de um plano diretor, inclusive das audiências públicas, foi uma experiência enriquecedora, mas também difícil, novamente pela possibilidade de confrontar a teoria e a prática, cuja conciliação nem sempre é completamente possível. Ainda na área técnica, outra experiência que me parece relevante apontar, foi aquela de analisar a candidatura de revistas ao SciELO - Scientific Electronic Library Online, nos anos de 2012 e de 2020. Isso me permitiu conhecer mais detidamente os critérios utilizados pelos indexadores de revistas de modo a conceder ou não sua chancela a um periódico. Por fim, no que tange às atividades técnicas, registro minha participação na diretoria de entidades técnico-científicas. Integrei a diretoria da ANPUR – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano, gestão 2017-2019, cuja presidência esteve a cargo do Prof. Dr. Eduardo Nobre da FAU-USP. Antes, havia sido membro do Conselho Fiscal dessa mesma associação na gestão 2015-2017, sob a presidência do Prof. Dr. Rodrigo Ferreira Simões UFMG/CEDEPLAR, seguido pelo Prof. Dr. Geraldo Magela Costa UFMG/IGC, assim como fui do Conselho Executivo da ANPEGE – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia, na gestão 2014-2015, sob presidência do Prof. Dr. Eliseu Sposito. No campo das atividades técnicas, tenho atuado como membro de corpo editorial e/ou como revisora de diversos periódicos de diferentes lugares do Brasil: Revista Oculum Ensaios (PUCCAMP); Mercator (Fortaleza); Editora Letra Capital; Revista Geografar (UFPR); Geo UERJ; Revista do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Londrina; Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales (Saanta Fé – Argentina); RAEGA - O espaço geográfico em análise; Terra Livre; Revista de Economia (Curitiba); Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR); Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana (PUCPR); Revista Brasileira de Pós-Graduação; Revista Paranaense de Desenvolvimento (IPARDES); Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPR); Cadernos Metrópole (PUCSP); Revista de Ciências Humanas (UFSC); Boletim de Geografia da UEM; Caderno Prudentino de Geografia; Geografia. Ensino & Pesquisa (UFSM); Geosul (UFSC). Quanto aos Comitês de Assessoramento e assessoria no campo da avaliação de projetos, destacam-se: CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Fundação Araucária; Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); SCIELO - SciELO - Scientific Electronic Library Online; AERES - Agence d'Evaluation de la Recherche et d´Enseignement Supérieur (França); Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Fundação Universidade Regional de Blumenau; Agencia Nacional de Promoção Cientifica y Tecnologica – Argentina; Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. 9. DOIS PONTOS E NÃO UM PONTO FINAL Esse olhar sobre minha trajetória permitiu reconhecer a passagem do tempo, mostra o quanto percorri, o quanto corri, o quanto o tempo passou ligeiro. Desde a maturidade da vida profissional, posso avaliar com mais calma para onde pretendo ir. Dos sonhos profissionais iniciais, não sei se restou algum por realizar... Tenho uma vasta relação de alunos/as bem-sucedidos/as, excelentes profissionais, alguns meus colegas na atualidade, outros espalhados por longínquas terras daqui e de além mar. Assumi muito cedo a profissão, tive que provar, a cada dia, que minha pouca idade não era sinônimo de falta de compromisso ou competência. Brinquei pouco na juventude, trabalhei duro e não me arrependo. Vivi as mudanças na Geografia ao longo das últimas quatro décadas. Estive imersa na transição de paradigmas, coisa que só agora vejo com clareza. Comecei com a Geografia Tradicional e seus estilos de aprendizado no ensino básico, entrei na faculdade na transição entre Geografia Quantitativa e Geografia Crítica. Percorri pelos caminhos da Crítica e suas transformações nos últimos anos, anunciando as preocupações com o que se denominou de “virada cultural”. Vivenciei a emergência de novas temáticas e novas especialidades da Geografia. Fui aluna de renomados/as professores/as que muito me ensinaram sobre a ciência e sobre a vida. Vivi as mudanças na UFPR, desde os primórdios da democratização na escolha da reitoria, até os retrocessos que se avizinham atualmente, impostos pelo Governo Federal. No departamento de Geografia, vivi a transição de um departamento desprestigiado no interior do Setor de Tecnologia para um departamento ativo e produtivo no interior do Setor de Ciências da Terra. Vivi as mudanças no Departamento de Geografia e em especial na área de Geografia Humana, de posição secundária no plano local e nacional, sem produção relevante (com pontuais exceções), para uma área vibrante, com pessoas atuando em diversos níveis da vida acadêmica e profissional, pelo país e pelo mundo. Vivi a ampliação dos espaços físicos da Geografia na UFPR, de um mero corredor escuro à três andares num prédio moderno e espaçoso, possível pelos investimentos na educação e ensino superior dos governos progressistas recentes. Agora espero fechar projetos, concluir orientações e desbravar novos horizontes! Sigo com minhas orientações na pós-graduação, com as disciplinas ofertadas na graduação e na pós-graduação (Geografia e Planejamento Urbano), redigindo textos, participando de bancas, coordenando projetos, como o CAPES-PrInt, contribuindo com avaliações diversas, sendo a representação da Área de Geografia Humana no CNPq a mais recente, participando de eventos e motivando meus orientandos/as a participar. Sou uma entusiasta de novos projetos! Esse texto permite constatar os caminhos que percorri e foram muitos, sou sensível aos novos desafios! Posso afirmar que transitei por todos os meandros da vida acadêmica, da graduação à pós-graduação, da pesquisa à extensão, de comissões localizadas à coordenação de curso. Interagi com a sociedade de modo geral, seja pelos projetos, seja pelos conselhos dos quais participei. Conquistei reconhecimento pelas minhas posturas, dentro e fora da UFPR. Pretendo permanecer em atividade na UFPR por mais algum tempo, embora desde fevereiro de 2018 já reúna as condições de me aposentar. Meu desejo é fechar um ciclo. Gostaria de atuar em outra instituição que demanda esforços de consolidação. Aprendi muito e sei que poderia contribuir com o avanço de outros. Talvez me dedicar ao trabalho técnico, ligado a projetos aplicados no âmbito de minhas temáticas de trabalho. Não é um ponto final, mais dois pontos, abertos ao futuro e às novas experiência, pois a vida continua, embora o momento atual seja de cautela, preocupação e resistência em face de lutas que imaginávamos já terem sido vencidas! NOTAS 1- A referida sessão pública contou com a participação dos/as seguintes professores/as: Prof. Dr. Clóvis Ultramari (PUCPR); Prof. Dr. Eliseu Saverio Sposito (UNESP-Pres. Prudente); Prof. Dr. Francisco de Assis Mendonça (Presidente da banca-UFPR); Profa. Dra. Maria do Livramento Clementino (UFRN); Prof. Dr. Saint Clair Cordeiro da Trindade Junior (UFPA) e Prof. Dr. Sylvio Fausto Gil Filho (UFPR). 2 Maria Goretti da Costa Tavares, professora da Faculdade de Geografia da UFPA-Belém/PA. 3 Naquela época, o primário correspondia ao atual ensino fundamental 1, o ginásio ao ensino fundamental 2 e o colegial ao ensino médio. 4 Tudo indica que se tratou do livro de CLAVAL, P. Evolución de la geografía humana. Barcelona: Oikostau, 1974. 5 DEMO, Pedro Cuidado metodológico: signo crucial da qualidade. Sociedade e Estado. Brasília, v. 17, n. 2, jul/dez 2002, p. 349-373.
OLGA LÚCIA CASTREGHINI DE FREITAS FIRKOWSKI ELEMENTOS E FRAGMENTOS DE UMA CARREIRA DOCENTE. MEU PERCURSO PELA GEOGRAFIA Olga Lúcia Castreghini de Freitas-Firkowski Professora Titular do Departamento de Geografia da UFPR Pesquisadora do CNPQ 1. INTRODUÇÃO Este texto, registra as principais atividades desenvolvidas por mim ao longo de mais de 36 anos de formação em Geografia, com especial ênfase nos 28 cumprimos no âmbito da UFPR – Universidade Federal do Paraná. Tem como base o Memorial Descritivo da carreira Docente, formulado por ocasião da promoção à Professora Titular do Departamento de Geografia, Setor de Ciências da Terra da UFPR, apresentado em sessão pública (1) no dia 13 de novembro de 2019. Mescla a subjetividade das lembranças e a objetividade dos comprovantes, guardados ao longo de tanto tempo. Mostra que o caminho profissional pela atividade científica é longo, não pode ser aligeirado pelos interesses de curto prazo. Sou produto da iniciação científica, trilhei os passos desejados para quem começa na pesquisa como estudante de graduação e passa por todos os ritos da formação: mestrado, doutorado, pós-doutorado. No meu caminho cruzei com muita gente e cada um/a teve sua contribuição para que eu pudesse trabalhar, não se trabalha sozinho.... Foram professores/as, pesquisadoras/es, dirigentes, líderes de movimentos, servidores/as técnicos, pessoal da manutenção e limpeza, pessoas que entrevistei em tantas etapas de pesquisa, mas, sobretudo duas ‘categorias’ de pessoas devem ser ressaltadas: i) as pessoas de bem que sempre estiveram ao meu lado, meus amores, minha filha, meu filho, minha mãe, minhas irmãs, cunhados, sobrinhas e sobrinho, meus amigos e minhas amigas, minha secretária; ii) meus alunos e minhas alunas, que sempre me trataram com respeito e admiração, revelados em ocasiões públicas e também privadas, foram palavras que ouvi de agradecimento e reconhecimento pela seriedade do meu trabalho e que muito me fortaleceram ao longo dessa caminhada. A seguir uma reflexão do meu trabalho, mas, sobretudo da minha vida, afinal, o trabalho como dimensão da vida, não pode dela estar dissociado. 2. QUEM SOU, DE ONDE VIM E COMO A GEOGRAFIA MUDOU A MINHA VIDA Nascida Olga Lúcia Castreghini de Freitas, em 17 de fevereiro de 1964, no exato momento em que uma “tromba d’água” assolava a cidade de Presidente Prudente (SP), às 8h: 30min, uma vizinha foi chamada para realizar o parto, já que a parteira combinada, não conseguiu se deslocar devido às intensas chuvas. Sou a filha do meio, nascida da união de Anterino de Freitas e Áurea Olga Castreghini de Freitas, tendo Maria Isabel como irmã mais velha e Adriana como mais nova. Seu Anterino - faleceu precocemente em 1996, aos 64 anos -, era policial militar e dona Áurea dona de casa, com habilidades acima do comum para a costura e a culinária! Escolaridade básica de ambos almejavam que as filhas pudessem avançar nos estudos, e assim se fez! Superando as premências da vida material, empreenderam esforços imensos para que possibilitassem às três filhas aquilo que garantiria um futuro de autonomia: a formação superior. Quis os mistérios da vida, que trabalhássemos as três, com a formação em Geografia: Maria Isabel Castreghini de Freitas atuou como professora do departamento de Planejamento Regional da UNESP campus de Rio Claro (SP), até o ano de 2018, quando se aposentou, mesma instituição onde fiz o meu mestrado, entre os anos de 1985 e 1989. Adriana Castreghini de Freitas Iasco Pereira atua no Departamento de Geociências da UEL - Universidade Estadual de Londrina (PR), coincidentemente, local onde iniciei minha carreira profissional no ensino público superior, como professora auxiliar de ensino no ano de 1987. Detalhe, ambas são Engenheiras Cartógrafas, também formadas pela Unesp de Presidente Prudente. Somos - as três - doutoras, o que me faz lembrar um comentário lúcido de meu avô materno Caetano Castreghini - filho de imigrantes italianos que vieram para o Brasil para trabalhar na fazenda de café Guatapará em Ribeirão Preto – SP, ao dizer sobre um primo dentista que se intitulava doutor, que “só é doutor quem tem o diploma de doutor...” quando criança, nunca entendi muito bem o que ele queria dizer com isso... depois compreendi que se tratava de uma solene crítica ao “doutor social” e não ao diplomado, visão que ainda é frequente na nossa sociedade. Morei em poucas cidades ao longo da vida: Presidente Prudente até o ano de 1985; Rio Claro (SP) entre 1985 e 1987, para cursar o Mestrado; Londrina (PR) quando assumi o cargo de professora na UEL entre 1987 e 1989; Curitiba (PR) desde 1989, quando optei por me exonerar da UEL por questões pessoais e afetivas: havia me casado (1988) com Henrique e estava a caminho nossa filha, Nicole (1990). Porém, diversas inserções curtas me colocaram em contato com muitas outras cidades: Ourinhos (SP) no ano de 1985, atuando numa faculdade privada; São Paulo onde passava temporadas, em especial em 1985-86; Jaú (SP), onde lecionei numa faculdade privada, Ponta Grossa (PR), onde trabalhei na UEPG no primeiro semestre de 1991; Paris (FR) onde morei um ano quando realizei meu estágio de pós-doutorado (2007-2008) e Belém (desde 2015), refúgio maravilhoso na Amazônia que me restabelece e me faz lembrar dos meus tempos de criança, como numa escala diacrônica, onde tempos se cruzam em movimentos autônomos de tradição e modernidade. À Goretti (2) , devo essas novas experiências, que me impulsionaram para o reconhecimento desse país tão diverso e profundo, ampliando meus limites profissionais e pessoais, desde que nossas vidas se entrelaçaram há alguns anos. Com Marcel (1992) conclui minha incursão pelo mundo da maternidade e não posso esquecer uma frase que escutei de uma renomada geógrafa dos anos 1970/80, profa. Helena Kohn Cordeiro, disse ela “imaginava tudo de você, menos que fosse mãe”, pois sou! e espero que tenha tido a lucidez de orientar minha filha e meu filho no caminho da solidariedade e da responsabilidade, tão necessárias num país como o nosso. Ninguém avança só, apenas o avanço coletivo pode resultar em conquistas efetivas e ganhos sociais. Passados 36 anos de minha formatura na graduação (1984) e 28 anos como professora no Departamento de Geografia da UFPR (1992), esse texto apresenta uma espécie de balanço de minha trajetória, motivada pelo registro de meu percurso, mas também pelo desejo de reconhecer de onde vim e onde me situo no campo da produção do conhecimento e da formação em Geografia. Revela-se, assim, uma mistura de lembranças de fatos e pessoas, reconhecimento de importantes momentos da história desse país imbricados na minha própria história, e a recuperação de uma trajetória que gerou muitos frutos, contribuiu com a formação de muita gente, reverberou em diversos lugares do país e fora dele. Olhar o passado me permite entender o caminho trilhado, avaliar decisões, reconhecer limites e continuar a sonhar, os sonhos que me motivaram e me moveram pela vida afora. Sempre me pergunto como teria sido se tivesse optado por um outro caminho, sim, sempre vivemos em bifurcações que nos oferecem mais de uma possibilidade de escolha. Contudo, o caminho que escolhi, me trouxe até aqui e a esse encontro comigo e com minha trajetória. É sobre ele que vou tratar. Impossível relembrar de tudo, impossível tratar de tudo, no entanto, decidi escolher um caminho, que me permita lançar luzes sobre aquilo que vou denominar de “as primeiras experiências” em minha carreira. Jamais pensei em fazer o curso de graduação em Geografia, pensei em história, jornalismo me fascinava. No entanto, vinda de uma família que tinha uma vida regrada e de dinheiro curto, acabei pleiteando uma vaga no Vestibular da UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", campus de Presidente Prudente, que à época se denominava IPEA - Instituto de Planejamento e Estudos Ambientais, desde o ano de 1989 o campus passou a se denominar Faculdade de Ciências e Tecnologia. Iniciei meu curso de graduação no ano de 1981, com 17 anos, absolutamente sem saber o que me esperava. Passei no primeiro vestibular que fiz. Uma surpresa. Nunca soube, ao longo de toda minha vida, o que é pagar por ensino, nunca estudei em escola privada, jamais gastei um centavo com minha formação, absolutamente toda ela se fez no ensino público: primário no Grupo Escolar Arruda Mello, em Presidente Prudente, iniciado no ano de 1970, primeiro ano em que havia turmas mistas, uma revolução a reunião de meninas e meninos em uma mesma sala de aula! Ginásio na Escola Estadual Florivaldo Leal e Colegial no Instituto de Educação Fernando Costa (3). Me lembro de alguns fatos marcantes, dentre eles o rigor da disciplina: o ato de levantar da cadeira assim que o professor/a ou diretor/a entrasse na sala de aula; a obrigatoriedade da participação nos desfiles de 7 de setembro (uma vez, inclusive, fui a porta-bandeira!); o sinal que marcava o início e o final da aula; o uniforme, primeiro saia plissada xadrez escura e blusa branca com o emblema da escola bordado no bolso, passando por um guarda-pó com o emblema não mais bordado mas decalcado e, por fim, a camiseta e calça jeans. A transformação nas regras e no vestuário eram indícios da liberação do rigor da vestimenta e da ampliação do acesso aos níveis básicos de formação escolar, ampliando essas oportunidades para parcelas mais amplas da população. Outro fato marcante eram as aulas de francês, porque, naquela época era o francês a língua estrangeira oficial no colégio e não o inglês como na atualidade. Me lembro de um episódio muito interessante quando estava na 7ª série, no ano de 1976 e com 12 anos, a chegada de uma nova aluna na sala, proveniente de Angola (África), uma moça branca, alta, e com um sotaque estranho, pois bem, era a fuga da guerra que marcava a retirada dos portugueses do território conquistado. Ficava fascinada com as estórias, em especial aquelas que se referiam à fuga deixando todos os bens e pertences para trás.... talvez tenha sido meu primeiro contado com uma realidade tão longínqua.... Eu nunca soube ou imaginei onde a Geografia me levaria, mas eu sabia que me permitiria mudar de vida e mudar a minha vida! Me lembro da dedicação aos estudos, da seriedade com que sempre me lancei aos conteúdos de cada uma das disciplinas que cursei na graduação. Me lembro dos finais de semana estudando para as provas; da realização de trabalhos individuais ou em grupo, das leituras, da curiosidade pelo novo universo que se descortinava em minha vida. Cursei as seguintes disciplinas, cujos programas ainda guardo comigo e me permitiram transcrever seus títulos e responsáveis. Rever os nomes das disciplinas, evidencia as mudanças e as permanências havidas na definição do currículo do curso de Geografia ao longo de décadas. No ano de 1981: História Econômica Geral e do Brasil, com Dióres Santos Abreu; Geografia Física, com João Afonso Zavatini; Fundamentos de Petrografia, Geologia e Pedologia I, com José Martin Suarez, mais conhecido como Pepe; Elementos de Matemática, com Roberto Bernardo de Azevedo; Economia I, com Marcos Kazuharu Funada; Cartografia e Topografia I, com Adalberto Leister; Antropologia, com Ruth Kunzli; Análise Estatística, com Antonio Assis de Carvalho Filho; Geografia Humana I, com Eliseu Savério Sposito; Educação Física, com Mário Artoni, e Sociologia I, com Marília Gomes Campos Libório. No segundo ano de faculdade, 1982, cursei: Psicologia da Educação, com Antonia Marini, História Econômica Geral e do Brasil II, com Jayro Gonçalvez de Melo e Maria de Lourdes Ferreira Lins; Fundamentos de Petrografia, Geologia e Pedologia II, com José Martin Suarez; Etnologia e Etnografia do Brasil, com Ruth Kunzli; Estudos de Problemas Brasileiros, com Maria de Lourdes Ferreira Lins; Climatologia I, com Hideo Sudo; Cartografia e Topografia II, com Adalberto Leister, Aerofotogrametria, com Lúcio Muratori de Alencastro Graça e Raul Audi e Geografia Regional: organização do espaço I, com João Paulo. Em 1983, foram cursadas as seguintes disciplinas: Geomorfologia I, com Marília Barros de Aguiar; Geografia do Brasil I, com Armando Pereira Antonio; Didática, com Josefa Aparecida Gonçalves Grígoli; Biogeografia, com Messias Modesto dos Passos; Geografia Regional: organização do espaço II, com José Ferrari Leite e Geografia Urbana, com Maria Encarnação Beltrão Sposito. Em 1984 foram: Sociologia II, com José Fernando Martins Bonilha; Fotointerpretação, com Maria Heloisa Borges e José Milton Arana; Prática de Ensino, com Maria Ignes Sillos Santos; Metodologia em Geografia, com Augusto Litholdo; Geografia do Brasil II, com Fernando Carlos Fonseca Salgado; Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º e 2º Graus, com Tsutaka Watanabe; Conservação Ambiental, com Valdemir Gambale; Geografia Humana II, com Olimpio Beleza Martins; Geografia da Circulação e dos Transportes, com Fátima Rotundo da Silveira; Economia II, com Tomás Rafael Cruz Cáceres; Planejamento Regional, com Antonio Rocha Penteado; Introdução do Planejamento, com Yoshie Ussami; Geografia Rural, com Miguel Gimenez Benites e Geografia Regional: estudo de caso, com Armando Garms. Me lembro da felicidade quando descobri que havia trabalho de campo em Geografia, para desespero de minha mãe, sempre avessa às viagens... Entrei em um curso cujo conteúdo desconhecia, minha aproximação com essa disciplina no ensino básico não foi tão agradável a ponto de desejar me aprofundar nela.... Práticas de decorar textos, temas e pontos... a mais pura manifestação da Geografia Clássica ou Tradicional. Mas me lembro de um trabalho aplicado da disciplina por volta da 5ª série, ministrada pela profa. Suria Abucarma: mapear os usos do solo numa importante rua central de Presidente Prudente, a Tenente Nicolau Maffei. Fiz o trabalho, mas desconhecia seu propósito... hoje sei o que significa e o que ela queria nos mostrar com esse levantamento. Quando comecei a graduação, o interesse pelos lugares distantes me tomou de assalto! Me lembro de escrever para embaixadas e consulados solicitando materiais sobre os diversos países, recebi muita coisa da Itália, Holanda, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, França, dentre outros. Um fascínio pelas imagens, paisagens, culturas, me tomava e o desejo de conhecer o mundo se fortalecia. No primeiro trabalho de campo de Geologia, promovido pelo prof. Pepe (José Martins Soares) em 1981, o destino foi a Serra da Fartura em São Paulo, o segundo, da mesma disciplina, foi para Curitiba e Paranaguá (1981)! Como poderia imaginar que viveria em Curitiba por mais de 30 anos! As surpresas da vida.... Viajei muito na época da graduação, tanto em razão dos trabalhos de campo, quanto de minha atuação na AGB – Associação dos Geógrafos Brasileiros, seção local de Presidente Prudente que, a partir dos novos ares advindos com as mudanças no início dos anos de 1980, permitia a participação de alunos como filiados, bem como nas diretorias locais. Dessa época me lembro de viagens para participar das gestões coletivas, ou seja, uma nova forma de discutir e deliberar sobre os rumos da entidade, resultante das novidades da democracia que começava a se insinuar no país, ao mesmo tempo em que a Geografia se direcionava à uma leitura crítica do espaço, alterando sua trajetória tradicional e quantitativa precedente. Também comecei a participar de eventos em outras cidades, me lembro de uma longa viagem de micro-ônibus entre Presidente Prudente e Porto Alegre (cerca de 1.300 km), por ocasião do V Encontro Nacional de Geógrafos em 1982 e de um trabalho de campo para o Pantanal e Corumbá destino inesquecível: parte da viagem de ônibus e parte no famoso trem que cruzava o Pantanal, pela estrada de ferro Noroeste do Brasil. Viajei muito, conheci pessoas e lugares, ampliei meus horizontes. Uma frustração: não ter participado das atividades do Campus avançado que a Unesp mantinha em Humaitá no Amazonas, ainda não estive nessa porção da Amazônia... mas estou cada dia mais perto! Fui uma aluna aplicada, ativa, interessada, questionadora...o que me causou alguns dissabores com certos professores. Uma coisa que nunca fiz foi me envolver na política estudantil observada a partir da atuação em centro acadêmico e semelhantes, não sei explicar a razão. Contudo, fui representante discente em várias instâncias e momentos da minha vida como aluna (integrei a Comissão especial para elaboração de anteprojeto dos regulamentos dos Cursos de Pós-Graduação em Geografia da UNESP, campus de Rio Claro no ano de 1985, e fui representante discente junto ao Conselho do curso de Pós-graduação em Geografia da mesma instituição no ano de 1986), depois também tive várias representações como professora, mas com a política estudantil e sindical nunca me envolvi. Como representante discente na pós-graduação, participei ativamente das discussões que ocorriam em torno da criação de uma entidade específica ligada à pós-graduação, mais tarde surgiria a ANPEGE – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia, criada em 1993. No final do ano de 1982, o Prof. Eliseu Sposito me chamou em sua sala e me indagou sobre meu interesse em elaborar um projeto para submissão ao CNPQ com vistas à uma bolsa de iniciação científica. Obviamente eu não fazia ideia do que era isso, mas, prontamente concordei. De modo a testar o meu real interesse, estabeleceu um cronograma de leituras e discussão de um livro, cujo título me foge à lembrança, mas era algo como “Evolução da geografia humana” (4) uma edição em espanhol, que cuidadosamente lia de modo a apresentar minha compreensão ao professor em encontros periódicos de discussão. Outras leituras se sucederam até que conseguimos avançar na formulação de um projeto de Iniciação Científica a ser submetido ao CNPQ, importante lembrar que àquela época, o funcionamento da agência era distinto de hoje, não havia cota para professor, mas projetos aprovados individualmente no mérito. Foi um desafio, mas no ano de 1983, comecei a ser bolsista do CNPQ! Com conta no banco do Brasil e direito a talão de cheque! Isso precedeu a emergência do cartão de crédito, eram outros tempos! O projeto intitulava-se “A aplicação do capital local no setor secundário em Presidente Prudente” e tinha por objetivo entender o processo de industrialização daquela cidade. Foi desafiador, mas também empolgante: realizava com muito entusiasmo as entrevistas em campo, conheci todas as poucas indústrias da cidade – registre-se que esse nunca foi o forte da economia prudentina. Uma situação particular deve ser lembrada: o prof. Eliseu ainda não era mestre e, portanto, precisou acionar o prof. Olímpio Beleza Martins, já doutor, para que fosse o solicitante oficial da bolsa. Assim seguimos renovando com sucesso a bolsa de IC até a conclusão de minha graduação no final do ano de 1984. Dois registros importantes dessa fase: i) o primeiro trabalho apresentado num evento nacional e ii) o primeiro artigo publicado em periódico científico. O primeiro trabalho apresentado em evento foi no ano de 1984, por ocasião do 4º Congresso Brasileiro de Geógrafos, realizado pela AGB (de 14 a 21 de julho de 1984, na USP), justamente em comemoração aos seus 50 anos de fundação. Eu, uma jovem de exatos 20 anos, participando de um evento histórico. O detalhe: chego à USP e encontro uma colega de militância da AGB, ela, com a programação em punho me diz algo como “não se preocupe, vai dar certo”, eu sem entender, pergunto o porquê do comentário. Para minha surpresa meu singelo trabalho originário de uma pesquisa de iniciação científica estava escalado para ser apresentado num dos maiores auditórios do evento (na Escola Politécnica da USP) em razão de estar alocado numa sessão temática que discutia a economia. Sim, meu tema era a industrialização em Presidente Prudente. Mas isso não era tudo: na mesma mesa que eu, simplesmente estava um dos mais festejados nomes da Geografia brasileira àquele momento: o prof. Rui Moreira, éramos dois na mesa! Rui tratava do tema da “subsunção formal e subsunção real” no capitalismo... naquele momento não fazia ideia do que se tratava.... Num auditório lotado, com pessoas sentadas no chão, um debate ferrenho se seguiu e, dentre os arguidores, nada menos que Prof. Milton Santos.... Por delicadeza, algumas questões foram dirigidas a mim. Penso que esse excesso de democracia na organização das mesas poderia ter me custado caro, em termos da instalação de um grande trauma na minha primeira vez... Contudo, isso não ocorreu, acho até que isso me impulsionou, percebendo que havia uma possibilidade concreta de aproximação entre pessoas de diferentes níveis de formação. Isso me proporcionou uma lição: o cuidado com a preservação das pessoas em seus níveis de formação. Muitos anos depois, conheci uma geógrafa que me disse “nunca vou me esquecer de você, naquela mesa, naquele congresso”. Foi assim minha primeira apresentação, e muitas outras vieram na sequência. Não tenho o registro de todos os eventos dos quais participei, mas voltarei a esse tema oportunamente. O primeiro artigo publicado foi: FREITAS, Olga L. C. de Capital e força do trabalho no setor secundário em Presidente Prudente. Caderno Prudentino de Geografia. Presidente Prudente: AGB, n. 8, 1986, p. 15-32. Edição disponível on line em: http://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/view/6255/4788 Recolho essas referências de um exemplar da publicação original que guardo comigo e revela um outro tempo e uma outra lógica dos periódicos em nosso país. Registro que participei do nascimento do Caderno Prudentino de Geografia, porque fazia parte da AGB como segunda tesoureira na gestão de 1982 (a primeira edição foi em 1981) e porque era eu quem juntava a capa padrão às páginas mimeografadas e fazia a encadernação da referida publicação, com um grampeador manual. Assim era nos velhos tempos... No inverno de 1983, tive uma experiência muito relevante, fiz estágio voluntário na EMPLASA – Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S.A., tendo estagiado junto à Superintendência do Sistema Cartográfico Metropolitano. Na ocasião, a empresa preparava um Atlas da Região Metropolitana de São Paulo e eu fui designada para estagiar na preparação dos rascunhos de diversos mapas e no teste do uso de cores nos mesmos, trabalho manual, que precedeu às técnicas computadorizadas atuais. Trabalhei sob a supervisão de uma renomada geógrafa dos tempos da Geografia Tradicional: profa. Nice Lecocq Müller. Foi uma experiência muito proveitosa e me despertou o interesse pela formação técnica em geografia, expressa pelo bacharelado. Importante registrar que nessa época eram intensos os debates em torno da regulamentação da profissão de Geógrafo, o que ocorreu por meio da Lei Federal 6.664, de 26 de junho de 1979. 3. A PÓS-GRADUAÇÃO, UM PERCURSO DE DESAFIOS E APRENDIZADOS Finalizada a graduação, decidi sair de Presidente Prudente, mesmo porque àquela época não havia sido implantado ainda o programa de pós-graduação, o que só viria a ocorrer no ano de 1987. Tinha alguns destinos possíveis: USP e UNESP de Rio Claro, além de uma remota possibilidade da UFRJ. Fiz o processo seletivo em Rio Claro e fui aprovada. Meu tema era a indústria e a orientadora Profa. Silvia Selingardi Sampaio. Contudo, o desejo de cursar a USP e de morar em São Paulo me levou também a me submeter ao processo seletivo daquela instituição. Depois de aprovada na prova de línguas, fui para a entrevista com a orientadora indicada, de quem ouço que as vagas daquele ano estavam comprometidas, mas eu poderia aguardar as do próximo. Agradeci e voltei para Rio Claro, onde uma bolsa estava garantida em razão de meu desempenho no processo seletivo. Resolvi interagir com a USP de outra forma, cursei no ano de 1985 a disciplina ofertada pelo recém retornado ao Brasil, Prof. Milton Santos, eram cerca de 8 alunos na sala, eu e Glaúcio Marafon (UERJ), nos deslocávamos de trem toda semana para as aulas. A disciplina intitulava-se “A reorganização do espaço geográfico na fase histórica atual”, cursada no segundo semestre de 1985. Milhares de lembranças me voltam à memória, mas uma em especial me marcou muito. Professor Milton tinha por prática iniciar os trabalhos de um novo semestre letivo com os alunos do semestre anterior apresentando seus trabalhos. Foi assim que na primeira aula do semestre seguinte, retornei a São Paulo para apresentar o trabalho de conclusão de curso que tratava da relação entre distância absoluta e relativa no estado de São Paulo partindo do tempo de deslocamento por trem ou rodovia. A ideia era: o longe pode estar conectado por vias eficientes que o tornam perto e o perto pode estar longe em razão das deficiências do transporte. Após minha exposição uma aluna da nova turma me indaga porque eu não fiz isso ou aquilo, poderia ter inserido essa ou outra coisa, deveria ter ido por outro caminho.... ao que o Prof. Milton intervém e com a solenidade natural de sua pessoa diz “nós não viemos aqui para dizer o que Olga deveria ter feito, nós viemos aqui para discutir o que Olga fez”, lição que carrego comigo desde então! Obrigada professor por sua generosidade (lembro que eu tinha apenas 21 anos nessa época). Outra lembrança desse período diz respeito às leituras indicadas pelo Prof. Milton Santos, dentre elas, um pequeno livro editado pelas Edições Progresso de Moscou, em português de Portugal, que discorria sobre os modos de produção ao longo da história. Tratava-se do exato momento da renovação da Geografia brasileira em direção ao marxismo. Jamais tinha sido iniciada nas leituras sobre modo de produção e sequer sabia o que isso significava. Porém, como aluna aplicada que sempre fui, tomei a providência de comprar o livro (que guardo até hoje) e de estudar detidamente o tema. Foi o que me salvou, pois na aula subsequente, prof. Milton me escalou para discorrer sobre o tema lido! No mestrado, fui orientada pela Profa. Dra. Silvia Selingardi Sampaio, que me ensinou muito, em especial sobre postura, método, disciplina, pontualidade e rigor. O trabalho orientado foi intitulado “A industrialização recente do município de Limeira em face do contexto industrial paulista” e o título obtido em 1989, rigorosamente dentro dos prazos previstos à época: 4 anos. A defesa ocorreu no dia 19 de dezembro de 1989 e a banca foi constituída pela Profa. Yoshiya Nakagawara Ferreira (UEL) e pelo Prof. Jurgen Richard Langenbuch (UNESP – Rio Claro). Passagem que merece registro: fui bolsista CNPQ e pleiteei uma bolsa da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), notoriamente a instituição que melhor remunerava as bolsas àquela época. Feliz por ter sido aprovada num processo rigoroso de seleção de bolsistas, declinei da bolsa CNPQ. Para minha surpresa, pelas contingências daquele momento histórico e político, talvez aquele ano de 1987 tenha sido o único na história da FAPESP que o valor das bolsas tenha sido inferior a qualquer outra agência no país. E eu era bolsista!!! No mestrado encontrei as condições de ampliar minha participação em eventos e quero aqui ressaltar outra primeira vez que foi muito importante: minha participação, como ouvinte, no 1º Encontro de Geógrafos da América Latina – EGAL (5 a 10 de abril de 1987), realizado em um hotel escola na cidade de Águas de São Pedro, eu e minha grande amiga e colega de geografia Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (atualmente diretora do IGC-UFMG), íamos de manhã e voltávamos a noite de ônibus, pois nossa condição financeira não nos permitia arcar com as diárias daquele hotel. Era um evento pequeno, todas as mesas redondas e apresentações de trabalho ocorriam num mesmo auditório, todos os inscritos participavam de tudo, não havia a grandeza dos eventos atuais e o seccionamento dos espaços de discussão. No ano de 2019, depois de algumas outras edições que participei, estive em Quito no Equador participando, com apresentação e trabalho, do XVII EGAL, portanto, vivi essa história. Quero destacar, ainda, minha presença em dois outros primeiros eventos: o I Simpósio Nacional de Geografia Urbana, realizado na USP entre 20 e 23 de novembro de 1989 e o I Encontro Nacional de Pós-Graduação em Geografia, realizado em São Paulo entre os dias 16 e 18 de dezembro de 1984. Sobre ambos, registro que meu orientado de Iniciação Científica Luiz Felipe Élicker e eu tivemos trabalho apresentado no XVI SIMPURB, que foi realizado em Vitória (ES) entre os dias 14 e 17 de novembro de 2019, e ainda que entre os dias 2 e 6 de setembro de 2019, integrei a coordenação do GT 41 Metrópole e Região, no interior da programação do XIII Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, realizado na USP. Constatar que estive nas primeiras edições de eventos tão relevantes para a Geografia brasileira e latino-americana, permite refletir sobre o período de renovação dessa área do conhecimento, ocorrido a partir dos anos de 1980. Não foi apenas a diversificação e a especialização dos eventos que teve início nesse período (anos de 1980), esse também foi um tempo de nascimento de um mercado editorial nacional sobre os temas da Geografia. Como não lembrar que minha formação se deu por meio da leitura de muitos textos clássicos e de autores, em sua maioria, franceses? Como não mencionar que Pierre George estava à frente da maioria dos títulos que trabalhávamos no curso de graduação? Para todas as especialidades da geografia humana, lá estava um livro de Pierre George a nos fornecer uma vasta coleção de informações, bem como apontar caminhos para a reflexão. A inserção desse autor no mercado editorial brasileiro, foi uma extensão de sua presença no mercado editorial francês, facilitado pela publicação por meio da PUF - Presses Universitaires de France, que publicava uma coleção de grande importância na divulgação de temas das ciências humanas que se intitulava Que sais-je? (literalmente: que sei eu?), traduzida para o português como Coleção Saber Atual e publicada pela DIFEL (Difusão Européia do Livro – hoje Bertrand Brasil). Ainda hoje tenho vários exemplares dessa época, livros em formato pequeno que assumiu as cores branco e verde como padrão, inconfundível... Assim, para além da qualidade e variedade do conteúdo de seus livros, parte de sua influência foi razão direta de um acanhado mercado editorial nacional, com poucos títulos de geógrafos/as brasileiros/as, fato que só se alteraria após final dos anos de 1980 e que nos permite hoje ler e indicar aos alunos que leiam uma grande variedade de autores/as nacionais e livros a preços acessíveis. Temos hoje, uma produção geográfica de alta qualidade produzida no e a partir da realidade brasileira, fato que mudou certamente a grande dependência que havia em relação à geografia francesa. Para se ter uma ideia da vasta obra de Pierre George, basta citar alguns dos títulos mais conhecidos de seus livros, a grande maioria publicado entre 1950 e 1970 e disponível em língua portuguesa: Geografia Industrial do Mundo (1963); Geografia Agrícola do Mundo (1965); Geografia da União Soviética (1961); A Geografia Ativa (1968); Geografia urbana (1961); Geografia econômica (1961); A Geografia do Consumo (1971); Geografia agrícola do mundo (1975); A ação do homem (1971); Os métodos da Geografia (1972); O meio ambiente (1973); Sociedades em Mudança. Introdução a uma Geografia Social do Mundo Moderno (1982). Me lembro que, em meados dos anos de 1980, surgiu no Brasil uma editora que inovaria a produção editorial da Geografia brasileira, tratou-se da Editora Contexto, por meio da Coleção Repensando a Geografia. Vários autores brasileiros foram convidados a publicar textos que, como o nome sugere, promoviam um repensar dos caminhos dessa área do conhecimento no Brasil. Os livros de capa marrom e padronizada, com número pequeno de páginas, favoreciam a leitura e a aquisição, tendo em vista os altos preços dos livros à época. Guardo até hoje diversos volumes em suas edições originais, acompanhei, portanto, o surgimento dessa novidade, que se revelou de suma importância na popularização e divulgação científica. Passados 6 anos do término de meu mestrado e já atuando no Departamento de Geografia da UFPR, era hora de retomar meus estudos e realizar o doutorado. Decidi conhecer mais profundamente a USP, e lá realizar meu doutorado. Numa primeira tentativa no ano de 1995 não fui selecionada, retornei dois anos depois (1997) e então obtive a aprovação numa das vagas disponibilizadas pela Profa. Dra. Sandra Lencioni. Foram anos difíceis: filhos pequenos, viagem de ônibus, recém-empossada num cargo administrativo junto à Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFPR. Mas seguimos, com comprometimento de meu marido à época e de minha mãe que se mudou para Curitiba após o falecimento de meu pai. Minha rotina de viagem implicava em sair de Curitiba com o ônibus das 6 h da manhã, assistir aulas no período da tarde e retornar no ônibus das 19 h, embarcando no Butantã por volta das 20 h. Dia seguinte, compromissos na PROGRAD. Assim foi por pouco mais de um ano, até o final da gestão de reitor do Prof. Dr. José Henrique de Faria (1998), após o que obtive licença integral para realizar meu doutorado. O tema de minha tese de doutorado ainda fazia referência à indústria, mas inseria uma outra dimensão que muito me encantou desde então: a metrópole. Curitiba estava fervilhando em termos de sua inserção na mídia e no marketing urbano. Um processo importante de implantação de indústrias se verificava, com ênfase nas montadoras de veículos: Renault, Audi-VW e Chrysler. Uma nova oportunidade de pesquisa se anunciava e nela investi minhas forças intelectuais. Esse momento resultou em frutos saborosos, voltarei a eles em breve. Minha tese, intitulada “A nova territorialidade da indústria e o aglomerado metropolitano de Curitiba”, foi defendida em 21 de dezembro de 2001. A banca foi composta pelos professores: Dra. Silvia Selingardi Sampaio (UNESP – Rio Claro); Dr. Eliseu Saverio Sposito (UNESP – Presidente Prudente); Dra. Silvia Maria Pereira de Araújo (UFPR) e Dr. Francisco Capuano Scarlato (USP). Aprendi muito nesse tempo, conheci pessoas, ampliei amizades e relações. A competência de Sandra foi fundamental na consolidação dessa nova etapa. Os colóquios de orientação nos permitiam expor nossos temas e, ao mesmo tempo, sair deles, interagindo com os demais colegas. A ampliação das leituras, os debates, os eventos, tudo convergiu para a solidez da formação nesse nível. Para além do trabalho, estabeleci com Sandra uma amizade que nutro com muito carinho e admiração. Enfim, o título de doutora me lançaria a outras demandas, como é esperado, e em seguida o trabalho se avolumou, em especial pelo fato de que a área de Geografia Humana era extremamente frágil no Departamento de Geografia da UFPR. 4. O PERCURSO PROFISSIONAL E A CARREIRA DOCENTE Minha primeira experiência formal em sala de aula ocorreu de outubro a novembro de 1983, quando atuei como professora substituta na EESG Monsenhor Sarrion, em Presidente Prudente (SP). Quando adentro a sala, em substituição a uma professora em licença saúde, me deparo com um jovem sentado na última fileira e se esquivando de meu olhar, para minha surpresa eu seria professora de um vizinho e amigo de brincadeiras de infância. O acanhamento foi dele.... Duas outras experiências foram importantes: a da Faculdade Miguel Mofarrej em Ourinhos (SP), para onde viajava desde Rio Claro para ministrar 4 aulas na sexta-feira a noite e depois retornava (cerca de 250 km entre ambas as cidades), no ano de 1985 e aquela que me levou a passar dois dias por semana em Jaú na FAFIJA, entre os anos de 1986 e 1987, trabalhando com duas disciplinas na graduação em Geografia e algumas turmas no segundo grau, hoje ensino médio. Dessa experiência, resultou pela primeira vez uma homenagem na formatura, quando fui patronesse da turma de formandos do ano de 1988. Contudo, posso dizer que começo efetivamente minha carreira profissional com a aprovação no concurso público para o departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina, no ano de 1987. Ainda era mestranda, num tempo em que a titulação era ainda rara. Fui aprovada em primeiro lugar e me mudei para Londrina. Trabalhei com várias disciplinas, mas minha prioridade era finalizar meu mestrado, de interesse pessoal e institucional. Fiz muitos/as amigos/as, em especial Francisco Mendonça, colega de departamento lá e cá! Em, 1990, após a defesa de meu mestrado e por questões de ordem pessoal já mencionadas, me exonerei da UEL e me mudei para Curitiba. Passei a trabalhar no Colégio Dom Bosco, lecionando para 7ª e 8ª séries. Foram anos difíceis e de muita insatisfação profissional. Passei a elaborar o material didático de Geografia do colégio, uma boa experiência. No ano de 1991, fiz meu segundo concurso público, para o departamento de Geociências da UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa, a área era cartografia temática! Passei em primeiro lugar e por lá fiquei pouco mais de um semestre por não encontrar o ambiente de trabalho que desejava. No ano de 1992 submeto-me ao meu terceiro concurso público, dessa vez para o departamento de Geografia da UFPR - Universidade Federal do Paraná. Novamente fui aprovada em primeiro lugar. A partir daí começa o capítulo mais duradouro de minha vida profissional. Fui nomeada por meio do Termo de Posse n. 347/92 do Processo n. 36837/92-38, no dia 15 de dezembro de 1992 para o cargo de Professor do Grupo Magistério Superior, classe Assistente, Nível I, lotada no Departamento de Geografia, Setor de Tecnologia, em regime de 20 horas semanais e com o salário de Cr$ 1.224.602,11 (hum milhão, duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e dois cruzeiros e onze centavos). No dia 16 de fevereiro de 1993, solicitei a mudança no regime de trabalho e passei a ser Dedicação Exclusiva. Em novembro de 2019, fui promovida, após defesa de Memorial da Carreira Docente, à Professora Titular do Departamento de Geografia da UFPR. Desde meu ingresso como Professora Assistente, galguei todos os níveis de progressão até encontrar-me hoje, no ápice da carreira. Voltando ao início dessa caminhada, em 1993 me foram atribuídas as seguintes disciplinas na graduação: Geografia da Atividade Industrial, objeto do concurso que realizei, além de Geografia Física Básica para o curso de Ciências Sociais e Cartografia Temática. No ano de 1994 ministrei, além de Geografia Industrial, Fundamentos de Geografia e Orientação à Pesquisa geográfica. A oferta da disciplina de Geografia Física Básica me inseriu no curso de Ciências Sociais, onde participei do primeiro grupo de pesquisas formalizado, o GEAS – Grupo de Estudos Agricultura e Sociedade, coordenado pela Profa. Roseli Santos. Lá conheci também a Profa. Ângela Damasceno Duarte, com quem viria a trabalhar anos mais tarde no Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Também integrei o Colegiado do Curso de Ciências Sociais. Trabalhei com várias disciplinas na graduação, mas desde o ano de 2001, é a Geografia Urbana que tenho sob minha responsabilidade, além de períodos ministrando Geografia Industrial e mais recentemente, uma optativa denominada Urbanização e Metropolização. O departamento de Geografia contava com poucos titulados no momento de meu ingresso. Nos anos de 1990 um vigoroso processo de titulação foi posto em marcha, sob a batuta do competente e saudoso Prof. Naldy Emerson Canali. O desafio era titular os docentes e construir uma proposta de pós-graduação. Devo registrar o entusiasmo de alguns colegas, em especial: Francisco Mendonça (que ingressou na UFPR no ano de 1996), Chisato Oka Fiori, Ines Moresco Danni Oliveira, ambas hoje aposentadas, Sylvio Fausto Gil Filho, dentre outros. Nos anos seguintes ao meu ingresso, tive várias inserções em atividades de representação, tanto na PROEC – Pró Reitoria de Extensão e Cultura, como na PROGRAD – Pró Reitoria de Graduação, essa última resultou na criação do Programa Prolicen na UFPR, sob minha coordenação no ano de 1995 e posteriormente no cargo administrativo de Coordenadora Central dos Cursos de Graduação da UFPR (1996 – 1998). Concluído o mandato junto à PROGRAD, me afastei para o doutorado e retornei no ano de 2000, ainda sem concluir a tese, o que ocorreu em dezembro de 2001. Nessa altura, o Mestrado em Geografia já havia sido implantado (o início foi em 1998), meu envolvimento com o grupo era tamanho que no mês seguinte à minha titulação, já era a nova coordenadora do Mestrado, função que exerci por dois mandatos, desde o dia 24 de janeiro de 2002, exatos um mês de minha defesa de doutorado. E assim, minha vida acelerou... Ao final de meu segundo mandato à frente da Coordenação, iniciei o projeto de criação do doutorado, que só foi implantado anos depois, em 2006. No ano de 2013 assumi novamente a coordenação do agora Programa de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado e Doutorado), até o ano de 2015. Durante uma das minhas gestões à frente do PPGGEO, tivemos aprovado um MINTER - Mestrado Interinstitucional (2005), cuja turma foi ofertada em União da Vitória, na Faculdade de Filosofia, mantida pelo estado do Paraná. Foi uma experiência muito produtiva, contribuímos com a formação de profissionais qualificados que ocupavam postos de docente na própria instituição, em áreas distintas. Em fevereiro de 1996 assumi a Coordenação do Projeto Licenciar, junto à PROGRAD, importante registrar que tal Programa, originalmente vinculado ao MEC foi extinto e decidimos mantê-lo internamente na UFPR, fizemos - sob o comando do Pró-reitor de Graduação, Prof. Euclides Marchi -, um programa próprio da UFPR, com expressiva alocação do que passamos a denominar de “bolsa de licenciatura”, existente até hoje. Fui membro do Comitê Gestor do PROLICEN, junto à Pró Reitoria de Graduação da UFPR, no ano de 1995. Em 1997, integrei a Comissão para análise da proposta de organização do Concurso Vestibular da UFPR. Participei, em 1998, da Comissão responsável por criar o programa institucional de alocação de vagas docentes. No âmbito do Programa das Licenciaturas – PROLICEN, participei da criação do “Caderno de Licenciatura” no ano de 1994, publicação que veiculava os resultados dos projetos desenvolvidos pelo programa. Na década de 2000 integrei o Comitê Gestor do Programa de Fomento da Pós-Graduação – PROF/CAPES, do qual a UFPR experimentalmente fazia parte. Além disso, integrei também diversas Comissões de Estágio Probatório ao longo do tempo, inclusive de vários colegas atuais e alguns já aposentados do departamento de Geografia. No campo da extensão, minhas atividades foram de menor expressão, mas merecem registro. Além das representações junto ao Comitê Assessor de Extensão da PROEC entre os anos de 1993 e 1995, fui vice coordenadora do Projeto de Extensão “Diagnóstico socioambiental das Ilhas das Baías de Guaraqueçaba e Laranjeiras”, integrante do Programa “Desenvolvimento Sustentável em Guaraqueçaba”, nos anos de 2001 e 2002. Esse projeto mobilizou diversos professores do departamento, e também alunos bolsistas de extensão, e foi coordenado pela Profa. Inês Moresco Danni-Oliveira. Realizamos diversos trabalhos de campo nas ilhas mencionadas e tivemos contato muito próximo com a realidade social dos moradores. Minha participação no Comitê Assessor de Extensão me rendeu também alguns artigos publicados sobre a temática da extensão, na revista denominada “Cadernos de Extensão”, publicada desde outubro de 1995 pela PROEC-UFPR. Atuei e participei ativamente da oferta de vários cursos de extensão, os mais relevantes foram aqueles ministrados junto ao CEPAT – Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores e junto à Escola de formação Política Milton Santos e Lorenzo Milani, no CEFÚRIA – Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo. Isso em meados dos anos de 2000. Na última década as atividades de extensão foram frequentes, mas nunca mais oficializadas no âmbito da PROEC. Foram atividades que favoreceram o contato direto com a sociedade, sem a mediação institucional. Talvez isso se justifique pelos vários mecanismos que dificultam o registro das atividades. 5. FORMAÇÃO DE PESSOAS: O PONTO ALTO DA CARREIRA DOCENTE Sem dúvida a atividade mais importante de toda a carreira docente é a formação de pessoas. Pessoas são formadas não só por meio de conteúdos, leituras, aulas, textos escritos, mas, sobretudo, por exemplos, postura, diálogo, incentivo. Assim, atuei na formação de pessoas, que, para além de suas especialidades, são, em primeiro lugar cidadãos/cidadãs, com compromissos sociais no mundo em que vivem. Foram vários níveis de formação: graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, além das participações em bancas, momento particular da formação acadêmica. A parte mais simples de nosso trabalho na universidade são as horas em sala de aula, momentos coletivos de reunião que, obviamente, são antecedidos de preparação, leituras, etc. Simples no sentido da objetividade de um conteúdo previamente definido por um currículo, com ementa, objetivos e bibliografia. A parte difícil, trabalhosa e demandadora de tempo é a formação individualizada, que se faz por meio das orientações, de diferentes modalidades: IC, TCC, dissertação e tese. Assim como as bancas: horas de leitura criteriosa, seguida da exposição pública das considerações. Minha participação no Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento - MADE, se deu entre os anos de 2004 e 2008, foi um tempo de muita aprendizagem coletiva, tendo em vista a forma como as atividades eram estruturadas. Porém, a intensa demanda de tal programa, me levou a me afastar do mesmo formalmente, embora ao longo do tempo tenha tido inserções pontuais. Minha primeira orientação de doutorado ocorreu no MADE no ano de 2007, Rosirene Martins Lima, geógrafa, egressa do mestrado em Geografia e professora na UEMA – Universidade Estadual do Maranhão, realizou no MADE seu doutorado sob minha orientação, cuja tese foi intitulada “Conflitos ambientais urbanos: o lugar enquanto categoria de análise no processo de intervenção pública”. No PPU – Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano, participei desde a construção da proposta e tenho me dedicado a contribuir com o fortalecimento do programa. Tem sido anos de muito trabalho, mas também de muita amizade, solidariedade e alegria. Meus/minhas ex-orientandos/orientandas, atuam em diversos locais do país, em áreas distintas, para além do ensino. Muitos/as já formam pessoas e exercem funções de liderança em suas respectivas instituições. Com alguns mantenho contato, outros tomaram atalhos diversos e nos perdemos. Em nível de mestrado tive uma primeira orientação que, de fato, não poderia ter, pois ainda não estava com o doutorado concluído. Assim, orientei Adriana Rita Tremarin, mas oficialmente seu orientador foi Francisco Mendonça, o trabalho intitulou-se: “Análise do processo de ocupação do setor estrutural norte de Curitiba no contexto do planejamento urbano” e a defesa ocorreu em 2001. Adriana realizou uma pesquisa muito importante sobre a verticalização nos setores estruturais de Curitiba. Sua dissertação é um registro importante de um processo que se acelerou nos anos recentes, e como tal, permite retomar comparativamente o processo, tendo em vista o detalhado trabalho de campo realizado por Adriana, que mapeou os usos do solo nos respectivos setores estruturais. No ano de 2002, tive o prazer de ter minha primeira orientanda de Iniciação Científica, Mônika Christina Portella Garcia, premiada como primeira colocada na Banca n. 34 do Setor de Ciências da Terra no EVINCI. Desde então, tenho orientado regularmente um ou dois alunos de IC por ano, alguns desenvolveram suas atividades de modo voluntário, o que tem sido frequente, após a mudança da política de concessão de bolsas aos docentes na UFPR, normalmente limitada a uma bolsa por docente. A maioria dos meus/minhas orientandos/as prosseguiu na formação em nível de mestrado e, alguns, também já são doutores/as, cumprindo, dessa maneira, com o que se espera da iniciação científica: despertar o jovem para a pesquisa e produção do conhecimento. Três modalidades de orientação de outra natureza foram relevantes ao longo de minha carreira. A primeira referiu-se as orientações do programa PDE - Programa de Desenvolvimento da Educação – SEED/PR do governo do Estado do Paraná, por meio do qual, professores eram dispensados de parte de sua carga didática para cumprir um conjunto de atividades na universidade, incluindo o desenvolvimento de um projeto de ensino a ser aplicado na escola. Foi um tipo diferente de capacitação e me permitiu a aproximação mais direta com a realidade escolar, por meio dos professores que orientei. Outra modalidade, constituiu-se numa bolsa ofertada aos alunos de graduação e que já não existe mais, denominava-se “bolsa trabalho”, por meio da qual os alunos cumpriam certa carga horária de atividades e recebiam uma retribuição financeira por isso. Sempre tive por prática envolver esses alunos nas atividades de pesquisa. Muitos migraram, depois, para a iniciação científica. Importante também foram as bolsas de Licenciatura, que me permitiram desenvolver projetos relevantes, como aquele que se dedicava a divulgar o Curso de Geografia em escolas do segundo grau com vistas a demostrar aos alunos as potencialidades desse curso. Intitulava-se “Promoção e divulgação do Curso de Geografia junto ao ensino de 1º e 2º graus em Curitiba - Feira Geográfica itinerante” e, com a participação ativa de um grupo de alunos da graduação, percorríamos diversas escolas. Não tenho o registro de todos/as os/as alunos/as que estiveram integrados a esse projeto, mas alguns nomes me recordo: Cássia Dias Teixeira, Herlon de Oliveira Andrade, Marco Aurélio Rodrigues, Maria Cristina Borges da Silva, Helen Simone França, no ano de 1996. Minha primeira experiência como membro de banca de mestrado ocorreu no ano de 2002, por ocasião do bem-sucedido projeto sobre as indústrias automobilísticas, onde, sob orientação da Profa. Benilde Motim, o candidato Cesar Sanson, apresentou sua dissertação “O feitiço da organização: novas relações de trabalho - um estudo de caso”, junto ao Mestrado em Sociologia da Universidade Federal do Paraná. A maioria dos meus/minhas orientandos/as prosseguiu na formação em nível de mestrado e, alguns, também já são doutores/as, cumprindo, dessa maneira, com o que se espera da iniciação científica: despertar o jovem para a pesquisa e produção do conhecimento. Três modalidades de orientação de outra natureza foram relevantes ao longo de minha carreira. A primeira referiu-se as orientações do programa PDE - Programa de Desenvolvimento da Educação – SEED/PR do governo do Estado do Paraná, por meio do qual, professores eram dispensados de parte de sua carga didática para cumprir um conjunto de atividades na universidade, incluindo o desenvolvimento de um projeto de ensino a ser aplicado na escola. Foi um tipo diferente de capacitação e me permitiu a aproximação mais direta com a realidade escolar, por meio dos professores que orientei. Outra modalidade, constituiu-se numa bolsa ofertada aos alunos de graduação e que já não existe mais, denominava-se “bolsa trabalho”, por meio da qual os alunos cumpriam certa carga horária de atividades e recebiam uma retribuição financeira por isso. Sempre tive por prática envolver esses alunos nas atividades de pesquisa. Muitos migraram, depois, para a iniciação científica. Importante também foram as bolsas de Licenciatura, que me permitiram desenvolver projetos relevantes, como aquele que se dedicava a divulgar o Curso de Geografia em escolas do segundo grau com vistas a demostrar aos alunos as potencialidades desse curso. Intitulava-se “Promoção e divulgação do Curso de Geografia junto ao ensino de 1º e 2º graus em Curitiba - Feira Geográfica itinerante” e, com a participação ativa de um grupo de alunos da graduação, percorríamos diversas escolas. Não tenho o registro de todos/as os/as alunos/as que estiveram integrados a esse projeto, mas alguns nomes me recordo: Cássia Dias Teixeira, Herlon de Oliveira Andrade, Marco Aurélio Rodrigues, Maria Cristina Borges da Silva, Helen Simone França, no ano de 1996. Minha primeira experiência como membro de banca de mestrado ocorreu no ano de 2002, por ocasião do bem-sucedido projeto sobre as indústrias automobilísticas, onde, sob orientação da Profa. Benilde Motim, o candidato Cesar Sanson, apresentou sua dissertação “O feitiço da organização: novas relações de trabalho - um estudo de caso”, junto ao Mestrado em Sociologia da Universidade Federal do Paraná. A maioria dos meus/minhas orientandos/as prosseguiu na formação em nível de mestrado e, alguns, também já são doutores/as, cumprindo, dessa maneira, com o que se espera da iniciação científica: despertar o jovem para a pesquisa e produção do conhecimento. Três modalidades de orientação de outra natureza foram relevantes ao longo de minha carreira. A primeira referiu-se as orientações do programa PDE - Programa de Desenvolvimento da Educação – SEED/PR do governo do Estado do Paraná, por meio do qual, professores eram dispensados de parte de sua carga didática para cumprir um conjunto de atividades na universidade, incluindo o desenvolvimento de um projeto de ensino a ser aplicado na escola. Foi um tipo diferente de capacitação e me permitiu a aproximação mais direta com a realidade escolar, por meio dos professores que orientei. Outra modalidade, constituiu-se numa bolsa ofertada aos alunos de graduação e que já não existe mais, denominava-se “bolsa trabalho”, por meio da qual os alunos cumpriam certa carga horária de atividades e recebiam uma retribuição financeira por isso. Sempre tive por prática envolver esses alunos nas atividades de pesquisa. Muitos migraram, depois, para a iniciação científica. Importante também foram as bolsas de Licenciatura, que me permitiram desenvolver projetos relevantes, como aquele que se dedicava a divulgar o Curso de Geografia em escolas do segundo grau com vistas a demostrar aos alunos as potencialidades desse curso. Intitulava-se “Promoção e divulgação do Curso de Geografia junto ao ensino de 1º e 2º graus em Curitiba - Feira Geográfica itinerante” e, com a participação ativa de um grupo de alunos da graduação, percorríamos diversas escolas. Não tenho o registro de todos/as os/as alunos/as que estiveram integrados a esse projeto, mas alguns nomes me recordo: Cássia Dias Teixeira, Herlon de Oliveira Andrade, Marco Aurélio Rodrigues, Maria Cristina Borges da Silva, Helen Simone França, no ano de 1996. Minha primeira experiência como membro de banca de mestrado ocorreu no ano de 2002, por ocasião do bem-sucedido projeto sobre as indústrias automobilísticas, onde, sob orientação da Profa. Benilde Motim, o candidato Cesar Sanson, apresentou sua dissertação “O feitiço da organização: novas relações de trabalho - um estudo de caso”, junto ao Mestrado em Sociologia da Universidade Federal do Paraná. As bancas permitem uma relação mais direta com a formação, como destacado anteriormente, por vezes são momentos tensos, a depender do trabalho apresentado. Situações de reprovação não foram comuns, mas ocorreram... Participei de mais de trinta bancas de mestrado desde o ano de 2002, em diferentes áreas do conhecimento e em diferentes instituições. Dentre as mais de duas dezenas de participações em bancas de doutorado, registro a primeira, de modo especial, ocorrida em 2003, porque foi na instituição onde me doutorei – USP-, e defendida por um contemporâneo de doutorado, em cuja banca estava também a Profa. Ana Clara Torres Ribeiro da UFRJ, além de Odete Seabra e Francisco Capuano Scarlato, a orientação esteve a cargo de Sandra Lencioni. Tratou-se da banca de Floriano José Godinho de Oliveira (UERJ), que desenvolveu a tese “Reestruturação produtiva e regionalização da economia no território fluminense”. Uma das faces mais gratificantes de meu trabalho ao longo de tantos anos, tem sido a relação com meus alunos e alunas. A relação de respeito e o exercício da autoridade do argumento, como enfatiza Pedro Demo (5) , resultou em vários momentos em que fui homenageada nas solenidades de formatura, em muitos tive que discursar, o que permitiu dirigir-me a uma plateia formada por familiares e amigos/as dos/as formandos/as, pessoas com as quais nunca interagimos, a não ser no dia em que os alunos/as deixam a instituição. É sempre uma grande responsabilidade. Nessas ocasiões sou sempre levada a pensar em quem são os/as alunos/as, de onde vieram, no que acreditam, de que contextos familiares são resultados, as vezes apenas nesse momento de contato descortina-se a explicação para certas atitudes, até então incompreendidas.... 6. A PESQUISA E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO Meu primeiro projeto de pesquisa registrado na UFPR intitulou-se “Análise da evolução temporo-espacial da atividade industrial no Estado do Paraná”, no ano de 1993 e sob o número 093003180 no BANPESQ – Banco de Pesquisa da UFPR. Nessa época, participava de dois grupos de pesquisa: GEAS – Grupo de Estudos Agricultura e Sociedade, com pesquisadores dos departamentos de Economia, Ciências Sociais, Antropologia e Geografia e do Grupo de Pesquisa em História Urbana, com pesquisadores dos departamentos de História, Arquitetura e Urbanismo, Antropologia, Ciências Sociais e Geografia. Observa-se a interação que já caracterizava minhas relações de pesquisa. A primeira experiência de pesquisa coletiva, ocorreu no âmbito do departamento de Geografia, por ocasião do projeto integrado que tratava de diversas dimensões de ocupação na Bacia do Alto Iguaçu, na Região Metropolitana de Curitiba (1996-2000). Foi uma tentativa exitosa de fazer a articulação dos professores do departamento de Geografia em suas várias áreas de trabalho, convergindo para o que resultou, na sequência, no projeto de criação do curso de mestrado. Contudo, foi após a finalização de meu doutorado que encontrei – como esperado - as condições de me dedicar com autonomia à pesquisa. Nesse trajeto, alguns encontros devem ser registrados. O primeiro deles ocorreu em torno da discussão da implantação da indústria automobilística no Paraná: Profa. Silvia Araújo e Profa. Benilde Motim, ambas do departamento de Ciências Sociais. Juntas criamos um grande grupo de discussão do então recente processo de implantação das montadoras no Paraná, com desdobramentos muito relevantes e positivos em termos de qualificação de recursos humanos, publicação de livros e capítulos e financiamento de pesquisa. Esse tema nos proporcionou um primeiro financiamento de pesquisa pelo CNPQ e pela Fundação Araucária entre os anos de 2003 e 2006, com o projeto “Indústria automobilística no Paraná: relações de trabalho e novas territorialidades”. Em seguida, no ano de 2005, fui contemplada com uma Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPQ com o projeto “Território e territorialidades da indústria automobilística no Paraná”, desenvolvido entre 2005 e 2008, bem como, a concessão de bolsa para realização de estágio de pós-doutorado na Universidade de Paris I (2007-2008), para desenvolver e aprofundar o tema da indústria automobilística, com ênfase na Renault. Outro projeto que me projetou a redes muito férteis de trabalho, foi o de cooperação com a Argentina, iniciado no âmbito das minhas atividades junto ao Comitê de Desenvolvimento Regional da AUGM (Associação das Universidades do Grupo de Montevideo), prosperou em direção à uma cooperação financiada pela CAPES no Brasil e pelo MinCyT na Argentina, dedicado a compreender as metrópoles secundárias em ambos os países, intitulou-se “Para além das metrópoles globais: análise comparada das dinâmicas metropolitanas em metrópoles secundárias no Brasil (Curitiba) e na Argentina (São Miguel de Tucumán)”. A cooperação segue, agora amparada pelo Programa de Internacionalização PrInt, financiado pela CAPES, em projeto por mim coordenado. Uma vasta produção bibliográfica e de relações de trabalho foi desenvolvida, contatos que favoreceram a ampliação dos horizontes de muitos alunos e alunas da pós-graduação. Esse projeto interagiu com o Doutorado em Arquitetura da Universidade Nacional de Tucumán, ampliando suas perspectivas temáticas. No âmbito das redes de cooperação e pesquisa, sem dúvida a experiência junto ao INCT-Observatório das Metrópoles deve ser ressaltada. Se trata de uma ampla rede nacional de pesquisa, que permitiu a interação com pesquisadores de diversas instituições no país, além de ter representado, por certo tempo, uma fonte de recursos perene para pesquisa e, em especial, para publicações. Essa experiência de pesquisa foi e continua sendo desafiadora, na medida em que, se tratou de construir uma agenda de pesquisa que permitisse a interlocução com diversos pesquisadores de diferentes lugares do país e de distintas áreas de formação, debruçados sobre a temática urbano/metropolitana. Além de minha participação ativa como pesquisadora da Linha 1, intitulada atualmente, “Metropolização e o desenvolvimento urbano: dinâmicas, escalas e estratégias”, integrei, durante os anos de 2009 e 2012, o Comitê Gestor do INCT-OM e atuei como Coordenadora do Núcleo Curitiba, entre os anos de 2008 e 2019. Na configuração inicial do projeto, coordenei a Linha 1 em conjunto com a geógrafa Rosa Moura e, atualmente, coordenamos, também em conjunto, o projeto “Organização do espaço urbano-metropolitano e construção de parâmetros de análise das dinâmicas de metropolização”. Tentamos, desse modo, favorecer uma leitura do território desde as metrópoles e, em especial, como as mesmas participam do processo de metropolização em curso no país, com ênfase nas suas especificidades regionais. No Observatório, a interlocução com pesquisadores e pesquisadoras de diferentes áreas do conhecimento e de diferentes instituições, oportunizou momentos ímpares de reflexão acadêmica e de ganhos pessoais. Destaco como de grande relevância tanto no âmbito da pesquisa quanto da extensão, o desenvolvimento do projeto “Megaeventos e espaço: análise e acompanhamento das transformações metropolitanas decorrentes da realização da Copa do Mundo de 2014 em Curitiba (PR)”. Oriundo de uma demanda do Observatório das Metrópoles, tal projeto teve como desafio, acompanhar e compreender as transformações decorrentes dos megaeventos esportivos, tanto nas 12 cidades-sedes dos jogos da Copa de 2014, como também no Rio de Janeiro, por ocasião das Olimpíadas de 2016. Recebeu financiamento da FINEPE. Esse projeto permitiu uma inserção social jamais alcançada com os demais projetos, dada sua temática e os vários questionamentos dela decorrentes. Apoiamos movimentos sociais, interagimos com organizações de diferentes níveis, oferecemos diversas interpretações para a mídia local, nacional e internacional. Me lembro de compor uma mesa redonda com uma grande atleta brasileira, Ana Moser (vôlei), por ocasião de um evento promovido pelo Instituto Esporte e Educação, no âmbito do projeto Cidades da Copa idealizado pelo referido instituto, coordenado pela atleta, no ano de 2013. Da mesma forma, algumas entrevistas à imprensa internacional merecem destaque: Brazilian officials are giving up on some unfinished World Cup projects publicada no prestigiado jornal americano The Washington Post em matéria assinada pelo repórter Dom Phillips, na edição de 7 de maio de 2014; The World Cup in Brazil. The half-time verdict. Publicada no jornal inglês The Economist, em matéria de 27 de junho de 2014 e Grands stades en quête d’urbanité. Publicado num Dossiê da revista francesa Revue Urbanisme n. 393, em 10 de abril de 2014. Livros, capítulos, artigos e um boletim mensal de acompanhamento das ações relativas à Copa, foram um importante legado desse projeto. O Boletim Copa em Discussão, foi a maneira que encontramos de divulgar as ações, as atividades e de circular informação qualificada sobre o processo de realização da Copa em Curitiba. Foi uma experiência importante, tendo como responsável, a então bolsista, Patrícia Baliski. Nesse percurso, inserções mais pontuais em projetos de grande envergadura devem ser lembradas, tal qual aquela que resultou na minha participação na equipe de pesquisadores do Projeto Temático, financiado pela FAPESP e coordenado pelo Prof. Eliseu Sposito, intitulado “O mapa da indústria no início do século XXI. Diferentes paradigmas para a leitura territorial das dinâmicas econômicas no Estado de São Paulo", entre os anos de 2006-2011. Recentemente, fui lançada a um novo desafio profissional, coordenar um dos projetos da UFPR, desenvolvidos no âmbito do Programa de Internacionalização da Capes, a saber “Capes/PrInt - Espaço, sociedade e desenvolvimento: desafios contemporâneos”. Nele as redes se ampliaram, tanto dentro da UFPR, na interação direta com outros cinco programas de pós-graduação, quanto com os desdobramentos internacionais dos membros do grupo. Seu desafio é compreender processos contemporâneos que nos alcançam em face da temática do espaço e da sociedade, mediados pelas perspectivas de desenvolvimento. Retoma-se a cooperação com a Universidade Nacional de Tucumán na Argentina, partindo-se do pressuposto de que desde o Sul, temos uma inserção diferenciada nos processos em curso no mundo contemporâneo e olhar realidades similares a nossa pode favorecer o reconhecimento de “onde estamos” no contexto das discussões sobre desenvolvimento. Ainda em setembro de 2019, realizei uma Missão de trabalho em Tucumán, que se pautou no estabelecimento de uma agenda de trabalho e que favoreceu a troca de experiências em face do momento político que vivem ambos os países. Também uma agenda de pesquisa foi elaborada, com objetivo de potencializar as leituras de nossas respectivas realidades. Uma das características que posso identificar olhando minhas pesquisas em conjunto, é seu caráter comparado. Tal característica é estruturante no meu projeto atual de pesquisa, intitulado “Convergências e distanciamentos na estruturação das metrópoles brasileiras: Curitiba e Belém”. Se trata de um desdobramento de duas preocupações anteriores: uma com a pesquisa comparada, como afirmado anteriormente, outra com a compreensão do papel das metrópoles brasileiras, desde seus contextos distintos no território nacional. Assim, esse projeto é, de certa forma, um desdobramento da cooperação com Tucumán e de minha inserção no Observatório das Metrópoles. Posso afirmar que descobrir a Amazônia foi transformador em minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Conhecer o Brasil profundo, me trouxe inúmeras indagações sobre a formação de nosso país: sociedade, cultura, natureza e, em especial, sobre a natureza constitutiva e diferenciada do espaço geográfico. Compreender como se conformam metrópoles em face de tais singularidades tem sido um desafio de pesquisa. Nela tenho inserido alunos de diversos níveis, permitindo que persigamos uma visão de realidade nacional que ultrapasse as fronteiras do “sul maravilha” e confronte a diversidade que nos caracteriza enquanto país. Além dessas principais pesquisas, me envolvi em várias outras, seja em função das demandas de orientação, seja em função da interação com outros pesquisadores em suas trajetórias de pesquisa. Uma dessas interações ocorreu entre os anos de 2002 e 2008, quando passei a integrar a equipe de um grande projeto de pesquisa sobre a assistência social no estado do Paraná, intitulado “Descentralização Político-Jurídico-Administrativa da LOAS - reconstrução de conceitos ou manutenção de saberes e práticas” e com o qual contribui especificamente desenvolvendo o tema “O processo de regionalização do estado do Paraná: relação entre história, economia, política, sociedade e cultura e a implementação da política de assistência social”. Nele, pensávamos a regionalização desde a assistência social como contribuição da Geografia, mas a equipe contou com diversos profissionais de várias áreas do conhecimento. A coordenadora da pesquisa era a Profa. Odaria Battini, da PUCPR e um dos principais produtos da pesquisa foi a produção do Atlas da Assistência Social no Paraná. Ainda no âmbito das atividades de pesquisa, criei em 2009 o Grupo de Estudos sobre Dinâmicas Metropolitanas – GEDiMe, que tem como vice-líder a Profa. Madianita Nunes da Silva. O GEDiMe, congrega pesquisadores e estudantes de pós-graduação e graduação de diferentes áreas do conhecimento e de diferentes instituições, que visam discutir as dinâmicas metropolitanas, com especial ênfase naquelas que se desenvolvem em Curitiba e aglomerado metropolitano. A linha de investigação do Grupo é norteada teoricamente, pelas inúmeras e recentes proposições que buscam qualificar o urbano/metropolitano e sua expressão espacial. Metodologicamente, cada pesquisador e ou estudante, desenvolve sua pesquisa sobre um dos setores/atividades selecionados para análise, respectivamente: centros empresariais, edifícios corporativos e novas implantações industriais; shoppings centers e hipermercados; hotéis, ambientes para conferências e feiras; parques temáticos e complexos cinematográficos; edifícios de alto padrão e condomínios fechados; ocupações irregulares; além dos fluxos como os do deslocamento pendular e dos transportes coletivos. As linhas de pesquisa do GEDiMe são: Espaços de moradia e dinâmica metropolitana; Indústria, equipamentos de comércio e serviços e extensão metropolitana; Metropolização e megaeventos; Redes, fluxos e dinâmica metropolitana. Integro, ainda como pesquisadora, o Grupo de Pesquisa Geografia Regional e Produção do Espaço - GERPE, criado em 2018 e sediado na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA e liderado pelo Prof. Eudes Leopoldo de Souza. O Grupo possui três linhas de pesquisa, a saber: Dinâmicas regionais do desenvolvimento; Metropolização, urbanização e regionalização, e Regionalismos e contradições do planejamento regional. Meus interesses estão na segunda linha, dedicada a discutir a metropolização. Como decorrência das atividades de pesquisa, fui coordenadora do único laboratório de pesquisa na área de Geografia Humana do Departamento de Geografia, o LAGHUR – Laboratório de Geografia Humana e Regional, cuja materialização se deu quando da primeira visita da CAPES ao recém-criado Programa de Pós-Graduação em Geografia (por volta de 1999), momento em que, pela ausência completa de espaço físico nas precárias dependências do Departamento, o banheiro feminino foi transformado em laboratório. Quando o departamento ampliou suas instalações, transferindo-se para o novo edifício João José Bigarella (2013), resultante, dentre outros, dos esforços da então diretora do Setor de Ciências da Terra, Profa. Chisato Oka Fiori, tivemos a possibilidade de criar novos laboratórios, momento em que propus a criação do LaDiMe – Laboratório de Dinâmicas Metropolitanas, que ainda coordeno, tendo o Prof. Danilo Volochko como vice coordenador e responsável por várias pesquisas em seu interior. 7. PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA Se a formação de pessoas pode ser considerada a atividade mais importante de toda a carreira docente, a produção bibliográfica pode ser considerada o capítulo mais sólido dessa mesma carreira. O que está escrito, está registrado, tem longa duração e revela a contribuição original do pesquisador em face dos seus temas de investigação. Observar os títulos dos artigos, capítulos, trabalhos produzidos, é reconhecer a trajetória, a diversidade de temas que me motivaram para pesquisa, ora em razão de meus interesses e objetos próprios de pesquisa, ora por encampar temas trazidos pelos orientandos em seus processos de amadurecimento. Assim, as redes de pesquisa e os temas de meu interesse podem ser encontrados nos títulos dos textos que escrevi ao longo do tempo. No final de ano de 2019, finalizei a organização de um dossiê para o Cadernos Metrópole (PUCSP), intitulado “Metropolização: dinâmicas, escalas e estratégias”, composto por 13 textos relacionados à temática e que integram o volume 22, n. 47 da referida publicação, publicada em janeiro de 2020. Em 2020, forçada pelo distanciamento imposto pela pandemia da covid 19, consegui avançar em vários projetos de artigos, que deverão repercutir em publicações futuras. Os principais projetos de pesquisa que desenvolvi/participei, resultaram em livros, em especial aqueles relacionados à temática da indústria automobilística, à cooperação com a Argentina e aqueles desenvolvidos no interior do INCT/Observatório das Metrópoles. Trabalho coletivo, árduo, mas de grande satisfação quando concluído. Diversos capítulos de livros também registram o percurso da pesquisa e dos temas ao longo do tempo. A metrópole, a indústria, a região metropolitana, os megaeventos, estão entre os principais temas tratados. A relação completa dos artigos e livros publicados pode ser consultada na Plataforma Lattes, especificamente no link: http://lattes.cnpq.br/9800077863356518 8. ATIVIDADES TÉCNICAS Além das atividades de pesquisa, produção do conhecimento, elaboração de textos e formação de recursos humanos, uma outra dimensão da vida acadêmica deve ser destacada. Se trata da participação em atividades técnicas, entendidas como de assessoria e consultoria, além da inserção nos diversos processos de avaliação por pares. Por vezes, tais atividades não são devidamente valoradas nos processos de avaliação, mas são demandadoras de muito esforço intelectual, uma vez que parte delas relaciona-se a avaliação por pares. Assim, avaliar um texto para publicação ou um projeto para uma agência de fomento, são atividades que demandam alto grau de dedicação, além da necessária discrição. Contudo, não posso deixar de registrar aqui, a minha primeira experiência com avaliação de projetos como consultora ad hoc junto ao CNPQ no início dos anos de 2000, sem mencionar o projeto, posso apenas afirmar que foi proposto por uma pessoa que muito admiro profissional e pessoalmente, com competência acadêmica ímpar. Difícil começo... No campo da participação em atividades de avaliação de cursos, tenho que ressaltar duas experiências principais: minha participação no Comitê de Área de Geografia da CAPES, por dois triênios (um deles não completo) e a avaliação de uma Unidade de Pesquisa na Universidade de Artois, na cidade de Arras, no norte da França. A experiência de participar da Comissão da Área de Geografia na CAPES me permitiu conhecer os meandros do processo avaliativo e as dificuldades dele decorrente. A passagem da condição de professora-pesquisadora para a de representante oficial da agência de avaliação é reveladora de conflitos, ou seja, a condição de professora-pesquisadora fica em segundo plano, sobreposta pela representação e uma instituição em cuja política e definições internas nada ou muito pouco podemos interferir. Por ocasião de minha primeira experiência, fiquei pouco mais de um ano, tendo em vista minha saída do país para a realização do pós-doutorado. O ano era 2006 e a coordenadora da área era a Profa. Dra. Dirce Suetergaray (UFRGS), com quem trabalhei em diversas visitas aos programas, em meio a uma das maiores crises aéreas pelas quais o país passou. Ao estresse da avaliação, somou-se o dos deslocamentos. Em 2008 retorno à Comissão, dessa vez sob coordenação do Prof. Dr. José Borzachielo da Silva (UFC), cumprindo o triênio 2008-2010 e participando ativamente de todas as etapas do processo de avaliação. Nas visitas que fiz pelos diversos programas de pós-graduação nos pontos mais distantes do país, sempre me inquietou as diferenças regionais e o esforço de cada programa em superar sua condição anterior, contudo, nós que tínhamos a visão de todos os programas do Brasil, sabíamos que mesmo com todo o esforço demostrado e efetivado, a condição do programa não tinha se alterado no conjunto. Difícil mobilizar esforços em realidades tão diversas e com condições assimétricas de recursos, infraestrutura, etc. Por outro lado, num país com as dimensões do nosso, é preciso que sejam estabelecidos critérios capazes de equiparar as formações em cada canto do território. Por duas outras ocasiões fui convidada a voltar à Comissão, mas penso que quanto maior a diversidade de pessoas envolvidas com essa dinâmica, maior qualidade se agrega ao processo, e mais se conhece sobre suas características próprias. Ainda no campo da avaliação da pós-graduação, tive uma experiência espetacular em dezembro de 2008. Fui convidada para atuar como avaliadora externa de uma Unidade de Pesquisa localizada na Universidade de Artois, no norte da França, tratou-se da EA 2468 - DYRT - Dynamique des réseaux et des territoires. Tal processo de avaliação foi conduzido pela AERES - Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur da França. A composição da Comissão de avaliação foi a seguinte: Presidente, Jean-Christophe GAY (Université de Nice-Sophia Antipolis), experts: Olga FIRKOWSKI (Université fédérale du Parana – Curitiba - Brésil), Bernard VALLADAS (Université de Limoges) e Colette VALLAT (Université Paris 10); expert representante do comitê de avaliação de pessoal (CNU, CoNRS, CSS INSERM, representante INRA, INRIA, IRD): Jean-Paul Amat (CNU) e um observador, delegado científico da AERES, Yvette VEYRET. Um dos coordenadores da agência, Gabriel Dupuy, foi meu supervisor de pós-doutorado e foi o responsável por minha indicação. Na França, não há programas de pós-graduação na concepção que temos no Brasil, assim, doutorandos estão alocados em Unidades de Pesquisa que são avaliadas periodicamente com vistas a continuidade do credenciamento para doutorado e dos recursos dispensados. A avaliação consistia na leitura prévia de vários documentos enviados pela respectiva Unidade de Pesquisa, ao que se seguia a visita e posterior avaliação de um dossiê conclusivo. A visita ocorreu no dia 10 de dezembro de 2008, um dia frio de muita neve em Paris e minha mala não foi embarcada no mesmo vôo que eu.... mas essa história é para outra oportunidade.... Ainda no âmbito dos trabalhos técnicos, tive uma larga experiência de avaliação junto ao PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, do MEC/FNDE. Minha primeira participação se deu como avaliadora e ocorreu no ano de 2005, quando tal foi coordenado pela Unesp de Presidente Prudente. Se tratou talvez do trabalho de maior complexidade que executei na minha vida profissional, o que pode parecer estranho para quem nunca teve envolvimento com essa dimensão de uma política pública ou talvez para quem não tenha assumido tal tarefa com a seriedade e compromisso com a qual eu assumi. Ao todo, participei de sete edições do PNLD, de fases distintas do ensino básico e com posições diferentes na equipe: nos anos de 2005 (UNESP – Pres. Prudente), 2008 (UNESP – Pres. Prudente), 2011 (UFRGS) e 2013 (UFU) atuei como avaliadora e, em 2013, por um curto lapso de tempo também como coordenadora adjunta, fazendo a leitura e avaliação das fichas de avaliação dos livros. Nos anos de 2011 e 2014 atuei como coordenadora da área de Geografia, assumindo, junto com o coordenador técnico, Prof. Eliseu Sposito, a responsabilidade por todo o processo, bem como com a Profa. Inês Moresco Dani-Oliveira que atuou como coordenadora institucional em 2011 e com o Prof. Tony Moreira Sampaio, que teve tal função no ano de 2014. Sem dúvida foi uma experiência densa, em todos os sentidos possíveis: na relação com o MEC, na relação com as instâncias superiores da UFPR, na relação com a equipe de adjuntos e coordenadores e na relação com os avaliadores. Impossível descrever a carga de trabalho e de responsabilidade que envolviam tal atividade, ao que se somava o fato de que tal atividade era sigilosa, portanto, merecedora de cuidados com a divulgação do material, com os lugares das reuniões, com o fluxo de arquivos, etc. Como meu envolvimento foi grande com esse processo, em 2018 tive a curiosidade de saber como seria o encaminhamento do PNLD sob uma nova fase da vida nacional, em especial pelo fato de que as universidades foram paulatinamente retiradas da coordenação do processo, assumindo o próprio MEC tal atribuição. Assim, me candidatei a ser avaliadora, processo ocorrido totalmente a distância pelo site do MEC. Avaliei uma coleção, jamais conheci que eram os coordenadores imediatos e que avaliavam a minha avaliação. Um poderoso e complexo sistema on line foi desenvolvido e nele inseríamos nossas avaliações. Perdeu-se, assim, o momento rico de discussão de cada obra, para confrontar prós e contras da decisão de cada coleção. O avaliador passou a ser um mero tarefeiro tendo externalizada para postos superiores as decisões, sem qualquer retorno ou participação ampliada. Uma lástima.... Muito provavelmente esse é mais um capítulo fechado em minha carreira. Avaliar tem sido uma atividade recorrente em minha vida profissional. Assim, além de avaliar textos, programas de pós-graduação, artigos submetidos a eventos, também tive a oportunidade de compor juris de premiação de trabalhos de conclusão da pós-graduação stricto sensu. Assim, por diversas vezes integrei juris de melhor dissertação e de melhor tese, tanto no âmbito da ANPUR, quanto da ANPEGE e também da Capes. No ano de 2020, novo desafio se apresentou nesse campo de trabalho: fui designada pelo CNPQ, para integrar o Comitê de Assessoramento Arquitetura, Demografia, Geografia, Turismo e Planejamento Urbano e Regional, na qualidade de representante da Área de Geografia Humana. O processo de escolha dos representantes se dá pela votação dos pares, pesquisadores PQ 1 do CNPQ, além de um voto da associação da área. Para minha surpresa, meu nome foi indicado e assumo essa função até junho de 2023, tendo como colega de representação a Profa. Dra. Doralice Sátyro Maia (UFPB). Refletindo sobre minha inserção nas discussões acerca do planejamento urbano, em especial numa cidade como Curitiba, reconhecida por suas inciativas aplicadas nesse campo, algumas observações devem ser registradas. Em primeiro lugar posso afirmar que tive êxito na inserção da Geografia no universo da discussão crítica do planejamento urbano em Curitiba. Pensar a cidade e opinar sobre ela tem sido marcas de meu trabalho, atuar muito próximo aos arquitetos e urbanistas me proporcionou diálogos importantes ao longo do tempo e, em especial, me permitiu ter participação ativa na formação desses profissionais, tendo em vista a formação em nível de pós-graduação (mestrado e doutorado) com a qual contribui, haja vista que tive diversos/as orientandos/as provenientes dessa área do conhecimento. Contudo, um acontecimento sobre o qual raramente comentei, penso que deve ser registrado nesse momento: se tratou de um convite que recebi no ano de 2006, para assumir a Diretoria de Planejamento do IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Poucos convites me deixaram tão honrada como esse, contudo, declinei, por algumas razões que explicito. Em primeiro lugar pelo fato de que estava imersa num projeto de envergadura que era minha saída do país para realizar o pós-doutorado, projeto que envolvia uma enorme logística preparativa, em razão de suas especificidades em termos profissionais e familiares; em segundo lugar porque tal atividade se daria já no decurso de cerca de dois anos da gestão municipal, ou seja, não se tratava de iniciar um novo projeto, mas de envolvimento em um projeto em curso, muito embora a presidência do IPPUC estava sendo alterada nesse momento e dela recebi o convite; em terceiro lugar e não menos relevante, isso certamente resultaria em embates cotidianos pesados em razão do fato de eu ser originária da Geografia, e não pertencer ao grupo predominante de arquitetos urbanistas do instituto. Avaliei os prós e os contras e resolvi seguir com meus projetos de mais longo prazo, fato do qual nunca tive arrependimento. Ponderei que o custo pessoal seria demasiado em face dos prováveis ganhos de visibilidade dos/as geógrafos/as no processo de planejamento. Nem imagino como teria sido se a decisão fosse outra... Duas outras experiências no campo aplicado da atuação do geógrafo merecem também registro: uma participação na equipe de elaboração do Estudo da Rede Urbana da Bahia, encomendado pelo governo do estado da Bahia e desenvolvido pelo escritório Vertrag Planejamento Urbano no ano de 2009. Esse envolvimento me trouxe um conjunto muito relevante de aprendizados e de contatos. Do ponto de vista dos aprendizados, foi a partir dessa atuação que refleti muito sobre a vida na universidade e a aplicação daquilo com que trabalhamos na perspectiva conceitual. O tema principal de minha atuação foi relacionado ao processo de criação de regiões metropolitanas na Bahia, ou seja, havia a intenção de proposição de outras regiões metropolitanas para o estado, além de Salvador. Nessas discussões, muito refleti sobre a noção de “pureza conceitual”, ou seja, sobre minha visão do processo de proposição de regiões metropolitanas observando o conceito de metrópole e a escala nacional. Assim, embora apenas Salvador concentrasse os papeis normalmente atribuídos à metrópole, o estado da Bahia desejava criar outras regiões metropolitanas que pudessem atender às demandas de políticas públicas internas ao estado, ou seja, numa visão restrita ao território baiano. A “pureza conceitual” significava tomar o conceito acima de tudo, o que pode não ser adequado quando o trabalho é aplicado à uma realidade específica, assim, desde a atuação técnica são necessárias concessões... é preciso alterar o olhar em busca das demandas da realidade o que pode significar uma flexibilidade teórica pelo bem da ação. Outra experiência que deve ser registrada foi aquela ocorrida no ano de 2016 por ocasião de um convite para atuar na equipe que havia ganho a licitação para a formulação do Plano Diretor de Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Os trabalhos foram conduzidos pela URBTEC – Planejamento, Engenharia, Consultoria. Também nessa ocasião, fui acionada para tratar da viabilidade de implantação da região metropolitana de Campo Grande, o que não se mostrou adequado, conforme conclusões do estudo. Contudo, tive a oportunidade de participar de várias etapas de construção de um plano diretor, inclusive das audiências públicas, foi uma experiência enriquecedora, mas também difícil, novamente pela possibilidade de confrontar a teoria e a prática, cuja conciliação nem sempre é completamente possível. Ainda na área técnica, outra experiência que me parece relevante apontar, foi aquela de analisar a candidatura de revistas ao SciELO - Scientific Electronic Library Online, nos anos de 2012 e de 2020. Isso me permitiu conhecer mais detidamente os critérios utilizados pelos indexadores de revistas de modo a conceder ou não sua chancela a um periódico. Por fim, no que tange às atividades técnicas, registro minha participação na diretoria de entidades técnico-científicas. Integrei a diretoria da ANPUR – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano, gestão 2017-2019, cuja presidência esteve a cargo do Prof. Dr. Eduardo Nobre da FAU-USP. Antes, havia sido membro do Conselho Fiscal dessa mesma associação na gestão 2015-2017, sob a presidência do Prof. Dr. Rodrigo Ferreira Simões UFMG/CEDEPLAR, seguido pelo Prof. Dr. Geraldo Magela Costa UFMG/IGC, assim como fui do Conselho Executivo da ANPEGE – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia, na gestão 2014-2015, sob presidência do Prof. Dr. Eliseu Sposito. No campo das atividades técnicas, tenho atuado como membro de corpo editorial e/ou como revisora de diversos periódicos de diferentes lugares do Brasil: Revista Oculum Ensaios (PUCCAMP); Mercator (Fortaleza); Editora Letra Capital; Revista Geografar (UFPR); Geo UERJ; Revista do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Londrina; Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales (Saanta Fé – Argentina); RAEGA - O espaço geográfico em análise; Terra Livre; Revista de Economia (Curitiba); Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR); Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana (PUCPR); Revista Brasileira de Pós-Graduação; Revista Paranaense de Desenvolvimento (IPARDES); Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPR); Cadernos Metrópole (PUCSP); Revista de Ciências Humanas (UFSC); Boletim de Geografia da UEM; Caderno Prudentino de Geografia; Geografia. Ensino & Pesquisa (UFSM); Geosul (UFSC). Quanto aos Comitês de Assessoramento e assessoria no campo da avaliação de projetos, destacam-se: CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Fundação Araucária; Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); SCIELO - SciELO - Scientific Electronic Library Online; AERES - Agence d'Evaluation de la Recherche et d´Enseignement Supérieur (França); Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Fundação Universidade Regional de Blumenau; Agencia Nacional de Promoção Cientifica y Tecnologica – Argentina; Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. 9. DOIS PONTOS E NÃO UM PONTO FINAL Esse olhar sobre minha trajetória permitiu reconhecer a passagem do tempo, mostra o quanto percorri, o quanto corri, o quanto o tempo passou ligeiro. Desde a maturidade da vida profissional, posso avaliar com mais calma para onde pretendo ir. Dos sonhos profissionais iniciais, não sei se restou algum por realizar... Tenho uma vasta relação de alunos/as bem-sucedidos/as, excelentes profissionais, alguns meus colegas na atualidade, outros espalhados por longínquas terras daqui e de além mar. Assumi muito cedo a profissão, tive que provar, a cada dia, que minha pouca idade não era sinônimo de falta de compromisso ou competência. Brinquei pouco na juventude, trabalhei duro e não me arrependo. Vivi as mudanças na Geografia ao longo das últimas quatro décadas. Estive imersa na transição de paradigmas, coisa que só agora vejo com clareza. Comecei com a Geografia Tradicional e seus estilos de aprendizado no ensino básico, entrei na faculdade na transição entre Geografia Quantitativa e Geografia Crítica. Percorri pelos caminhos da Crítica e suas transformações nos últimos anos, anunciando as preocupações com o que se denominou de “virada cultural”. Vivenciei a emergência de novas temáticas e novas especialidades da Geografia. Fui aluna de renomados/as professores/as que muito me ensinaram sobre a ciência e sobre a vida. Vivi as mudanças na UFPR, desde os primórdios da democratização na escolha da reitoria, até os retrocessos que se avizinham atualmente, impostos pelo Governo Federal. No departamento de Geografia, vivi a transição de um departamento desprestigiado no interior do Setor de Tecnologia para um departamento ativo e produtivo no interior do Setor de Ciências da Terra. Vivi as mudanças no Departamento de Geografia e em especial na área de Geografia Humana, de posição secundária no plano local e nacional, sem produção relevante (com pontuais exceções), para uma área vibrante, com pessoas atuando em diversos níveis da vida acadêmica e profissional, pelo país e pelo mundo. Vivi a ampliação dos espaços físicos da Geografia na UFPR, de um mero corredor escuro à três andares num prédio moderno e espaçoso, possível pelos investimentos na educação e ensino superior dos governos progressistas recentes. Agora espero fechar projetos, concluir orientações e desbravar novos horizontes! Sigo com minhas orientações na pós-graduação, com as disciplinas ofertadas na graduação e na pós-graduação (Geografia e Planejamento Urbano), redigindo textos, participando de bancas, coordenando projetos, como o CAPES-PrInt, contribuindo com avaliações diversas, sendo a representação da Área de Geografia Humana no CNPq a mais recente, participando de eventos e motivando meus orientandos/as a participar. Sou uma entusiasta de novos projetos! Esse texto permite constatar os caminhos que percorri e foram muitos, sou sensível aos novos desafios! Posso afirmar que transitei por todos os meandros da vida acadêmica, da graduação à pós-graduação, da pesquisa à extensão, de comissões localizadas à coordenação de curso. Interagi com a sociedade de modo geral, seja pelos projetos, seja pelos conselhos dos quais participei. Conquistei reconhecimento pelas minhas posturas, dentro e fora da UFPR. Pretendo permanecer em atividade na UFPR por mais algum tempo, embora desde fevereiro de 2018 já reúna as condições de me aposentar. Meu desejo é fechar um ciclo. Gostaria de atuar em outra instituição que demanda esforços de consolidação. Aprendi muito e sei que poderia contribuir com o avanço de outros. Talvez me dedicar ao trabalho técnico, ligado a projetos aplicados no âmbito de minhas temáticas de trabalho. Não é um ponto final, mais dois pontos, abertos ao futuro e às novas experiência, pois a vida continua, embora o momento atual seja de cautela, preocupação e resistência em face de lutas que imaginávamos já terem sido vencidas! NOTAS 1- A referida sessão pública contou com a participação dos/as seguintes professores/as: Prof. Dr. Clóvis Ultramari (PUCPR); Prof. Dr. Eliseu Saverio Sposito (UNESP-Pres. Prudente); Prof. Dr. Francisco de Assis Mendonça (Presidente da banca-UFPR); Profa. Dra. Maria do Livramento Clementino (UFRN); Prof. Dr. Saint Clair Cordeiro da Trindade Junior (UFPA) e Prof. Dr. Sylvio Fausto Gil Filho (UFPR). 2 Maria Goretti da Costa Tavares, professora da Faculdade de Geografia da UFPA-Belém/PA. 3 Naquela época, o primário correspondia ao atual ensino fundamental 1, o ginásio ao ensino fundamental 2 e o colegial ao ensino médio. 4 Tudo indica que se tratou do livro de CLAVAL, P. Evolución de la geografía humana. Barcelona: Oikostau, 1974. 5 DEMO, Pedro Cuidado metodológico: signo crucial da qualidade. Sociedade e Estado. Brasília, v. 17, n. 2, jul/dez 2002, p. 349-373. MARIA GERALDA DE ALMEIDA EU, MARIA GERALDA DE ALMEIDA Nasci em 1948, no norte de Minas Gerais, num local que se chama Fernão Dias (povoado), distrito de Brasília de Minas. Uma região considerada do Polígono das secas, área da Sudene. Os meus pais moravam numa fazenda desse município. Minha família era de pessoas que tinham terras, fazendeiros, meu avô era uma liderança política, foi prefeito neste município. Tinha grande influência na região devido ao poder econômico que possuía, além de ser muito bem relacionado com os governadores de Minas Gerais. Estudei em Montes Claros (MG) e fiz o primeiro ano do ensino superior na Faculdade de Filosofia e Letras de Montes Claros, posteriormente transformada na Unimontes e, atualmente ela é uma instituição estadual. No segundo ano eu e mais duas colegas pedimos transferência para a UFMG, por termos interesse em fazer um curso diferenciado e contarmos com o apoio do geógrafo prof. Davi Márcio Rodrigues; ele nos incentivou a transferirmos e fomos aceitas na UFMG. Fiz a licenciatura e o bacharelado e também um curso de licenciatura concentrada que era um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos da América para formar professores para trabalhar em novas escolas de melhor padrão de ensino, consideradas como modelo chamadas Polivalente. O ingresso no curso foi mediante um processo seletivo e como fiquei bem classificada permaneci trabalhando em Belo Horizonte depois de concluído este curso. Atualmente sou aposentada mas, continuo, desta feita vinculada ao Programa de Docente Voluntária na UFG (Universidade Federal de Goiás onde ingressei primeiramente como professora visitante e, no ano seguinte, fiz um concurso para professor titular de Geografia Cultural e Turismo; antes fui docente na Universidade Federal do Ceará, de 1987 até 1998 e como professora efetiva, na Universidade Federal de Sergipe, onde fui visitante, e na Universidade Federal do Acre-Ufac, e comecei de fato a carreira no ensino superior, de 1978 a 1981.Estudar na França, cuja geografia era apresentada como relevante para nós, as vindas de professores franceses nos congressos passou a ser um sonho e arrisquei a tentar uma bolsa pela Embaixada da França no Brasil.Também, ressalto que o fato de Osvaldo Amorim Bueno Filho, estudante em Geografia na UFMG ter ido para França e ter me incentivado a pedir a bolsa de estudos foi um incentivo maior. Pedi demissão da UFAC para fazer o mestrado e o doutorado quando ganhei a bolsa do governo francês, que no ensino de pos-graduação francês correspondia ao DEA e o Doctorat de Troisieme Cycle, na Université de Bordeaux III, no Laboratoire de Géographie Tropicale em Bordeaux.. Meu doutorado foi em Geografia Tropical, concluido em 1985. Em minha tese analisei “ Experiences de colonisation rurale dans l´état d ´Acre, en Amazonie Bresiliènne”, abordando a questão da terra e as lutas e conflitos dos seringueiros face aos pecuaristas que chegavam a partir de 1970. Quero dizer que trabalhando sempre em universidades federais, tive o privilégio de percorrer algumas regiões brasileiras: No Norte, no Nordeste e atualmente estou no Centro-oeste em universidades distintas e o contexto no qual elas estavam foi importante para a minha construção como geógrafa. No Acre, era uma geografia que estava começando, com 70% de professores de outros estados o que propiciou abordagens e concepções diferenciadas para os alunos. Além disso, nós tivemos um envolvimento intenso, nós, professores da Ufac, em movimentos em defesa do meio ambiente, no qual fazíamos palestras e encontros com os seringueiros, convivíamos com eles. E, movimentos sociais, apoiando aqueles que lutavam pelos direitos a moradia, a educação e saúde, atuando junto à Pastoral da Terra. Quando fui para Sergipe, em 1985 já não tinha mais este tipo de preocupação, era outro, mais as identidades culturais no espaço rural. No Ceará me envolvi particularmente com a AGB, que possuía figuras de destaque nacional como o José Borzacchiello da Silva, Vanda Claudino Sales e Maria Clelia Lustosa; fui da diretoria da AGB e integrei cargos e várias comissões da mesma. Estávamos envolvidos com as discussões da Constituinte. Atualmente, desde 2018 estou como pesquisadora sênior na Universidade Federal do Amapá, no projeto Procad/Amazonia. Edital Nº 21/2018. “Construções de Estratégias de Desenvolvimento Regional e as Dinâmicas Territoriais do Amapá e Tocantins: 30 anos de desigualdades e complementaridades” MDR/UNIFAP. .Particularmente, desenvolvo a pesquisa ´”Povos subalternos nos territórios delimitados pelo governo federal no Amapá e presenças nos planos de desenvolvimento estadual” Ressalto que tenho orgulho e satisfação pessoal de ter iniciado minha vida acadêmica ,em uma universidade pública no Acre/Amazônia e, quando caminho para encerra-la retorno novamente a esta região, no estado do Amapá. DESTAQUES NO INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIO-AMBIENTAIS IESA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, DESDE 1998. -participação da fundação do Laboratório dos Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais- Laboter - contribuição na criação da revista A2- Ateliê Geográfico. - organização de 19 livros geográficos . - autoria de um livro. - organização de uma cartilha para Moçambique. -..organização de 2 cartilhas para os Quilombolas- Kalunga. - coordenação de 11-projetos de pesquisa - primeira professora da Geografia-Iesa a coordenar projetos de pesquisa e extensão nos Quilombolas- Kalunga -primeira professora de Geografia-Iesa a pesquisar sobre as festas populares no estado de Goiás - primeira professora Geografia-Iesa a ter um livro, “ Tantos Cerrados” , citado no concurso nacional do Enem. - primeira professora Geografia -Iesa a ser presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia. 2009-2011. DOCÊNCIA NO EXTERIOR Université de Quebec à Montreal (2003) Universidad Autónoma Metropolitana do México, UAM, México (2012), Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM, México. (2012) Universidad Nacional de Cuyo, UNCuyo, Argentina (2013). Universidad de Caldas – Colombia ( 2015 a atual orientação e aulas) Universidad de Guajira- Colombia (2018 e 2020) PERTENCIMENTO A REDES Participa das seguintes redes: NEER- Núcleo de Estudos sobre Espaço e Representações. 18 pesquisadores de 12 instituições brasileiras. RETEC- Red internacional de estúdios de território y cultura.- Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, França, México, Peru,Venezuela RELISDETUR- Red latinoamericana de innvestigadores em desarrollo y turismo- Argentina, Brasil, Chile,Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México. RIEF - Red Internacional de Investigadores en Estudios de Fiesta, Nación y Cultura. RIEF-. Una Red con más de 150 investigadores de varias naciones. GI-1871: Grupo de Investigación de Análises Territorial, da universidad de Santiago de Compostela-Espanha. REFLEXÕES SOBRE A GEOGRAFIA NO BRASIL E NO MUNDO Entrevista de Maria Geralda de Almeida concedida a Claudio Benito O.Ferraz, Flaviana G, Nunes e Edvaldo C. Moretti. Entre-Lugar, Dourados, MS, ano 2, n. 3, 1º semestre de 2011 Universidade Federal da Grande Dourados, p. 170- 178 Atualizada em setembro de 2020 E-L: Os pensadores que considera como importantes para a sua concepção de Geografia? MG: Paul Claval, para mim, é uma referência pela opção de abordagem que tenho - que é pela geografia cultural. Depois dele tem o Denis Cosgrove, geógrafo inglês que faleceu jovem, porém, deixou como legado uma forma de abordar a geografia cultural com uma visão mais crítica, mais reflexiva, centrada na categoria da paisagem. Ainda no campo dos geógrafos que não são brasileiros, têm alguns geógrafos portugueses que considero importantes, como é o caso da professora Ana Francisca Azevedo e do professor João Pimenta, que fazem uma leitura crítica do processo de colonialismo e pós-colonialismo. Estou falando dentro do contexto da geografia ou da abordagem da geografia cultural, mas, logicamente, que não podemos desconsiderar que a geografia brasileira é muito influenciada por Milton Santos; ele conseguiu dar um enfoque inovador para o pensamento geográfico projetando o Brasil e o considero muito importante na geografia de modo geral. E-L: Como analisa a evolução do pensamento geográfico brasileiro a partir dos anos 70 do século XX? MG: Essa evolução melhor que seja analisada no interior do que Renato Ortiz denomina de mundialização e também no contexto das mudanças ocorridas no meio técnico-científico-informacional. Nos anos 70 vamos ter a agudização dos conflitos ideológicos em decorrência da Ditadura Militar e o início do processo de abertura que, para nós Geógrafos, terá o congresso de Fortaleza em 1978 como marco. Ali se expressará com mais força, uma geografia em prol de uma abordagem mais crítica, alimentada pela corrente marxista, contra as posturas de certos geógrafos atuando no planejamento, trabalhando em órgãos governamentais e possuíam uma abordagem quantitativa da geografia. Muitos dizem que a partir daí se estabelece uma crise, mas não sei se a palavra é crise; diria que os geógrafos tomaram consciência do contexto político e assumiram uma postura mais comprometida com as necessidades dos desfavorecidos socialmente. Vejo uma diferença entre esse momento de crítica e o que foi se desdobrando ao longo dos anos 80 e 90, ou seja, o caráter combativo, crítico e politizado que, todavia, foi-se reduzindo no século XXI. Teria certa dificuldade para falar que nós continuamos combativos, que nós continuamos preocupados com os problemas mundiais e se nós estaríamos nos posicionando de forma engajada com as necessidades fundamentais da sociedade diante dos conflitos e crises ambientais, urbanos e dos problemas sociais de modo geral. Penso que é emblemático o que aconteceu nos anos 80, notadamente no interior da AGB, quando se desenvolveu uma crítica muito grande ao que se fazia e ao que se pensava enquanto geografia vinculada aos interesses hegemônicos articulados pelo Estado. Contudo, iniciando no inicio dos anos 80 com o desgaste da Ditadura Militar, e de quase todas as ditaduras latino-americanas, paralelo ao processo de redemocratização social, o qual acabou em grande parte cooptado pelas novas forças e arranjos capitalistas articulados globalmente, isso com certeza influenciou no enfraquecimento do movimento sindical e das organizações sociais. A partir daí, a geografia que vem sendo construída, nos anos 90, desemboca na atual. Penso que existe uma visão de mundo atrelada a um novo enfoque. Onde foram parar aqueles geógrafos militantes e que tinham comprometimento com os problemas da sociedade? A geografia que mudou ou foi nós geógrafos que mudamos a nossa forma de pensar e isso reflete na geografia que estamos fazendo? Vejo que a AGB tinha um papel muito grande, intenso no convite e atuar nesse campo de militância do geógrafo. Contudo, ela mudou, gradualmente, o perfil. Lá na AGB é onde havia os embates, havia, também, os conflitos, as contradições. Penso que a AGB deixou de fazer um pouco o estimulo ao geógrafo militante e a geografia-ação. E-L: Como interpreta a geografia cultural nos demais países, e a brasileira neste contexto? MG: A partir de minha experiência no mestrado e doutorado, percebia a geografia na França refletindo as experiências dos franceses nos países tropicais e como eles se preocupavam em buscar procedimentos para lidar com esta realidade. Depois disso, voltei novamente a França para fazer um pós- -doutorado na geografia cultural, com Augustin Berque, que já tinha uma experiência com o Japão. Nesse outro momento identifiquei a prática de uma geografia cultural ocidental com base em uma filosofia oriental que tentava ler o mundo; e, no meu caso, ver o Brasil, um país tropical, sem uma raiz própria uma vez que havíamos construído a nossa geografia com influências da geografia francesa. Este contato com o professor Berque foi interessante para eu começar a desenvolver uma geografia sensível. Como geógrafa brasileira, tinha facilidade para com esta geografia, mas não me restringi a apenas este contato, pois também tive experiência com Maximo Quaini, na Itália, onde passei um tempo do pós-doutorado. Ele fazia um humanismo marxista. Valorizava muito o romper com aquele marxismo mais ortodoxo e colocara o homem com um interlocutor importante para estabelecer aquela leitura da desigualdade, das contradições que ele destacava pela leitura marxista. Ele dizia que se não for pelo homem, entendendo e reconhecendo o homem nas dimensões sociais, econômicas, culturais e psicológicas impossível entender as contradições que vivenciamos. Isso se adequava muito bem ao que eu identificava como fruto de mudanças ocorridas com a geografia brasileira ao longo dos anos 80 e 90 do século passado. Porém, era um olhar geográfico que surgia sobre o homem produtor, consumidor e, apoiando um Estado planejador. A minha ida para o Canadá abriu uma outra perspectiva. Percebi que os canadenses tinham transposto a geografia francesa para o Quebec, como nós brasileiros também fizemos na criação dos primeiros cursos de geografia. Mas, eles estabeleceram uma conexão com a geografia norte-americana, de caráter mais tecnicista e pragmático.e procuraram fazer esta interlocução. A experiência de exercitar essas técnicas serviu para fundamentar estudos de natureza cultural, no caso a discussão dos referenciais de identidade e região discutindo a migração mas recente dos ingleses para o Canadá; e, como a cultura inglesa se situava perante os quebequenses, que eram franceses em suas raízes. Penso que foi rica essa forma deles procurarem fazer uma geografia própria, de Quebec, estabelecendo este diálogo com outras escolas geográficas, se abrir para acolher métodos, abordagens, categorias adequando-os nos estudos culturais do Canadá. Isso pode ser um importante exemplo para a geografia cultural brasileira. Quanto à América Latina, tenho participado da grande maioria dos Encontros da Geografia da América Latina (EGAL). É notório, que os brasileiros prevalecem nesses encontros. Há mesmo uma brincadeira sobre isso, que são brasileiros que saem do Brasil para assistirem brasileiros em outros países (risos). Somos vistos como um país que conseguiu implantar a geografia nas instituições e ganhar credibilidade, comparando com os demais países temos uma grande quantidade de cursos de pós-graduações em várias universidades. Com exceção da Argentina, México e Cuba, nos demais países praticamente não existe uma oferta diversificada de pós-graduação em geografia. Nesse sentido, segundo eles, a geografia brasileira aparece como imperialista. Na leitura deles, nós temos uma supremacia, devido à quantidade de cursos de pós-graduação espalhada pelo território nacional. O fato é que possuímos 114 cursos de pós-graduação (Mestrado- 72); Mestrado Profissional - 5, e Doutorado- 37, dados da Capes, 2020), uma qualidade na nossa produção e uma projeção internacional para a geografia, que eles não têm. Essa é a diferença que vejo. O Milton Santos tornou-se uma referência em toda a América Latina, mas, já no século XXI outros brasileiros já possuem livros traduzidos para o espanhol como Rogerio Haesbaert “O Mito da Desterritorialização: do 'fim dos territórios' à multiterritorialidade" (edição espanhola por Siglo XXI Editores, México), e Carlos Walter Porto-Goncalves. ( Geo-grafías: Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidade. Siglo XXI, Editores, ,México, 2001). E-L: Como entende a distância entre a geografia universitária no Brasil comparando-a com a praticada no ensino básico? MG: Bem. O que é hoje a universidade Brasileira? Vamos refletir: o que passou a ser solicitado da universidade e de nós professores universitários. Penso que a universidade não dialogou muito com o ensino básico para saber hoje os órgãos responsáveis pelo ensino superior cobram mais do professor uma produção do que uma qualidade no envolvimento com a educação, o ensino e a sociedade. O que está sendo solicitado da universidade é que ela produza e, ao considerar isso, vejo que ela muda, um pouco, o seu foco. Passa de uma função, que seria preocupar-se em levar o conhecimento e promover a formação da sociedade, isto é, de uma função social, para uma instituição, se assim posso dizer, mercadológica. Fazendo isso, a universidade adentra numa crise, ela perde aquela força de socialização ampla do conhecimento e põe o foco em outra questão, de uma especialização em prol do retorno econômico e técnico dos seus produtos. A Universidade está distante do Ensino Básico fundamental e médio no que ela ensina, como ensina formando licenciados. Nós criticamos esse Ensino Básico. Contudo, quem está trabalhando nele são aqueles egressos da universidade; quando os profissionais recém formados nos cursos de licenciaturas chegam ao Ensino Básico, em sua grande maioria tem dificuldade em colocar em prática o aprendizado universitário para o magistério nas escolas; ele não consegue reproduzir o aprendido, o que, a princípio, é o desejado. Também, há a considerar nesta crítica é se há essa distância entre a formação no ensino superior e o praticado na sala de aula do ensino básico, deve-se a universidade ter desvalorizado a licenciatura e eleger a formação de mão de obra especializada, formar profissionais com melhores salários que os professores no mercado de trabalho. Não é exatamente aquilo que se pretende com a formação do educador, esse ficou em segundo plano. E-L: Com a geografia pode contribuir para pensar a questão da identidade? MG: A identidade não é uma categoria geográfica especificamente, mas pode ser empregada geograficamente a partir do instante que a identidade permite uma leitura dos homens e dos espaços. Ao falar do espaço, estou me referindo a identidade territorial. Não creio que a geografia, de modo geral, tenha esse interesse em discutir a identidade, seria uma abordagem mais particular, que seria esta da geografia cultural. Ao fazer esta discussão, a geografia precisa se associar a outras ciências: antropologia, sociologia, história etc., o que torna o estudo ou a aplicação do conceito de identidade bastante complexo. A abordagem da geografia cultural não tem o propósito de discutir a categoria pela categoria, mas sim aplicar para entender e explicar melhor o espaço produzido e significado pelas relações humanas, de como os homens se identificam com os lugares. Discutir identidade é muito instigante para você conhecer e interpretar melhor o que é o território, a região, o lugar levando em consideração como um determinado grupo social, povo, gente se vincula, se associa com aquele espaço. Essa forma de criar o laço espaço- homem, diz muito de como nós nos sentimos naquele espaço. . É o caso, por exemplo, do trabalho do Robinson S. Pinheiro , no qual o autor faz uma discussão da identidade a partir de uma leitura que apresenta da produção literária regional, fazendo uso desta literatura como um veículo que expressa a complexidade dos processos identitários no Mato Grosso do Sul. Enfim, penso que mais que a geografia contribuir para pensar a questão da identidade , é a identidade que auxilia na compreensão espacial e da ciência geográfica. 1 A entrevistada está fazendo referência ao trabalho de Robinson Santos Pinheiro: Geografia e Literatura: Diálogo em torno da Construção da Identidade Territorial Sul-Mato-Grossense. Dissertação de mestrado, sob orientação do Prof. Dr. Cláudio Benito O. Ferraz, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em abril de 2010 E-L: Como presidenta da ANPEGE no biênio 2009-2011, como entende o papel dessa entidade para a formação do pensamento geográfico brasileiro? MG: A ANPEGE é uma entidade diferente da AGB. Uma entidade que não mais tem o ímpeto do trabalho do geógrafo militante politicamente, porque já espera que ele venha com essa militância praticada em outras instâncias. Penso que a ANPEGE, hoje, tem uma respeitabilidade que é importante, considerando que ela já tem mais de dez anos de existência, desde 1992. Então, é uma entidade que representa mais de 40 programas de pós-graduações, sendo 18 programas de doutorado e que tem essa preocupação de discutir o que é a formação e o papel do pesquisador. Vejo com muita seriedade e muita responsabilidade estar diante de uma entidade que tem um perfil deste. Entendo que a entidade, em si, já configura como um mecanismo de visibilidade do que é feito nos programas, quando ela tem voz ativa na escolha de representantes que estão na CAPES no CNPQ e é chamada para opinar sobre assuntos que dizem respeito a produção científica do geógrafo. Espero que a entidade continue fazendo este papel, que ela não seja apenas ilustrativa, mas que seja ativa na ajuda da construção do que é a geografia. Vocês acreditam nisso? (risos). E-L: Quais seriam os principais desafios da produção científica brasileira hoje, mais especificamente a geográfica? MG: Já mencionei aqui a importância que tem sido atribuída ao caráter produtivista no interior da universidade. Quando disse isso queria me referir a uma produção é considerada como um passaporte para o professor ser convidado para ser docente na Pós-Graduação, ter visibilidade ao ter publicações de destaque, participações em mesas de congressos etc.. Com isso, levou-se a uma proliferação de revistas. Revistas que nem sempre são da qualidade desejada. Estou fazendo uma crítica ao que se espera do profissional pesquisador e também de como ele se sente diante de ter que produzir para conseguir o reconhecimento dos seus pares, ou a bolsa produtividade do CNPq; além disso, o preço dessa produtividade em relação ao tempo necessário para se fazer uma pesquisa com qualidade e profundidade. Esse tem sido um dilema para o professor pesquisador. Diria que se tem produzido muito na geografia brasileira, impulsionada pela pressão da Capes aos cursos de Pós-Graduação. Contudo, não temos condição de avaliar e de conhecer o “todo” que está sendo produzido. As vezes tenho a impressão de que estamos publicando e produzindo sobretudo para o nosso público local. . O envelhecimento da ideia pode ocorrer até sua publicação e, mesmo afetar essa finalidade da publicação, que eu entendo ser a interlocução, o debate entre o autor e aqueles que vão ler. Mas o momento é rico para a produção e como consequência para a geografia brasileira, basta ver a quantidade de livros que estão sendo publicados anualmente. As revistas com melhores qualis tornam-se mais criteriosas, o que concordo, e há prazos de até dois anos, entre a submissão do artigo, o aceite e a publicação. Muito positivo vejo as revistas que tem surgido, cada programa de pós-graduação praticamente tem a sua. Mas, a minha crítica é, sobretudo, quanto a dificuldade de tempo para você ler e se inteirar sobre o que está sendo feito. As vezes nem todos têm conhecimento do conjunto maior das discussões que permeiam a geografia, a maioria se isola em sua especialização e apenas lê sobre aquilo que pesquisa. Isso é perigoso, em especial para um conhecimento amplo como o geográfico. E-L: Fazendo uso de uma música interpretada por Mercedez Sosa: É possível o Sul?2 Explicando melhor, é possível um conhecimento filosófico e científico ser gestado a partir das condições periféricas ao sistema econômico e ter como característica ser alternativo ao pensamento dominante, no caso, oriundo ideologicamente do norte? MG: Boaventura de Souza Santos fala de uma epistemologia para o sul. Quando ele fala de uma epistemologia para o sul está respondendo a Mercedez Sosa. Concordo com ele ao criticar que nós ficamos muito ao sabor do que vem do hemisfério norte e estamos deixando que algumas vozes sejam esquecidas, marginalizadas; acredito que seja possível sim um pensamento oriundo dos saberes locais, baseando na nossa realidade e contradições. Acredito que esteja faltando fazer uma geografia mais nossa, uma geografia que contaria com nossos próprios referenciais. Contudo, prevalece a crença que somente a academia produz ciência e saberes e, nós desconsideramos outras formas e, ainda não estamos utilizando os saberes locais. O Boaventura quando fala dos saberes locais se refere ao fato que as universidades estão se distanciando de meio e voltando-se para os saberes oriundos do estrangeiro, do norte, dos de “fora”. Boaventura pergunta o inverso: por que não levar os saberes locais para dentro das universidades e tentarmos dialogar com eles? Aí vem aquela pergunta anterior, como tem sido nossa relação com o Ensino Básico? Nós formamos professores, mas não trazemos este professor de “lá” para “cá” depois que estão na prática, até mesmo para termos uma noção mais fundamentada entre aquilo que é ensinado nas universidades e como na prática (realidade) se deu. Isso é importante para que os professores revejam as suas práticas nas universidades. 2 ¿Será posible el sur? Letra de J. Boccanera e C. Porcel de Peralta. Interpretada por Mercedez Sosa no disco do mesmo nome. Philips da Argentina, 1984. E-L: Diante dessa possibilidade, como você analisa o pensamento de Milton Santos. Ele está organicamente vinculado com esta possibilidade de um pensar enraizado na realidade periférica ou ele é um desdobrar do pensamento monopolizante que está se dando no sul? MG: Quando o Milton Santos escreveu o livro O trabalho do geógrafo no terceiro mundo, nota-se uma referência de autores de pensamento francês na obra dele, mas o seu discurso é focado para a realidade de um mundo então majoritariamente desconhecido pela Europa e as demais nações do norte dominante. Mas, se você observar o desdobrar do pensamento de Milton Santos, com o tempo sua obra se distancia disso; ele não fala mais neste geógrafo do hemisfério sul. Milton Santos não tinha por hábito citar suas fontes; porém, quem o lê, e também faz a uma literatura de filósofos e sociólogos franceses identificam semelhanças dos pensamentos. Seriam possíveis influências? Pelo que percebi, lendo a obra do Milton Santos, algumas ideias similares constam tal como que em Foucault, ou como Guattari havia expressado em Cartografias do Desejo. É inegável a valiosa contribuição de Milton Santos ao nos trazer estes pensamentos que muito nos ajudou, a construir uma geografia com esse tom mais brasileiro. Entretanto, poucos geógrafos ousaram dialogar, contestar este grande geógrafo. Penso que os geógrafos brasileiros poderiam ter começado a se posicionar mais criticamente diante do seu pensamento. Também não vou culpar o Milton Santos por uma persistência institucionalizante de seu pensamento; o engessamento de qualquer pensamento é problemático para o processo de evolução do saber científico e filosófico. Não diria que Milton Santos chegou abraçar um pensamento monopolizante que estaria se dando no sul. Porém, tampouco era um critico e mesmo defensor de um pensar emergindo na periferia. E-L: Estamos localizados, o curso de geografia da UFGD, numa área de fronteira. É possível pensar na produção de um saber científico geográfico a partir dessa condição fronteiriça? MG: Quando você me faz esta pergunta penso está se referindo a uma fronteira política/administrativa; diria que a fronteira é social e ela está onde nós a colocamos. Então, a fronteira sempre existe, ela existe por nós diante dos outros, e ela existe quando instauramos a relação sujeito/objeto. José de Souza Martins fala sobre isso, no livro dele sobre a Fronteira, de como nós nos situamos na fronteira ao estabelecermos a relação entre o “eu” e o “outro”. Penso que a produção geográfica deva ser mais universal, mas a partir do local; ela deve ser sempre pensada e concebida de modo a colaborar na leitura da realidade, ler o mundo e fazer com que cada sujeito reflita sobre este lugar, este local. Na minha opinião, a leitura que se faz aqui - uma geografia feita por esta fronteira – falando rapidamente, que pode ser uma fronteira, um encontro daqueles que chegaram para colonizar o Mato Grosso do Sul e uma população indígena que lá se encontrava. Uma geografia capaz de auxiliar na melhor interpretação dessa situação fronteiriça pode dar uma grande contribuição e avançar na reflexão de como ler tal dinâmica espacial por meio de seus conflitos e tensões. Nesse contexto, afluem elementos comuns a outras regiões, mas que aqui possuem sua singularidade, como as grandes áreas produtoras de soja, de cana, dos agronegócios e dos assentamentos. Eis aspectos locais que aparecem de outras formas no Brasil em áreas como Amazonas, Pará, Goiás etc. Uma geografia aqui produzida que pode ajudar a refletir sobre um Brasil singular, mas que é um Brasil que se reproduz também em outros locais. Há aqui um grupo que estaria refletindo sobre isso? Como os geógrafos daqui estão vendo e assumindo esta realidade e qual o papel que possuem na leitura e interpretação desta realidade? Será que aqui poderia ser um núcleo de uma geografia do pós-colonialismo? E-L: Como a senhora entende os referenciais teóricos/metológicos que estão sendo praticados pela geografia brasileira de uma forma geral? MG: Até alguns anos atrás tínhamos um discurso que era aceito como único para fazer geografia, para esta ser considerada ciência. Isso mudou bastante e hoje interpreto que a geografia se enriquece com suas várias possibilidades de diálogos, os métodos que passaram a ser aplicados. Inclusive a geografia brasileira ganha uma respeitabilidade frente ao cenário da América Latina, da Europa etc. pois mostra que é uma geografia que evoluiu. Só para termos uma ideia, recentemente recebemos a visita de alguns geógrafos americanos, a partir de um convênio estabelecido entre a Universidade Federal de Goiás e a Universidade da Califórnia. Houve intercambio de estudantes. Ao chegarem na nossa universidade a preocupação deles era: “Vocês vão trabalhar com pesquisa qualitativa, não é?”. Estranhava a pergunta dizíamos: “Sempre trabalhamos com pesquisa qualitativa” e eles explicavam: “é porque nós não queremos aquela pesquisa voltada para a quantificação, modelos etc.”. Ou seja, eles estavam cansados do referencial único da geografia quantitativa e estavam procurando, algo que para eles era inovador e que para nós já estava consolidado. Quero dizer com este caso que a geografia, no instante que ela passa a usar de vários referenciais teóricos/metológicos e dialoga com outras perspectivas e análises, ela se enriquece; e isso a geografia brasileira soube aproveitar das várias influências que sofreu das demais escolas com as quais manteve contato. LIVROS MARCANTES DA CARREIRA (OBRAS E REFERÊNCIAS) 1. ALMEIDA, M. G..(org.) Território de tradições e de festas. 1. ed. Curitiba: UFPR, 2018. 2. ALMEIDA, M. G.. GEOGRAFIA CULTURAL - UM MODO DE VER. 1. ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2018. v. 1. 384p . 3. ALMEIDA, M. G.; SILVA, M. A. V. (Org.) ; TORRES, M. A. C. (Org.) ; D`ABADIA, M. I. V. (Org.) ; CURADO, J. G. T. (Org.) . Manifestações Religiosas Populares em Goiás: Atlas de festas católicas. 2. ed. Anápolis: UEG, 2018. 4. ALMEIDA, M. G.; CURADO, J. G. T. ; TEIXEIRA, M.F. ; MOTA, Rosiane Dias ; MARTINS, L. N. ; MOREIRA, J. F. R. ; SOUZA, A. F. G. ; LIMA, R. S. ; TORRES, R. P. A. ; BONJARDIM, S.G.M. . Atlas das celebrações : as festas dos ciclos junino e natalino em Goiás e Sergipe. 1. ed. Aracajú: Instituto Banese, 2016. v. 1. 92p . 5. ALMEIDA, M. G.; MOTA, R. D. (Org.) ; BRITO, E. P. (Org.) ; MACHANGUANA, C. A. (Org.) ; RIGONATO, Valney Dias (Org.) ; RIBEIRO, G. G. (Org.) ; SILVA, R. G. (Org.) ; SANTOS, S. A. (Org.) . Paisagens e Desenvolvimento Local: Imagens sobre Chibuto, Moçambique. 1. ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 78p . 6. ALMEIDA, M. G.. O Território e a comunidade Kalunga: Quilombolas em diversos olhares. 1. . Goiânia: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 329p . 7. DE ALMEIDA, MARIA GERALDA; RIGONATO, V. D. ; BRITO, E. P. ; MACHANGUANA ; ARGENTINA, I. . Aprendizado participativo em Chibuto-Gaza. 1. ed. Goiânia: Kelps, 2015. 56p . 8. CURADO, J. G. T. (Org.) ; BRETAS, I. F. (Org.) ; SILVA, M.A. (Org.) ; D`ABADIA, M. I. V. (Org.) ; ALMEIDA, M. G. (Org.) ; PAULA, M. V. (Org.) ; MOURA, M. R. P. (Org.) ; BARBOSA, Romero Ribeiro (Org.) ; MOTA, R. D. (Orgs.) . Atlas de festas populares de Goiás. 1. ed. goiania: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 125p . 9. ALMEIDA, M. G.; ARRAIS, T. P. A. (Orgs.) . É geografia, é Paul Claval. 1. ed. Goiânia: UFG, 2013. 176p . 10. ALMEIDA, M. G.; MAIA, C. E. S. ; LIMA, L. N. M. (Orgs.). Manifestações do Catolicismo. 1. ed. Goiânia Goiás: LABOTER/FUNAPE, 2013. 998p . 11. ALMEIDA, M. G.; TEIXEIRA, Karla A. ; ARRAIS, T. P. A. (Orgs.) . Metrópoles: Teoria e pesquisa sobre a dinâmica metropolitana. 1. ed. Goiânia: Cânone, 2012. 152p . 12. COSTA, J. J. ; SANTOS, C. O.; SANTOS, M. A. ; ALMEIDA, M. G.; SOUZA, Rosemeri Melo e (Orgs.) . Questões geográficas em debate. 1. ed. Sao Cristóvão: UFS, 2012. 13. DE ALMEIDA, MARIA GERALDA. Trocas de saberes no Cerrado, valorização dos quintais, segurança alimentar e cidadania nas comunidades kalunga em Teresina de Goiás. 1. ed. Goiânia: IESA/FUNAPE/UFG, 2012. 31p . 14. ALMEIDA, M. G.; CRUZ, B. N. (Org.s) . Território e Cultura - inclusão e exclusão nas dinâmicas socioespaciais. Goiânia: CEGRAF-UFG, 2009. 256p . 15. ALMEIDA, M. G.. Territorialidades na América Latina. 1. ed. Goiânia: Cegraf UFG, 2009. 240p . 16. ALMEIDA, M. G.; CHAVEIRO, Eguimar Felício; BRAGA, Helaine da Costa (Orgs.) . Geografia e Cultura - os lugares da vida e a vida dos lugares. 1. ed. , 2008. v. 1. 313p . 17. ALMEIDA, M. G.. Tantos Cerrados: múltiplas abordagens sobre a biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira, 2005. 321p . 18. ALMEIDA, M. G.; RATTS, Alecsandro J P (Orgs.) . Geografia Leituras Culturais. Goiânia: Alternativa, 2003. v. 1500. 286p . 19. ALMEIDA, M. G.. Paradigmas do Turismo. 1. ed. Goiânia: Editora Alternativa, 2003. 176p . 20. ALMEIDA, M. G.. Abordagens Geográficas de Goiás: o natural e o social na contemporaneidade. CDU. ed. Goiânia: IESA - CEGRAF UFG, 2002. 260p LINHAS DE PESQUISA 1. PESQUISA APLICADA EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE. 2. Turismo e Cultura em Geografia 3. Geografia, Cultura e Cerrado 4. Geografia das Manifestações Culturais 5. Geografia do Turismo PROJETOS DE PESQUISA 2020 - Atual Ruralidades e sinergias na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) no século XXI Descrição: De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (Brasil, 2010), a população total da Regiao Metropolitana de Goiania-RMG é de 2.173.141 habitantes dos quais 43.067 habitantes estão localizados em áreas rurais. Há contrastes na distribuição deles, que nos revelam um mundo rural bastante diversificado e específico da referida região metropolitana, na qual nos interessa analisar e conhecer as ruralidades presentificadas. Nesta pesquisa reiteramos o entendimento de que espaço rural não se define exclusivamente pela presença de atividade agrícola. É significativa a redução de pessoas ocupadas na agricultura, dado que se associa ao aumento do número de pessoas residentes no campo exercendo atividades não-agrícolas e ao aparecimento de uma camada relevante de pequenos agricultores que combinam a agricultura com outras fontes de rendimento. Neste estudo, nossa análise será voltada às ruralidades .A ruralidade compreendida como uma representação social, definida culturalmente por sujeitos sociais que desempenham atividades não homogêneas e que não estão necessariamente remetidas à produção agrícola. O rural e o urbano se complementam. O objetivo geral é compreender a dinâmica das ruralidades na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) bem como o papel do Estado, do mercado e das sinergias no processo de produção do espaço metropolitano, no século XXI.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2018 - Atual Povos subalternos nos territórios delimitados pelo governo federal no Amapá e presenças nos planos de desenvolvimento estadual Descrição: Este projeto foca os assentados, os negros e indígenas como povos subalternos adotando a concepção de Spivak (1998, p.12) para quem o termo subalterno descreve “as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante.”A concepção de subalternidade é, assim, uma leitura critica da sociedade, neste caso, do Amapá, estado brasileiro a ter todas as terras indígenas demarcadas. Na faixa de terras que se estende do estado do Amapá ao norte do Pará, há 8 terras indígenas demarcadas – sendo 7 homologadas – onde se distribuem, atualmente, 10 grupos indígenas Galibi Marworno, Palikur, Karipuna, Galibi do Oiapoque, Wajãpi, Aparai, Wayana, Tiriyó, Katxuyana e Zo’é. No caso da população negra o primeiro foco de povoamento essencialmente para o Amapá, com inclusão do negro, aconteceu a partir de 1771. Da herança colonial, surgiram diversas vilas, principalmente nos municípios de Mazagão, Macapá, Santana e Calçoene, sendo a base da economia desses lugares a agricultura e a criação de animais para a subsistência. Há 30 anos que Amapá tornou-se politicamente um estado, o que estimulou-se reflexões sobre sua nova realidade buscando ainda alternativas econômicas compatibilizando-as com a proteção ao seu patrimônio natural e com sua comunidade autóctone. Diante desta intencionalidade declarada cabe alguns questionamentos: Assim, nosso problema é: As políticas propostas pelo estado do Amapá denotam um reconhecimento para com as especificidades culturais das comunidades negras e indígenas e assentados e, qual rebatimento que elas tiveram social e economicamente entre os subalternos. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Maria Geralda de Almeida - Coordenador. 2016 - Atual Cartografia das Paisagens Turísticas das Savanas Brasileiras e Moçambicanas Descrição: A despeito do enorme potencial para as modalidades de turismo ligadas à natureza, como o ecoturismo, o turismo de aventura, o turismo rural, entre outras, as paisagens das savanas brasileiras ainda são pouco expressivas nas estatísticas referentes à demanda turística no Brasil, tanto interna quanto externa. O mesmo ocorre em Moçambique, ainda que na África como um todo a região das savanas atraia grande número de turistas, especialmente estrangeiros, interessados em viagens de aventura e pelo fascínio em relação à grande fauna africana. Tanto no Brasil quanto em Moçambique há carência de registros cartográficos acerca das paisagens das savanas com potencial turístico. Essa, portanto, é a proposta que se apresenta neste projeto, cujas metas envolvem o estabelecimento de uma rede de pesquisa colaborativa em mapeamento de paisagens turísticas, unindo pesquisadores do Brasil e de Moçambique, com intuito de promover a cooperação científica e tecnológica e o intercâmbio científico-cultural, com vistas a se desenvolver uma proposta teórico-metodológica acerca da cartografia de paisagens turísticas, definindo parâmetros de identificação (inventário), de avaliação (potencialidade turística) e de valoração (interpretação turística).. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2014 - 2018 A mulher rural assentada nos espaços da casa e dos quintais: troca de saberes sobre agroecologia, economia social/criativa e saúde no Vão do Paranã-GO Descrição: O público alvo da pesquisa são mulheres rurais em comunidade tradicionais em áreas limítrofes do ;Cerrado Goiano e Baiano, mais precisamente em um Território da Cidadania em Goiás e na RVS Veredas do Oeste Baiano nas comunidades de Pratudinho e Brejão nos municípios de Cocos e Jaborandi na Bahia. ;comunidades goianas situam-se ao Território da Cidadania do Vão do Paranã, Goiás, mais precisamente nos assentamentos de Simolândia (Projeto de Assentamento Zumbi dos Palmares e PA Simolândia e no município de Posse (Baco Pari comunidade quilombola) e a comunidade de Branquinha. Sabe-se que essas ;comunidades e, sobretudo, as mulheres rurais são detentoras de saberes agroecológicos ligados à rica ;biodiversidade do Cerrado os quais estão sobre forte pressão e erosão da biodiversidade nativa desse ;domínio geoecológico. Saberes estes, adquiridos ao longo de gerações no convívio mais aproximativo das ;paisagens naturais do Cerrado. Assim, essa pesquisa objetiva analisar o papel das mulheres rurais das ;comunidades tradicionais sobre a importância no espaço do quintal para o Cerrado, no que tange a água, a vegetação, a terra, buscando a sua conservação e a valorização da biodiversidade, principalmente, nas ;Unidades de Conservação. Para tanto, faz-se necessário alguns objetivos específicos: 1) Discutir o uso e a ;ocupação dos espaços dos quintais pelo trabalho feminino em relação às estações do ano; 2) Avaliar a ;percepção ambiental das mulheres rurais quanto as paisagens do Cerrado e suas alterações; 3) Mapear os ;saberes das mulheres rurais assentadas e quilombolas sobre espaço do quintal e do Cerrado que ;evidenciem a sua conservação e a valorização, como lugares de produção e aprendizado rumo a ;segurança alimentar; 4) Mapear a Reserva da Biosfera (RESBIO) Goyas no que diz respeito ao território de ;Cidadania do Vão do Paranã e RVS do Oeste Baiano com as imagens de satélite e Veículos Aéreos Não ;Tripulados (VANTs), os aspectos de uso da terra; desmatamento; queimadas; evapotranspiração; produtividade primária líquida; precipitação diária; temperatura de superfície; A metodologia para o ;desenvolvimento desta pesquisa será a abordagem qualitativa pela ciência geográfica com abordagens ;interdisciplinares. Os procedimentos metodológicos do Diagnóstico Rural Participativo (DRP) tais como: mapa falado; mapas mentais, calendário sazonal; diagrama de fluxo; diagrama de VENN e a matriz ;comparativa. Além disso, contará com trabalhos de campo e sobrevôos com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) para melhor diagnóstico e mapeamento das áreas de interesse da pesquisa. As bases ;teóricas dialogam com autores Paul Claval com os estudos de Etnogeografia; Yi-Fu Tuan que discute os lugares e as paisagens por meio da percepção ambiental; Adreu Viola que em sua antropologia enfoca as ;teorias e estudos etnográficos da América Latina o qual elucida o papel da mulher no desenvolvimento da ;economia informal nos países latinos americanos. Tais abordagens visam ressaltar a importância do papel das mulheres rurais tanto no seio familiar como na preservação e conservação dos saberes e da ;biodiversidade do Cerrado. Por último, os resultados esperados almejam elucidar conhecimentos e ;saberes relativos ao modo de vida das mulheres rurais de comunidades tradicionais nas áreas do Cerrado, ;sobretudo, de Unidades de Conservação sobre forte pressão e erosão da biodiversidade nativa desse ;domínio geoecológico. Com isso, almeja-se contribuir com o avanço teórico e metodológico das pesquisas ;relacionadas as questões de gênero que envolvem saberes e conhecimentos relativos aos espaçosdomésticos e aos quintais produtivos como forma de empoderamento das mulheres rurais das ;comunidades tradicionais sobre forte pressão pela modernização da agricultura nos Cerrados brasileiros. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 2014 - Atual Ambiente, Mulher e Cidadania nas Comunidades Tradicionais no Território da Cidadania do Vão do Paranã e da RVS Veredas do Oeste Baiano Descrição: Este projeto busca valorizar as marcas e as funções da mulher rural no espaço e seu papel na construção desse espaço pelos saberes ambientais. Assim, analisar o papel das mulheres rurais das comunidades tradicionais sobre a importância no espaço do quintal para o Cerrado, no que tange a água, a vegetação, a terra, buscando a sua conservação e a valorização pode trazer contribuições cientificas para as ciências humanas (re)pensar as dinâmicas de uso e ocupação do território brasileiro.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2014 - Atual Identidades territoriais e políticas de desenvolvimento territorial e ambiental na Reserva da Biosfera Cerrado –Goiás. Descrição: A pesquisa em tese pretende evidenciar as identidades territoriais e as políticas de desenvolvimento territorial e ambiental, modeladoras das atuais e diversas formas de ocupação, isto é, as paisagens da Reserva da Biosfera do Cerrado. Ela é, resumidamente, uma investigação geral sobre o uso e apropriação do Cerrado, em uma parcela do estado de Goiás interpretada como um mosaico de paisagens culturais/ambientais testemunhas das modificações em curso. Esclarece-se que Reservas de Biosfera são definidas como “áreas de ambiente, representativas, reconhecidas mundialmente pelo seu valor para a conservação ambiental e para o provimento de conhecimento cientifico, da experiência e dos valores humanos com vistas a promover o desenvolvimento sustentável”, nos termos da Unesco (2008) .Por essa sua singularidade consideramos pertinente como área de estudo geográfico... Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2013 - 2017 Mobilidade - Paisagens e Desenvolvimento Local: inventário, análise e estudo comparativo de Chibuto - Moçambique e Goiás - Brasil Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 2013 - 2014 Cartografia dos saberes populares: as festas juninas e natalinas nos estados de Sergipe e Goiás Descrição: Cartografia cultural; paisagens festivas; estudo comparativo entre Sergipe e Goiás. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 2011 - 2014 Região da biosfera goyaz - cultura e turismo: : oportunidades de conhecimentos e propostas de estruturação de novos produtos turísticos Descrição: No âmbito desta proposta objetiva-se colaborar para a manutenção da Reserva da Biosfera-Bioma Cerrado, valorizando o seu potencial turístico, quanto as suas belezas paisagísticas e das culturas tradicionais das populações locais. Tem-se como objetivo geral inventariar as potencialidades turísticas existentes e propor novos produtos turísticos a partir da interação de roteiros ecoturísticos e culturais na Reserva da Biosfera Goyaz. Para que a presente proposta tenha sucesso, foram traçados como objetivos específicos a serem alcançados no decorrer da presente proposta as atividade de: Efetuar uma análise critica sobre as políticas sociais e ambientais que afetam as atividades turísticas. Realizar a ordenação de unidades de paisagem de elevado valor para o ecoturismo e valorização cultural, com suporte de técnicas de geoprocessamento e atividade de campo; Inventariar e sistematizar as informações de valores culturais e paisagísticos através de uma documentação cartográfica; Caracterizar as trilhas interpretativas quanto ao seu potencial turístico analisando, seus valores cênicopaisagísticos e culturais; Produzir um material de apoio aos visitantes e aos poderes administrativos locais com a confecção do mapa interativo de trilhas interpretativas e a participação da comunidade local. Avaliar a capacidade de carga turística das trilhas interpretativas, elaborando um zoneamento quanto à fragilidade ambiental das mesmas. Realizar oficinas para socializar os conhecimentos, visando a interação e formação de futuros condutores de visitantes nas comunidades. Organizar eventos que promovam articulações entre as instituições envolvidas na rede, bem como, outras locais e nacionais. Instrumentalizar os laboratórios das instituições da rede de pesquisa no intuito de contribuir com a formação de futuros pesquisadores e apoio de futuras pesquisas sobre a temática. Divulgar os resultados parciais em eventos locais e nacionais. Divulgar os resultados em forma de artigos.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 2011 - 2011 Troca de saberes no Cerrado: ecologia, valorização dos quintais, segurança alimentar e cidadania nas comunidades Kalunga em Teresina de Goiás Descrição: A área para o desenvolvimento do projeto situa-se na região da Serra Geral, vale do rio Paranã, em Goiás. SIGProj - Página 4 de 35 As atividades de extensão serão desenvolvidas para uma população de remanescentes de quilombos denominada Kalunga, em Teresina de Goiás, nas comunidades de Diadema e Ribeirão. O projeto envolve alunos dos Cursos de Geografia, Engenharia Florestal e de Nutrição e, professores do Instituto de Estudos Sócio-Ambientais (IESA), da Escola de Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos(EA), Faculdade de Nutrição e a população Kalunga. As ações visam a troca de conhecimentos e saberes entre a Universidade e os Kalunga com temáticas ligadas à identidade territorial Kalunga, valorização do cerrado, quintais ecológicos, segurança alimentar e aproveitamento de frutos do cerrado, e do potencial turístico da região; além de discussões relativas ao uso e o acesso à água, à valorização e uso dos recursos florestais. Espera-se obter como resultado uma combinação do saber comum, coletivo com o construído nas relações com o saber científico, buscando construir novos saberes específicos, particulares, mas também universais. E, que esses saberes possam colaborar para o fortalecimento da cidadania da comunidade Kalunga e dos acadêmicos e, do espírito critico dos estudantes para uma atuação profissional cidadã.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 2011 - Atual Projeto Universal: Visões contemporâneas do Cerrado e intersecção de políticas sociais e ambientais - Reserva da Biosfera do Cerrado no norte e nordeste de Goiás Descrição: A pesquisa em tese pretende evidenciar as repercussões das atuais e diversas formas de ocupação do Cerrado (agronegócios, biotecnologias, áreas protegidas, agricultura familiar, etc.) nas relações socioeconômicas e culturais no território face às políticas propostas. Ela é, resumidamente, uma investigação geral sobre os impactos das políticas atuais voltadas para o meio ambiente e para o meio rural para a ocupação do Cerrado e sobre a biodiversidade. Em suma, procura interpretar as modificações do território. Por meio de uma perspectiva reflexiva, busca-se compreender o dinamismo do uso e gestão do Cerrado e a diversidade da interpretação da biodiversidade à luz de políticas governamentais concebidas para áreas de Cerrado.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2010 - Atual Visões contemporâneas do cerrado e intersecção de politicas sociais e ambientais – Reserva da Biosfera do Cerrado no norte e nordeste de Goiás Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2010 - Atual Conhecimento Popular e as Práticas SocioCulturais - Biodiversidade e Visões Contemporâneas do Cerrado Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2008 - 2014 Pró-cultura: A Dimensão territorial das festas populares e do turismo:estudo comparativo do patrimônio imaterial em Goiás,Ceará e Sergipe Descrição: ste Grupo de pesquisa tem como objetivo discutir a cultura que por se tratar de um fenômeno dinâmico, necessita ser constantemente analisado, o patrimônio imaterial que é um fator de desenvolvimento econômico e de cidadania. Constitui uma proposta de estudo comparativa, e por isso será desenvolvido em três estados. Propomos a elaboração de um Atlas, no intuito de fazer com que as manifestações culturais tenham maior valorização e visibilidade como patrimônio.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 2008 - 2012 Biotecnologias e a gestão participativa da biodiversidade: estudos de caso de intituições, conhecimento popular e saberes locais na Caatinga e no Cerrado brasileiro Descrição: O presente projeto objetiva pesquisar a utilização das biotecnologias no Cerrado e na Caatinga, sua interferência na preservação na biodiversidade desses dois biomas no que diz respeito à cana de açúcar (biocombustível), organismos geneticamente modificados e produção da soja, além de discutir os diferentes reflexos do uso da natureza na cultura local. Por meio de uma perspectiva reflexiva, busca-se compreender entre as diversas concepções existentes, a visão que as populações do cerrado e da caatinga possuem da biodiversidade como resultante de uma cultura particular, na apropriação do território, no conhecimento local e conservação. Essa pesquisa fará uso da investigação qualitativa, em que haverá a necessidade do estudo de caso investigativo e interpretativo. Para tanto a coleta de dados será essencialmente necessária. Para apresentar as biotecnologias e a gestão participativa da biodiversidade na caatinga e no cerrado necessitará um levantamento e análise de referenciais bibliográficos que dêem sustentação teórica metodológica para esclarecer a problemática existente.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 2008 - Atual As identidades sociais e suas e suas formas de representações subjacentes nas práticas culturais. Descrição: Este projeto busca compreender as representações enquanto fatores constituintes e constituidores de identidades sociais. Ele está organizado por meio de três abordagens fundamentais: Goiânia: representações e identidades da cidade; a importância do ensino de geografia na materialização da identidade goiana; e, as identidades culturais do Estado de Rondônia Pará e Tocantins a partir das representações espaciais. A realização de estudos que abordam as representações como elemento construtivo da identidade e representações, justifica a relevância desta investigação. A identidade é formada por um conjunto de elementos, próprios de determinado grupo social, identificados pela maneira como esse grupo se relaciona com o mundo. Esta concepção teórica permeia os três subprojetos que constituem esta pesquisa. O primeiro tem o propósito de analisar a complexidade do processo de formação do Estado de Rondônia, por meio dos processos de colonização, que redundaram em formas diversificadas de apropriação do espaço geográfico e constituição das identidades. O segundo subprojeto se preocupa em averiguar se as representações sobre Goiânia se caracterizam em múltiplas identidades para a cidade e seus habitantes. O terceiro subprojeto, por sua vez, relacionado às práticas educativas, tem o propósito de investigar as contribuições da educação na construção dos atributos identitários das cidades. Os subprojetos serão desenvolvidos com bases nos princípios da pesquisa qualitativa e participativa e a aplicabilidade de procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica e documental, pesquisa de campo, observações, história de vida, entrevistas, análise discursiva e registro de caderno de campo. Nessa perspectiva, esta proposta de pesquisa tem como objetivo contribuir com as leituras que abordam o processo de construção e representação de identidades a partir das imagens, representações e práticas culturais e educacionais expressos nos modos de vida, nas subjetividades e nos sentimentos de pertencimentos d. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2007 - 2010 Festas: apropriação e gestão patrimonial para o turismo em Goiás Descrição: As manifestações culturais de maior visibilidade têm se transformado em importante instrumento para alavancar o desenvolvimento local e regional e estimular atividades relacionadas ao turismo, O turismo cultural/religioso como estratégia de desenvolvimento também contribui para uma maior visibilidade do patrimônio cultural, com é o caso das festas, visto que, através da atividade turística reafirma as identidades locais ao promover uma oferta diferenciada, baseada em representações decorrentes do resgate da memória da comunidade local. São as festas ligadas principalmente às influências cristãs e africanas para as quais direcionaremos nossa análise. Selecionamos as manifestações a partir dos seguintes critérios: - As mais representativas da diversidade cultural do Estado de Goiás; - Aquelas que marcam presença no calendário turístico; - Aquelas passíveis de se transformarem em um importante produto turístico. Entre as manifestações selecionadas estão: - Festa do Divino de Pirenópolis considerando as Folias do Divino e as Cavalhadas; - Procissão do Fogaréu e Folias urbanas na Cidade de Goiás; - Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Catalão as Congadas; - Festa do Divino Pai Eterno de Trindade as peregrinações; - Festa do Muquém de Niquelândia e Colinas do Sul considerando as peregrinações e folias rurais. - Folias urbanas em Goiânia. - Festas de padroeiros. O projeto se subdividem em 5 subprojetos: 1) Apropriação do Patrimônio Cultural pelo Turismo 2) Cartografia do Patrimônio Ambiental relacionado às Festas e Romarias em Goiás 3) Políticas Culturais em Goiás: o papel da AGEPEL na representação da Cultura Goiana 4) A Dimensão Territorial e Cultural das Festas 5) Festas de padroeiros 6) Galícia: estudo de turismo cultural e a contribuição para o fortalecimento do turismo em Goiás. Este quinto subprojeto visa estabelecer a comparação e apoio com a Espanha e envolvera todas instituições do pacto de cooperação. Devido à complexidade do tema: cultura, pa. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2001 - 2011 Conhecimento etnográfico de comunidades tradicionais do cerrado PROJETOS DE EXTENSÃO 2016 - Atual A Mulher Rural Assentada: Troca de Saberes sobre Ambiente, Agroecologia nos quintais e ensinamentos para Economia Social - Vão do Paranã - GO Descrição: A área para o desenvolvimento do projeto situa-se na região do vão do Paranã, Goiás, mais ;precisamente nos assentamentos de Bacupari em Posse (GO), do Agrovila, Cintia Peter e Capim de ;Cheiro, em Mambaí (GO). As atividades de extensão serão desenvolvidas, tendo como foco, as ;mulheres dos assentamentos mencionados, as quais são representantes singulares, tanto da luta ;campesina, quanto do cuidado com o lar e a família. Este projeto envolve alunos dos cursos de ;Geografia, Engenharia Florestal, Ciências Ambientais e de Agronomia e, professores do Instituto de ;Estudos Socioambientais (IESA), da Escola de Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos EA). As ações visam: a troca de conhecimentos e saberes entre a Universidade e as assentadas como ;temáticas ligadas à valorização dos quintais agroecológicos para o Cerrado, economia solidária/social, segurança alimentar familiar e aproveitamento de frutos, valorização e uso dos ;recursos florestais, por meio da produção de mudas, além de cursos que proporcionem a discussão ;sobre as questões de gênero e políticas públicas para mulheres; e oficinas práticas, como a ;produção de mudas, de doces, geleias e compostagem, o que poderá contribuir com a renda ;familiar.; Espera-se obter como resultado uma combinação do saber comum, coletivo com o construído nas ;relações com o saber científico, buscando construir novos saberes específicos, particulares, mas; também universais. E, que esses saberes possam colaborar para o fortalecimento dos assentamentos e dos acadêmicos e, do espírito crítico dos estudantes para uma atuação profissional cidadã.. Situação: Em andamento; Natureza: Extensão. PRÊMIOS E TÍTULOS 2016 - Homenagem pela contribuição à Geografia Agrária, ENGA - Encontro Nacional de Geografia Agrária. 2015 - Homenagem pela contribuição à Geografia, IESA - Instituto de Estudos Socioambientais (UFG). 2014 - Presidente distinguida na coordenação da ANPEGE, ANPEGE - Associação Nacional de Pós Graduação em Geografia. 2011 - Homenagem por tutoria no PET, Universidade Federal do Ceará - Departamento de Geografia. INTEGRAÇÃO EM REDES NEER- Núcleo de Estudos sobre Espaço e Representações. 24 participantes/ pesquisadores de 17 instituições brasileiras. RETEC- Red internacional de estúdios de território y cultura.- Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, França, México, Peru,Venezuela RELISDETUR- Red latinoamericana de innvestigadores en desarrollo y turismo- Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México. RIEF - Red Internacional de Investigadores en Estudios de Fiesta, Nación y Cultura. RIEF-. Una Red con más de 150 investigadores de varias naciones . GI-1871: Grupo de Investigación de Análises Territorial, da universidad de Santiago de Compostela-Espanha. PROFESSORA VISITANTE 1-Canadá. –Montreal- Université de Quebec-Departément de Géographie. 4 meses. 2003 2-Argentina-Mendoza- Universidad de Cuyo-Programa AUGM.2012 3-México- Xoximilco- Universidad Autonoma Metropolitana do Mexico-Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. 2012 4-Colombia-Manizales Universidad de Caldas –Doctorado en Estudios Territoriales , desde 2009 a cada dois anos.. 5- Colombia- Rioacha- Universidad de Guajira- 2018. COORDENAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO a) Inicio em 2016- A Mulher Rural Assentada: Troca de Saberes sobre Ambiente, Agroecologia nos quintais e ensinamentos para Economia Social - Vão do Paranã - GO b) Desde 2010- Visões contemporâneas do cerrado e intersecção de politicas sociais e ambientais – Reserva da Biosfera do Cerrado no norte e nordeste de Goiás c) Inicio em 2010- Conhecimento Popular e as Práticas Socioculturais - Biodiversidade e Visões Contemporâneas do Cerrado COORDENAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA 1-2011- Troca de saberes no Cerrado: ecologia, valorização dos quintais, segurança alimentar e cidadania nas comunidades Kalunga em Teresina de Goiás 2-2011 a 2014 - Região da biosfera goyaz - cultura e turismo: oportunidades de conhecimentos e propostas de estruturação de novos produtos turísticos 3- 2014- Cartografia dos saberes populares: as festas juninas e natalinas nos estados de Sergipe e Goiás 4- 2013 a 2017- Mobilidade - Paisagens e Desenvolvimento Local: inventário, análise e estudo comparativo de Chibuto - Moçambique e Goiás – Brasil. 5- Desde 2014- Ambiente, Mulher e Cidadania nas Comunidades Tradicionais no Território da Cidadania do Vão do Paranã e da RVS Veredas do Oeste Baiano 6- 2014 atual .Identidades territoriais e políticas de desenvolvimento territorial e ambiental na Reserva da Biosfera Cerrado –Goiás. 7- 2014- 2018- A mulher rural assentada nos espaços da casa e dos quintais: troca de saberes sobre agroecologia, economia social/criativa e saúde no Vão do Paranã-GO 8- Desde 2018 -Povos subalternos nos territórios delimitados pelo governo federal no Amapá e presenças nos planos de desenvolvimento estadual 9- 2020- Ruralidades e sinergias na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) no século XXI 10. 2021- Paisagens Culturais e políticas de desenvolvimento territorial e ambiental na Reserva da Biosfera de Goyaz.. LIVROS ORGANIZADOS E PUBLICADOS ALMEIDA, MG et al. Geografia sociocultural uma trilogia, no prelo. ALMEIDA, M. G.. Território de tradições e de festas. 1. Curitiba. ed: UFPR, 2018. ALMEIDA, M. G.. Geografia Cultural - Um modo de ver. 1. ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2018. v. 1. 384 p . ALMEIDA, M. G.; SILVA, M. A. V. (Org.) ; TORRES, M. A. C. (Org.) ; D`ABADIA, M. I. V. (Org.) ; CURADO, J. G. T. (Org.) . Manifestações Religiosas Populares em Goiás: Atlas de festas católicas. 2. ed. Anápolis: UEG, 2018. ALMEIDA, M. G.; CURADO, J. G. T. ; TEIXEIRA, M.F. ; MOTA, Rosiane Dias ; MARTINS, L. N. ; MOREIRA, J. F. R. ; SOUZA, A. F. G. ; LIMA, R. S. ; TORRES, R. P. A. ; BONJARDIM, S.G.M. . Atlas das celebrações : as festas dos ciclos junino e natalino em Goiás e Sergipe. 1. ed. Aracajú: Instituto Banese, 2016. v. 1. 92 p . ALMEIDA, M. G.; MOTA, R. D. (Org.) ; BRITO, E. P. (Org.) ; MACHANGUANA, C. A. (Org.) ; RIGONATO, Valney Dias (Org.) ; RIBEIRO, G. G. (Org.) ; SILVA, R. G. (Org.) ; SANTOS, S. A. (Org.) . Paisagens e Desenvolvimento Local: Imagens sobre Chibuto, Moçambique. 1. ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 78 p . ALMEIDA, M. G.. O Território e a comunidade Kalunga: Quilombolas em diversos olhares. 1. ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 329p . DE ALMEIDA, MARIA GERALDA; RIGONATO, V. D. ; BRITO, E. P. ; MACHANGUANA ; ARGENTINA, I.(orgs) . Aprendizado participativo em Chibuto-Gaza. 1. ed. Goiânia: Kelps, 2015. 56 p . CURADO, J. G. T. (Org.) ; BRETAS, I. F. (Org.) ; SILVA, M.A. (Org.) ; D`ABADIA, M. I. V. (Org.) ; ALMEIDA, M. G. (Org.) ; PAULA, M. V. (Org.) ; MOURA, M. R. P. (Org.) BARBOSA, R R.(Org.) ; MOTA, R. D. (Org.) . Atlas de festas populares de Goiás. 1. ed. goiania: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 125 p . ALMEIDA, M. G.; ARRAIS, T. A. (Orgs.) . É geografia, é Paul Claval. 1. ed. Goiânia: UFG, 2013. 176 p . ALMEIDA, M. G.; MAIA, C. E. S. (Org.) ; LIMA, L. N. M. (Org.) . Manifestações do Catolicismo. 1. ed. Goiânia Goiás: LABOTER/FUNAPE, 2013. 998 p . ALMEIDA, M. G.; TEIXEIRA, Karla A. (Org.) ; ARRAIS, T. P. A. (Org.) . Metrópoles: Teoria e pesquisa sobre a dinâmica metropolitana. 1. ed. Goiânia: Cânone, 2012. 152p . COSTA, J. J. (Org.) ; SANTOS, C. O. (Org.) ; SANTOS, M. A. (Org.) ; ALMEIDA, M. G. (Org.) ; SOUZA, Rosemeri Melo e (Org.) . Questões geográficas em debate. 1. ed. Sao Cristóvão: UFS, 2012. DE ALMEIDA, MARIA GERALDA. Trocas de saberes no Cerrado, valorização dos quintais, segurança alimentar e cidadania nas comunidades kalunga em Teresina de Goiás. 1. ed. Goiânia: IESA/FUNAPE/UFG, 2012. 31 p . ALMEIDA, M. G.; CRUZ, B. N. (Orgs.) . Território e Cultura - inclusão e exclusão nas dinâmicas socioespaciais. Goiânia: CEGRAF-UFG, 2009. 256 p . ALMEIDA, M. G.. Territorialidades na América Latina. 1. ed. Goiânia: Cegraf UFG, 2009. 240 p . ALMEIDA, M. G.; CHAVEIRO, Eguimar Felício (Org.) ; BRAGA, Helaine da Costa (Org.) . Geografia e Cultura - os lugares da vida e a vida dos lugares. 1. ed. , 2008. v. 1. 313 p . ALMEIDA, M. G..(orgs) Tantos Cerrados: múltiplas abordagens sobre a biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira, 2005. 321p . ALMEIDA, M. G.; RATTS, Alecsandro J P (Orgs.) . Geografia Leituras Culturais. Goiânia: Alternativa, 2003. v. 1500. 286 p . ALMEIDA, M. G.. Paradigmas do Turismo. 1. ed. Goiânia: Editora Alternativa, 2003. 176 p . ALMEIDA, M. G.. Abordagens Geográficas de Goiás: o natural e o social na contemporaneidade. CDU. ed. Goiânia: IESA - CEGRAF UFG, 2002. 260p ARTIGOS ( 113 artigos desde 1986. Em 2020 e 2021) 1.ALMEIDA, M. G.; MENEZES, S. S. M. . Pamonha, Alimento Identitário e Territorialidade. MERCATOR (FORTALEZA. ONLINE), v. 20, p. 1-15, 2021. 2.ALMEIDA, M. G.. O Caminho de Cora Coralina - Turismo Literário ou Marketing do Turismo?. REVISTA SAPIÊNCIA: SOCIEDADE, SABERES E PRÁTICAS EDUCACIONAIS, v. 9, p. 237-249, 2020. 3.FREITAS, J. S. ; ALMEIDA, M. G. . As (Não)Representações da Paisagem no Movimento Cubista: percursos e inquietações geográficas nas pinturas de Albert Gleizes. Caminhos da Geografia (UFU. Online), v. 21, p. 87-107, 2020. 4.ALVES, E. C. ; ALMEIDA, M. G. ; SILVA JUNIOR, A. R. . GEOPOESIA E TERRITÓRIO: A CONSTITUIÇÃO DAS IDENTIDADES KALUNGA EM MIMOSO - TO. REVISTA GEONORDESTE, v. 1, p. 93-110, 2020. 5.MOREIRA, JORGEANNY DE FÁTIMA R. ; DE ALMEIDA, MARIA GERALDA . Turismo y desarrollo en la Comunidad Quilombola de Engenho II en Cavalcante, Goiás, Brasil. ANALES DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, v. 40, p. 115-133, 2020. 6. SOUZA JUNIOR, C. R. B. ; ALMEIDA, M. G. . Geografias criativas: afinidades experienciais na relação arte-geografia. SOCIEDADE & NATUREZA (UFU. ONLINE), v. 32, p. 484-493, 2020. 7.ALMEIDA, M. G.. Povos indígenas, identidades territoriais e territorialidades fragilizadas no norte do Amapá, Brasil. Ateliê geográfico (UFG), v. 14, p. 91-111, 2020. 8.ALMEIDA, M. G.; MACHANGUANA . UKANYI E GWAZA MUTINE- FESTEJOS CULTURAIS E IDENTITÁRIOS EM MAPUTO E GAZA - MOÇAMBIQUE. GEO UERJ (2007), p. e53911-e53924, 2020. 9.ALMEIDA, M. G.. O geógrafo fenomenólogo: sua oralidade e escrita no/do mundo. Geograficidade, v. 10, p. 38-47, 2020. 10.ALMEIDA, MARIA GERALDA DE. Paisagens e Desenvolvimento Local: inventário, análise e estudo de Chibuto (Moçambique). IBEROGRAFIAS: REVISTA DE ESTUDOS IBÉRICOS, v. 16, p. 223-232, 2020. 11.GONCALVES, L. R. F. ; ALMEIDA, M. G. . Identidade Territorial e Discursos Ideológicos. BOLETIM DE GEOGRAFIA (ONLINE), v. 38, p. 18-32, 2020. 12.FARIA, K. M. S. ; ALMEIDA, M. G. . O discurso e a prática do Ecoturismo na visão desenvolvimentista em Comunidades de Quilombolas em Goiás, Brasil. CONFINS (PARIS), v. 48, p. 1-15, 2020. 13 MESQUITA, L. P. ; ALMEIDA, M. G. . Vender, comprar, trocar e socializar: a participação das mulheres nas feiras de Mambaí e Posse no estado de Goiás, Brasil. CONFINS (PARIS), v. 48, p. 1-8, 2020. CAPITULOS DE LIVROS - SELECIONADOS 1 ALMEIDA, M. G.. A presença da Geografia Cultural na Pós-Graduação em Geografia NPPGEO Universidade Federal de Sergipe. In: MENEZES, Sonia.S.M. PINTO, Josefa.E.S.S.. (Org.). Geografias e geograficidades: escolhas, trajetórias e reflexões. 1ed.São Cristóvão: UFS, 2020, v. , p. 89-110. 2.MOREIRA, J. F. R. ; ALMEIDA, M. G. . Comunidades, territorios y turismo en América Latina. In: Lilia Zizumbo Villarreal; Neptalí Monterroso Salvatierra. (Org.). Comnunidad Tradicional Remanente Del Quilombo Y La Actividad Turística Para El Desarrollo En El Engenho II - Cavalcante - Goiás - Brasil. 1ed.México, D.F.: Editorial Torres Asociados, 2020, v. , p. 1-485. 3.SOUZA JUNIOR, C. R. B. ; ALMEIDA, M. G. . Geopoéticas do Lugar nas Margens dos Rios Paraopeba e Loire: Artes (Contemporâneas) de Habitar a Terra. In: DOZENA, Alessandro (Org.).. (Org.). Geografia e Arte. 1ed.Natal: Caule de Papiro, 2020, v. 1, p. 95-140. 4.RIGONATO, Valney Dias ; ALMEIDA, MARIA GERALDA DE . R-existências dos Geraizeiros Baianos e o Front do Agro-Energia-Negócios: Comunidades Geraizeiras do Baixo Vale do Rio Guará, São Desidério, na Mesorregião do Extremo Oeste da Bahia. In: Josefa de Lisboa Santos; Eraldo da Silva Ramos Filho; Laiany Rose Souza Santos. (Org.). Ajuste Espacial do Capital no Campo: questões conceituais e R-existências. 1ed.Aracaju: ArtNer Comunicação, 2019, v. 1, p. 61-82. 5. ALMEIDA, MARIA GERALDA DE. Observar e entender o lugar rural: trilhas metodológicas. In: MUNDIM VARGAS, M. A.; SANTOS, D; L; VILAR, J. W. C; OLIVEIRA, E. A.. (Org.). Tempos e Espaços da Pesquisa Qualitativa. 1ed.Aracaju: IFS, 2019, v. 1, p. 45-70. 6. ALMEIDA, M. G.. Observar e entender o lugar rural: Trilhas metodológicas. In: MUNDIM VARGAS, M. A.; SANTOS, D; L. (Org.). Tempos e Espaços da Pesquisa Qualitativa. 1ed.Aracaju: Criação Editora, 2018, v. 1, p. 45-. 7.ALMEIDA, M. G.; MOURA, M. R. P. ; SILVA, M. A. V. ; BRETAS, I. F. ; D`ABADIA, M. I. V. ; MOTA, R. D. . Vamos Festar! Festas populares em Goiás. In: MARIA GERALDA DE ALMEIDA. (Org.). Territórios de Tradições e de Festas. 1ed.CURITIBA: UFPR, 2018, v. 1, p. 93-108. 8. MACHANGUANA, C. A. ; ALMEIDA, M. G. . Ukanyi, Festejos, patrimônio e celebrações em Maputo e Gaza - Moçambique: proposta para um roteiro turístico rural. In: Sarmento, Cristina Montalvao; Guimarães, Pandora; Moura, Sandra. Associacao das universidades de lingua portuguesa (AULP). (Org.). Patrimônio histórico do espaço lusofono - ciência, arte e cultura. 1ed.Lisboa, Portugal: Europress, 2018, v. 1, p. 1-12. 9. MARQUES, A. C. N. ; ALMEIDA, M. G. . "Vivendo entre lugares": preâmbulos sobre a trajetória dos grupos étnicos no Litoral Sul, Paraíba - Brasil. In: ETEC - Red Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura; TERRITORIALIDADES, Grupo de Investigação.. (Org.). Paisajes productivos y desarrollo económico territorial: conflictos culturales, económicos y políticos. 1ed.Manizales: Universidade de Caldas,Colombia, 2016, v. , p. 211-232. 10.ALMEIDA, M. G.. A valorização da paisagem turística e os conflitos sociais e econômicos no/do território afro descendente Kalunga - Goiás - Brasil. In: RETEC - Red Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura; TERRITORIALIDADES, Grupo de Investigação.. (Org.). Paisajes productivos y desarrollo económico territorial: conflictos culturales, económicos y políticos. 1ed.Manizales: Universidade de Caldas,Col,ombia 2016, v. 1, p. 233-253. 11. ALMEIDA, M. G.. Sentimentos e representaçoes nas tessituras de paisagem e patrimonio. In: Lilia Zizumbo Villarreal; Neptali Monterroso Salvatierra. (Org.). La Configuración Capitalista de Paisajes Turísticos. 1ed.Cidade do México: Editora da Universidad Autónoma del Estado de México, 2015, v. , p. 1-. 12. ALMEIDA, M. G.. As espacialidades do patrimonio festivo, e ressignificações contemporâneas no Brasil, Colombia e no México. In: Romancini, Sonia Regina; Rossetto, Onélia Carmem; Nora, Giseli Dalla. (Org.). Neer - as representações culturais no espaço: perspectivas contemporâneas em geografia. 1ed.Porto Alegre - RS: Editora Imprensa Livre, 2015, v. 1, p. 106-138. 13. MARTINS, L. N. ; ALMEIDA, M. G. . Encontros e distanciamentos entre a religiosidade kalunga e o catolicismo oficial: um olhar para as singularidades do lugar na festa de Nossa Senhora Aparecida. O Território e a comunidade Kalunga: Quilombolas em diversos olhares. 1ed.Goiânia: Gráfica UFG, 2015, v. 1, p. 279-304. 14. ALMEIDA, M. G.. Os territórios e identidades dos Kalunga de Goiás. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). O Território e a comunidade Kalunga: Quilombolas em diversos olhares. 1ed.Goiânia: Gráfica UFG, 2015, v. 1, p. 45-68. 15. ALMEIDA, M. G.. Agroecological sites as expressions of territorial identities and as perspectives to the traditional marginal populations development. Sustainable development in peripheral regions. 1ed.Warsaw: Publishing House of University of Warsaw, Polonia, 2015, v. 1, p. 75-92. 16. ALMEIDA, M. G.. Festas Rurais Tradicionais: novas destinações turísticas?. In: Artur Cristóvão; Xerardo Pereiro; Marcelino de Souza; Ivo Elesbão. (Org.). Turismo rural em tempos de novas ruralidades. 1ed.Porto Alegre: UFRGS, 2014, v. , p. 123-147. 17. ALMEIDA, M. G.. Etnodesenvolvimento e Turismo nos Kalunga do Nordeste de Goás. In: Ismar Borges de Lima. (Org.). ETNODESENVOLVIMENTO E GESTÃO TERRITORIAL: comunidades indígenas e quilombolas. 1ed.Curitiba: EDITORA CRV, 2014, v. 1, p. 195-212. 18. VIEIRA, L. V. L. ; ALMEIDA, M. G. . Conflitos Ambientais no litoral norte de Sergipe. In: José Wellington Carvalho Vilar; Lício Valério Lima Vieira. (Org.). Conflitos Ambientais em Sergipe. 1ed.Aracaju: IFS, 2014, v. , p. 11-. 19. MENEZES, S. DE S. M. ; ALMEIDA, M. G. . Reorientações produtivas na divisão familiar do trabalho: papel das mulheres do Sertão do Sâo Francisco (Sergipe) na produção do queijo de coalho.. In: Delma Pessanha Neves; Leonilde Servolo de Medeiros. (Org.). Mulhers camponesas: trabalho produtivo e engajamentos politicos.. 1ed.Niterói: Alternativa, 2013, v. 1, p. 129-146. 20. ALMEIDA, M. G.. O Catolicismo Popular e as Festas Religiosas das Comunidades Quilombolas Kalunga: Singularidades de um espaço camponês. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). Manifestações do Catolicismo. 1ed.Goiânia: Funape, 2013, v. , p. 399-419. 21. TAVARES, M. E. G. ; ALMEIDA, M. G. . Fronteiras Étnico-Raciais - O Negro na Formação da Cultura Tocantinense. In: Roberto de Souza Santos. (Org.). Território e Diversidade Territorial no Cerrado: Cidades, Projetos Regionais e Comunidades Tradicionais. 1ed.Goiânia: Kelps, 2013, v. 1, p. 211-232. 22. ALMEIDA, M. G.. Sentidos das Festas no Território Patrimonial e Turístico. In: COSTA, Everaldo Batista da; BRUSADIM, Leandro Benedini; PIRES, Maria do Carmo. (Org.). Valor patrimonial e turismo: limiar entre história, território e poder. 1ed.São Paulo: Outras Expressões, 2012, v. , p. 157-171. 23. ALMEIDA, M. G.. Fronteiras sociais e identidades no território do complexo da usina hidrelétrica da Serra da Mesa-Brasil. In: Francine Barthe-Deloizy; Angelo Serpa. (Org.). Visões do Brasil: Estudos culturais em Geografia. 1ed.Salvador BA: EDUFBA; Edições L'Harmattan, 2012, v. , p. 145-166. 24. ALMEIDA, M. G.; Identidades territorias em sítios patrimonializados: comunidades de quilombola, os kalungas de Goiás. In: Izabela Tamaso e Manuel Ferreira Lima Filho. (Org.). Antropologia e Patrimônio Cultura: trajetória e conceitos. 1ed.Brasília - DF: ABA- Associação Brasileira de Antropologia, 2012, v. único, p. 245-263. 25. ALMEIDA, M. G.. Territorialidades em territórios mundializados - os imigrantes brasileiros em Barcelona-Espanha.. In: OLIVEIRA, V.;LEANDRO, E. L.; AMARAL, J. J. O.. (Org.). Migração > Múltiplos Olhares. Porto Velho: Editora da Un. Fed. de Rondônia, 2011, v. , p. 135-155. 26.ALMEIDA, M. G.. O patrimônio festivo e a reinvenção da ruralidade e territórios emergentes de turismo no espaço rural.. In: SOUZA, M. de.; ELESBÃO, I.. (Org.). Turismo rural - iniciativas e inovações. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2011,. 27. ALMEIDA, M. G.. As tradições reinventadas e pretensões de serem objetos turísticos: a folia de Santo Antônio nos Kalunga - Goiás. In: IGLESIAS, M.C.C.. (Org.). Patrimônio turísticos en Iberoamérica: experiencias de investigación, desarrollo e innovación. 1ed.Santiago de Chile: Ediciones Universidad Central de Chile, 2011, v. , p. 404-414. 28. SOUZA, S. M. ; ALMEIDA, M. G. ; CERDAN, Claire T. . As fabriquetas de queijo e a configuração do territorio queijeiro no Sertão Sergipano do São Francisco-Brasil: enraizamento cultural e inovação. In: François Boucher y Virginie Brun (Coordinadores). (Org.). De la Leche al Queso : Queserías Rurales en América Latina. México, DF: Miguel Ángel Porrúa, 2011, v. , p. 171-198. 29. ALMEIDA, M. G.. A sedução do turismo no espaço rural. In: Eurico de Oliveira Santos; Marcelino de Souza. (Org.). Teoria e prática do turismo no espaço rural. 1ed.Porto Alegre: manole, 2010, v. 1, p. 33-46. 30. ALMEIDA, M. G.. Dilemas territoriais e identitários em sítios patrimonializados: os Kalunga de Goiás.. In: PELÁ, M.C.H; CASTILHO,D.. (Org.). Cerrados: perspectivas e olhares. Goiânia: Editora Vieira, 2010, v. , p. 113-129. 31. ALMEIDA, M. G.. Os cantos e encantamentos de uma geografia sertaneja de Patativa do Assaré. In: Eduardo Marandola Jr.; Lúcia Helena Batista Gratão. (Org.). Geografia e Literatura. Londrina: Editora Campus, 2010, v. , p. -. 32. ALMEIDA, M. G.. Nova "Marcha para o Oeste": turismo e roteiros para o Brasil Central. In: Marília Steinberger. (Org.). Territórios Turísticos no Brasil Central. Brasília: L.G.E Editora, 2009, v. , p. 83-108. 33 ALMEIDA, M. G.. Diáspora: viver entre-territórios. e entre-culturas?. In: Marcos Aurélio Saquet; Eliseu Savério Sposito. (Org.). Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos. 1ed.São Paulo: Expressão Popular, 2009, v. , p. 175-195. 34. ALMEIDA, M. G.. O sonho da conquista do Velho Mundo: a experiência de imigrantes brasileiros no viver entre territórios. In: Maria Geralda de Almeida; Beatriz Nates Cruz. (Org.). Território e Cultura: inclusão e exclusão nas dinâmicas socioespaciais. 1ed.Goiânia: Cegraf UFG, 2009, v. , p. 163-174. 35. ALMEIDA, M. G.. As ambiguidades do ser ex-migrante: o retorno e o viver entre territorios. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). Territorialidades na América Latina. 1ed.Goiânia: Cegraf UFG, 2009, v. , p. 208-218. 36. ALMEIDA, M. G.. Geografia Cultural: contemporaneidade e um flashback na sua ascensão no Brasil.. In: MENDONÇA, Francisco; LOWEN SAHR, Cicilian Luiza; SILVA, Márcia da. (Org.). Espaço e Tempo: Complexidade e desafios do pensar e do fazer geográfico. Curitiba: ADEMADAN, 2009, v. , p. 243-260. 37. ALMEIDA, M. G.. Diversidade paisagística e identidades territorias e Culturais no Brasil sertanejo. In: ALMEIDA, Maria Geralda;CHAVEIRO, Eguimar Felício; BRAGA,Helaine Costa. (Org.). Geografia e Cultura: os lugares da vida e a vida dos lugares. 1ed.Goiânia: Editora Vieira, 2008, v. 01, p. 47-74. 38. ALMEIDA, M. G.. Uma Leitura Etnogeográfica do Brasil Sertanejo. In: Angelo Serpa. (Org.). Espaços Culturais: Vivências, imaginações e representações. Bahia: EDUFBA - Editora da Universidade Federal da Bahia, 2008, v. , p. 313-336. 39. ALMEIDA, M. G.. La política de regiones turísticas en el espacio brasileño. In: Lília Zizumbo Villarreal, Neptalí Monterroso Salvatierra. (Org.). Turismo Rural y Desarrollo Sustentable. Cidade do México: Universidad Autónoma del Estado de México, 2008, v. , p. 11-24. 40. ALMEIDA, M. G.. Desafios e possibilidades de planejar o turismo cultural. In: Giovani Seabra. (Org.). Turismo de Base Local - Identidade cultural e desenvolvimento regional. 1ed.Joao Pessoa: Editora Universitária, UFPB, 2007, v. 1, p. 151-167. 41. ALMEIDA, M. G.. Fronteira de Visoes de Mundo e de Identidades Territoriais- o território plural do Norte Goaino- Brasil. In: Beatriz Nates Cruz; Manuel Uribe. (Org.). Nuevas Migraciones y Movilidades. Caldas: Centro Editorial Universidad de Caldas,Colombia, 2007, v. 1, p. 131-141. 42. ALMEIDA, M. G.. A Produção do Ser e do Lugar Turístico. In: SILVA, José. B.; LIMA, Luiz. C.; ELIAS, Denise. (Org.). Panorama da Geografia Brasileira 1. São Paulo: Anna Blume, 2006, v. , p. 109-122. 43. ALMEIDA, M. G.. Identidade e sustentabilidade em territórios de fronteira no Estado de Goiás-Brasil. In: VALCUENDE DEL RIO, Jose Maria; CARDIA, Lais Maretti. (Org.). Territorialização, Meio-Ambiente e Desenvolvimento no Brasil e na Espanha / Territorialización, médio ambiente y desarollo em Brasil y en España. 00ed.Rio Branco: EDUFAC, 2006, v. 00, p. 185-206. 44. ALMEIDA, M. G.; ANJOS, J. L. ; ANJOS, R. L. C. C. . |Representações da reserva legal em assentamentos rurais no semi-árido sergipano. In: Dalva Maria da Mota; Heribert Schmitz; Helenira E. M. Vasconcelos. (Org.). Agricultura Familiar e abordagem sistêmica. Aracaju: Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção, 2005, v. , p. 145-164. 45. ALMEIDA, M. G.. A captura do Cerrado e a precarização de territórios: um olhar sobre sujeitos excluídos. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). Tantos Cerrados: múltiplas abordagens sobre a biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira, 2005, v. , p. -. 46. ALMEIDA, M. G.. Em busca da poética do sertão: um estudo de representações. In: Maria Geralda de Almeida; Alecsandro J. P. Ratts. (Org.). Geografia: leituras culturais. Goiânia: Alternativa, 2003, v. , p. 71-88. 47. ALMEIDA, M. G.. Lugares turísticos e a falácia do intercâmbio cultural. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). Paradigmas do turismo. Goiânia: Alternativa, 2003, v. , p. 11-19. 48. ALMEIDA, M. G.; DUARTE, Ivonaldo Ferreira . Perspectivas para o desenvolvimento doturismo no norte de Goiás. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). Paradigmas do Turismo. Goiânia: Alternativa, 2003, v. , p. 149-172. 49. ALMEIDA, M. G.. POLÍTICAS PUBLICAS E O DELINEAMENTO DO ESPAÇO TURÍSTICO GOIANO. In: MARIA GERALDA DE ALMEIDA. (Org.). ABORDAGENS GEOGRAFICAS DE GOIAS. 1ed.GOIANIA: EDITORA DA UFG, 2002, v. 1, p. 197-222. 50. ALMEIDA, M. G.. Culture et Territorialité - Le 'Sertão'brésilien Revisité. In: ORSTOM. (Org.). Território y Cultura. Territorios de conflito y cambio socio cultural.. Colombia: Universidad de Caldas, Manizale, 2002, v. , p. 309-324. 51. ALMEIDA, M. G.. Algumas inquietações sobre ambiente e turismo. In: MENEZES, A. V.; PINTO, J. E. S. S.. (Org.). Geografia 2001. 1ed.Aracaju: NPGEO/UFS, 2000, v. , p. 51-64. 52. ALMEIDA, M. G.; COSTA, M. C. L. . Travail, loisir et tourisme: territoire et culture en mutation. L'exemple de Beira-Mar, Fortaleza - Brésil. In: SANGUIN, A. L.. (Org.). Geógraphies et liberté: mélanges en hommage à Paul Claval. 1ed.Paris: L'Harmattan, 1999, v. , p. 337-345 53. ALMEIDA, M. G.; VARGAS, M. A. M. . A Dimensao Cultural do Sertao Sergipano. In: José Alexandre Felizola Diniz; Vera Lúcia Alves França. (Org.). CAPITULOS DE GEOGRAFIA NORDESTINA. ARACAJU: NPGEO/UFS, 1998, v. , p. 469-485. 54.ALMEIDA, M. G.. Turistificacão - Os Novos Atores e Imagens do Litoral Cearense.. In: AGB - ASSOC. GEOGR. BRASILEIROS. (Org.). NORDESTE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ASSOCIAÇÃO DOS GEOGRAFOS. JOAO PESSOA - PB: UFPB - AGB - JOAO PESSOA, 1997, v. , p. 27-36. 55. ALMEIDA, M. G.. Turismo e Os Novos Territorios No Litoral Cearense. In: Adyr B. Rodrigues. (Org.). TURISMO E GEOGRAFIA - REFLEXOES TEORICAS E ENFOQUES REGIONAIS.. SAO PAULO - SP: HUCITEC, 1996, v. , p. 184-190. 56. ALMEIDA, M. G.. Fortaleza: Les Paysages Et La Construction Des Territorialites.. In: ORSTOM. (Org.). ACTES DU COLLOQUE LE TERRITOIRE, LIEN OU FRONTIERE?. PARIS: ORSTOM, 1996, v. , p. -. 57. ALMEIDA, M. G.. A Problematica do Extrativismo e Pecuaria do Estado do Acre.. In: KOHLHEPP, G.; SCHRADER, A.. (Org.). HOMEM E NATUREZA NA AMAZONIA / HOMBRE Y NATURALEZA EN LA AMAZONIA.. TUBINGEN-RFA: TUBINGEN GEOGRAPHISCHE STUDIEN, 1987, v. , p. 222-236
MARIA GERALDA DE ALMEIDA EU, MARIA GERALDA DE ALMEIDA Nasci em 1948, no norte de Minas Gerais, num local que se chama Fernão Dias (povoado), distrito de Brasília de Minas. Uma região considerada do Polígono das secas, área da Sudene. Os meus pais moravam numa fazenda desse município. Minha família era de pessoas que tinham terras, fazendeiros, meu avô era uma liderança política, foi prefeito neste município. Tinha grande influência na região devido ao poder econômico que possuía, além de ser muito bem relacionado com os governadores de Minas Gerais. Estudei em Montes Claros (MG) e fiz o primeiro ano do ensino superior na Faculdade de Filosofia e Letras de Montes Claros, posteriormente transformada na Unimontes e, atualmente ela é uma instituição estadual. No segundo ano eu e mais duas colegas pedimos transferência para a UFMG, por termos interesse em fazer um curso diferenciado e contarmos com o apoio do geógrafo prof. Davi Márcio Rodrigues; ele nos incentivou a transferirmos e fomos aceitas na UFMG. Fiz a licenciatura e o bacharelado e também um curso de licenciatura concentrada que era um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos da América para formar professores para trabalhar em novas escolas de melhor padrão de ensino, consideradas como modelo chamadas Polivalente. O ingresso no curso foi mediante um processo seletivo e como fiquei bem classificada permaneci trabalhando em Belo Horizonte depois de concluído este curso. Atualmente sou aposentada mas, continuo, desta feita vinculada ao Programa de Docente Voluntária na UFG (Universidade Federal de Goiás onde ingressei primeiramente como professora visitante e, no ano seguinte, fiz um concurso para professor titular de Geografia Cultural e Turismo; antes fui docente na Universidade Federal do Ceará, de 1987 até 1998 e como professora efetiva, na Universidade Federal de Sergipe, onde fui visitante, e na Universidade Federal do Acre-Ufac, e comecei de fato a carreira no ensino superior, de 1978 a 1981.Estudar na França, cuja geografia era apresentada como relevante para nós, as vindas de professores franceses nos congressos passou a ser um sonho e arrisquei a tentar uma bolsa pela Embaixada da França no Brasil.Também, ressalto que o fato de Osvaldo Amorim Bueno Filho, estudante em Geografia na UFMG ter ido para França e ter me incentivado a pedir a bolsa de estudos foi um incentivo maior. Pedi demissão da UFAC para fazer o mestrado e o doutorado quando ganhei a bolsa do governo francês, que no ensino de pos-graduação francês correspondia ao DEA e o Doctorat de Troisieme Cycle, na Université de Bordeaux III, no Laboratoire de Géographie Tropicale em Bordeaux.. Meu doutorado foi em Geografia Tropical, concluido em 1985. Em minha tese analisei “ Experiences de colonisation rurale dans l´état d ´Acre, en Amazonie Bresiliènne”, abordando a questão da terra e as lutas e conflitos dos seringueiros face aos pecuaristas que chegavam a partir de 1970. Quero dizer que trabalhando sempre em universidades federais, tive o privilégio de percorrer algumas regiões brasileiras: No Norte, no Nordeste e atualmente estou no Centro-oeste em universidades distintas e o contexto no qual elas estavam foi importante para a minha construção como geógrafa. No Acre, era uma geografia que estava começando, com 70% de professores de outros estados o que propiciou abordagens e concepções diferenciadas para os alunos. Além disso, nós tivemos um envolvimento intenso, nós, professores da Ufac, em movimentos em defesa do meio ambiente, no qual fazíamos palestras e encontros com os seringueiros, convivíamos com eles. E, movimentos sociais, apoiando aqueles que lutavam pelos direitos a moradia, a educação e saúde, atuando junto à Pastoral da Terra. Quando fui para Sergipe, em 1985 já não tinha mais este tipo de preocupação, era outro, mais as identidades culturais no espaço rural. No Ceará me envolvi particularmente com a AGB, que possuía figuras de destaque nacional como o José Borzacchiello da Silva, Vanda Claudino Sales e Maria Clelia Lustosa; fui da diretoria da AGB e integrei cargos e várias comissões da mesma. Estávamos envolvidos com as discussões da Constituinte. Atualmente, desde 2018 estou como pesquisadora sênior na Universidade Federal do Amapá, no projeto Procad/Amazonia. Edital Nº 21/2018. “Construções de Estratégias de Desenvolvimento Regional e as Dinâmicas Territoriais do Amapá e Tocantins: 30 anos de desigualdades e complementaridades” MDR/UNIFAP. .Particularmente, desenvolvo a pesquisa ´”Povos subalternos nos territórios delimitados pelo governo federal no Amapá e presenças nos planos de desenvolvimento estadual” Ressalto que tenho orgulho e satisfação pessoal de ter iniciado minha vida acadêmica ,em uma universidade pública no Acre/Amazônia e, quando caminho para encerra-la retorno novamente a esta região, no estado do Amapá. DESTAQUES NO INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIO-AMBIENTAIS IESA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, DESDE 1998. -participação da fundação do Laboratório dos Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais- Laboter - contribuição na criação da revista A2- Ateliê Geográfico. - organização de 19 livros geográficos . - autoria de um livro. - organização de uma cartilha para Moçambique. -..organização de 2 cartilhas para os Quilombolas- Kalunga. - coordenação de 11-projetos de pesquisa - primeira professora da Geografia-Iesa a coordenar projetos de pesquisa e extensão nos Quilombolas- Kalunga -primeira professora de Geografia-Iesa a pesquisar sobre as festas populares no estado de Goiás - primeira professora Geografia-Iesa a ter um livro, “ Tantos Cerrados” , citado no concurso nacional do Enem. - primeira professora Geografia -Iesa a ser presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia. 2009-2011. DOCÊNCIA NO EXTERIOR Université de Quebec à Montreal (2003) Universidad Autónoma Metropolitana do México, UAM, México (2012), Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM, México. (2012) Universidad Nacional de Cuyo, UNCuyo, Argentina (2013). Universidad de Caldas – Colombia ( 2015 a atual orientação e aulas) Universidad de Guajira- Colombia (2018 e 2020) PERTENCIMENTO A REDES Participa das seguintes redes: NEER- Núcleo de Estudos sobre Espaço e Representações. 18 pesquisadores de 12 instituições brasileiras. RETEC- Red internacional de estúdios de território y cultura.- Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, França, México, Peru,Venezuela RELISDETUR- Red latinoamericana de innvestigadores em desarrollo y turismo- Argentina, Brasil, Chile,Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México. RIEF - Red Internacional de Investigadores en Estudios de Fiesta, Nación y Cultura. RIEF-. Una Red con más de 150 investigadores de varias naciones. GI-1871: Grupo de Investigación de Análises Territorial, da universidad de Santiago de Compostela-Espanha. REFLEXÕES SOBRE A GEOGRAFIA NO BRASIL E NO MUNDO Entrevista de Maria Geralda de Almeida concedida a Claudio Benito O.Ferraz, Flaviana G, Nunes e Edvaldo C. Moretti. Entre-Lugar, Dourados, MS, ano 2, n. 3, 1º semestre de 2011 Universidade Federal da Grande Dourados, p. 170- 178 Atualizada em setembro de 2020 E-L: Os pensadores que considera como importantes para a sua concepção de Geografia? MG: Paul Claval, para mim, é uma referência pela opção de abordagem que tenho - que é pela geografia cultural. Depois dele tem o Denis Cosgrove, geógrafo inglês que faleceu jovem, porém, deixou como legado uma forma de abordar a geografia cultural com uma visão mais crítica, mais reflexiva, centrada na categoria da paisagem. Ainda no campo dos geógrafos que não são brasileiros, têm alguns geógrafos portugueses que considero importantes, como é o caso da professora Ana Francisca Azevedo e do professor João Pimenta, que fazem uma leitura crítica do processo de colonialismo e pós-colonialismo. Estou falando dentro do contexto da geografia ou da abordagem da geografia cultural, mas, logicamente, que não podemos desconsiderar que a geografia brasileira é muito influenciada por Milton Santos; ele conseguiu dar um enfoque inovador para o pensamento geográfico projetando o Brasil e o considero muito importante na geografia de modo geral. E-L: Como analisa a evolução do pensamento geográfico brasileiro a partir dos anos 70 do século XX? MG: Essa evolução melhor que seja analisada no interior do que Renato Ortiz denomina de mundialização e também no contexto das mudanças ocorridas no meio técnico-científico-informacional. Nos anos 70 vamos ter a agudização dos conflitos ideológicos em decorrência da Ditadura Militar e o início do processo de abertura que, para nós Geógrafos, terá o congresso de Fortaleza em 1978 como marco. Ali se expressará com mais força, uma geografia em prol de uma abordagem mais crítica, alimentada pela corrente marxista, contra as posturas de certos geógrafos atuando no planejamento, trabalhando em órgãos governamentais e possuíam uma abordagem quantitativa da geografia. Muitos dizem que a partir daí se estabelece uma crise, mas não sei se a palavra é crise; diria que os geógrafos tomaram consciência do contexto político e assumiram uma postura mais comprometida com as necessidades dos desfavorecidos socialmente. Vejo uma diferença entre esse momento de crítica e o que foi se desdobrando ao longo dos anos 80 e 90, ou seja, o caráter combativo, crítico e politizado que, todavia, foi-se reduzindo no século XXI. Teria certa dificuldade para falar que nós continuamos combativos, que nós continuamos preocupados com os problemas mundiais e se nós estaríamos nos posicionando de forma engajada com as necessidades fundamentais da sociedade diante dos conflitos e crises ambientais, urbanos e dos problemas sociais de modo geral. Penso que é emblemático o que aconteceu nos anos 80, notadamente no interior da AGB, quando se desenvolveu uma crítica muito grande ao que se fazia e ao que se pensava enquanto geografia vinculada aos interesses hegemônicos articulados pelo Estado. Contudo, iniciando no inicio dos anos 80 com o desgaste da Ditadura Militar, e de quase todas as ditaduras latino-americanas, paralelo ao processo de redemocratização social, o qual acabou em grande parte cooptado pelas novas forças e arranjos capitalistas articulados globalmente, isso com certeza influenciou no enfraquecimento do movimento sindical e das organizações sociais. A partir daí, a geografia que vem sendo construída, nos anos 90, desemboca na atual. Penso que existe uma visão de mundo atrelada a um novo enfoque. Onde foram parar aqueles geógrafos militantes e que tinham comprometimento com os problemas da sociedade? A geografia que mudou ou foi nós geógrafos que mudamos a nossa forma de pensar e isso reflete na geografia que estamos fazendo? Vejo que a AGB tinha um papel muito grande, intenso no convite e atuar nesse campo de militância do geógrafo. Contudo, ela mudou, gradualmente, o perfil. Lá na AGB é onde havia os embates, havia, também, os conflitos, as contradições. Penso que a AGB deixou de fazer um pouco o estimulo ao geógrafo militante e a geografia-ação. E-L: Como interpreta a geografia cultural nos demais países, e a brasileira neste contexto? MG: A partir de minha experiência no mestrado e doutorado, percebia a geografia na França refletindo as experiências dos franceses nos países tropicais e como eles se preocupavam em buscar procedimentos para lidar com esta realidade. Depois disso, voltei novamente a França para fazer um pós- -doutorado na geografia cultural, com Augustin Berque, que já tinha uma experiência com o Japão. Nesse outro momento identifiquei a prática de uma geografia cultural ocidental com base em uma filosofia oriental que tentava ler o mundo; e, no meu caso, ver o Brasil, um país tropical, sem uma raiz própria uma vez que havíamos construído a nossa geografia com influências da geografia francesa. Este contato com o professor Berque foi interessante para eu começar a desenvolver uma geografia sensível. Como geógrafa brasileira, tinha facilidade para com esta geografia, mas não me restringi a apenas este contato, pois também tive experiência com Maximo Quaini, na Itália, onde passei um tempo do pós-doutorado. Ele fazia um humanismo marxista. Valorizava muito o romper com aquele marxismo mais ortodoxo e colocara o homem com um interlocutor importante para estabelecer aquela leitura da desigualdade, das contradições que ele destacava pela leitura marxista. Ele dizia que se não for pelo homem, entendendo e reconhecendo o homem nas dimensões sociais, econômicas, culturais e psicológicas impossível entender as contradições que vivenciamos. Isso se adequava muito bem ao que eu identificava como fruto de mudanças ocorridas com a geografia brasileira ao longo dos anos 80 e 90 do século passado. Porém, era um olhar geográfico que surgia sobre o homem produtor, consumidor e, apoiando um Estado planejador. A minha ida para o Canadá abriu uma outra perspectiva. Percebi que os canadenses tinham transposto a geografia francesa para o Quebec, como nós brasileiros também fizemos na criação dos primeiros cursos de geografia. Mas, eles estabeleceram uma conexão com a geografia norte-americana, de caráter mais tecnicista e pragmático.e procuraram fazer esta interlocução. A experiência de exercitar essas técnicas serviu para fundamentar estudos de natureza cultural, no caso a discussão dos referenciais de identidade e região discutindo a migração mas recente dos ingleses para o Canadá; e, como a cultura inglesa se situava perante os quebequenses, que eram franceses em suas raízes. Penso que foi rica essa forma deles procurarem fazer uma geografia própria, de Quebec, estabelecendo este diálogo com outras escolas geográficas, se abrir para acolher métodos, abordagens, categorias adequando-os nos estudos culturais do Canadá. Isso pode ser um importante exemplo para a geografia cultural brasileira. Quanto à América Latina, tenho participado da grande maioria dos Encontros da Geografia da América Latina (EGAL). É notório, que os brasileiros prevalecem nesses encontros. Há mesmo uma brincadeira sobre isso, que são brasileiros que saem do Brasil para assistirem brasileiros em outros países (risos). Somos vistos como um país que conseguiu implantar a geografia nas instituições e ganhar credibilidade, comparando com os demais países temos uma grande quantidade de cursos de pós-graduações em várias universidades. Com exceção da Argentina, México e Cuba, nos demais países praticamente não existe uma oferta diversificada de pós-graduação em geografia. Nesse sentido, segundo eles, a geografia brasileira aparece como imperialista. Na leitura deles, nós temos uma supremacia, devido à quantidade de cursos de pós-graduação espalhada pelo território nacional. O fato é que possuímos 114 cursos de pós-graduação (Mestrado- 72); Mestrado Profissional - 5, e Doutorado- 37, dados da Capes, 2020), uma qualidade na nossa produção e uma projeção internacional para a geografia, que eles não têm. Essa é a diferença que vejo. O Milton Santos tornou-se uma referência em toda a América Latina, mas, já no século XXI outros brasileiros já possuem livros traduzidos para o espanhol como Rogerio Haesbaert “O Mito da Desterritorialização: do 'fim dos territórios' à multiterritorialidade" (edição espanhola por Siglo XXI Editores, México), e Carlos Walter Porto-Goncalves. ( Geo-grafías: Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidade. Siglo XXI, Editores, ,México, 2001). E-L: Como entende a distância entre a geografia universitária no Brasil comparando-a com a praticada no ensino básico? MG: Bem. O que é hoje a universidade Brasileira? Vamos refletir: o que passou a ser solicitado da universidade e de nós professores universitários. Penso que a universidade não dialogou muito com o ensino básico para saber hoje os órgãos responsáveis pelo ensino superior cobram mais do professor uma produção do que uma qualidade no envolvimento com a educação, o ensino e a sociedade. O que está sendo solicitado da universidade é que ela produza e, ao considerar isso, vejo que ela muda, um pouco, o seu foco. Passa de uma função, que seria preocupar-se em levar o conhecimento e promover a formação da sociedade, isto é, de uma função social, para uma instituição, se assim posso dizer, mercadológica. Fazendo isso, a universidade adentra numa crise, ela perde aquela força de socialização ampla do conhecimento e põe o foco em outra questão, de uma especialização em prol do retorno econômico e técnico dos seus produtos. A Universidade está distante do Ensino Básico fundamental e médio no que ela ensina, como ensina formando licenciados. Nós criticamos esse Ensino Básico. Contudo, quem está trabalhando nele são aqueles egressos da universidade; quando os profissionais recém formados nos cursos de licenciaturas chegam ao Ensino Básico, em sua grande maioria tem dificuldade em colocar em prática o aprendizado universitário para o magistério nas escolas; ele não consegue reproduzir o aprendido, o que, a princípio, é o desejado. Também, há a considerar nesta crítica é se há essa distância entre a formação no ensino superior e o praticado na sala de aula do ensino básico, deve-se a universidade ter desvalorizado a licenciatura e eleger a formação de mão de obra especializada, formar profissionais com melhores salários que os professores no mercado de trabalho. Não é exatamente aquilo que se pretende com a formação do educador, esse ficou em segundo plano. E-L: Com a geografia pode contribuir para pensar a questão da identidade? MG: A identidade não é uma categoria geográfica especificamente, mas pode ser empregada geograficamente a partir do instante que a identidade permite uma leitura dos homens e dos espaços. Ao falar do espaço, estou me referindo a identidade territorial. Não creio que a geografia, de modo geral, tenha esse interesse em discutir a identidade, seria uma abordagem mais particular, que seria esta da geografia cultural. Ao fazer esta discussão, a geografia precisa se associar a outras ciências: antropologia, sociologia, história etc., o que torna o estudo ou a aplicação do conceito de identidade bastante complexo. A abordagem da geografia cultural não tem o propósito de discutir a categoria pela categoria, mas sim aplicar para entender e explicar melhor o espaço produzido e significado pelas relações humanas, de como os homens se identificam com os lugares. Discutir identidade é muito instigante para você conhecer e interpretar melhor o que é o território, a região, o lugar levando em consideração como um determinado grupo social, povo, gente se vincula, se associa com aquele espaço. Essa forma de criar o laço espaço- homem, diz muito de como nós nos sentimos naquele espaço. . É o caso, por exemplo, do trabalho do Robinson S. Pinheiro , no qual o autor faz uma discussão da identidade a partir de uma leitura que apresenta da produção literária regional, fazendo uso desta literatura como um veículo que expressa a complexidade dos processos identitários no Mato Grosso do Sul. Enfim, penso que mais que a geografia contribuir para pensar a questão da identidade , é a identidade que auxilia na compreensão espacial e da ciência geográfica. 1 A entrevistada está fazendo referência ao trabalho de Robinson Santos Pinheiro: Geografia e Literatura: Diálogo em torno da Construção da Identidade Territorial Sul-Mato-Grossense. Dissertação de mestrado, sob orientação do Prof. Dr. Cláudio Benito O. Ferraz, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em abril de 2010 E-L: Como presidenta da ANPEGE no biênio 2009-2011, como entende o papel dessa entidade para a formação do pensamento geográfico brasileiro? MG: A ANPEGE é uma entidade diferente da AGB. Uma entidade que não mais tem o ímpeto do trabalho do geógrafo militante politicamente, porque já espera que ele venha com essa militância praticada em outras instâncias. Penso que a ANPEGE, hoje, tem uma respeitabilidade que é importante, considerando que ela já tem mais de dez anos de existência, desde 1992. Então, é uma entidade que representa mais de 40 programas de pós-graduações, sendo 18 programas de doutorado e que tem essa preocupação de discutir o que é a formação e o papel do pesquisador. Vejo com muita seriedade e muita responsabilidade estar diante de uma entidade que tem um perfil deste. Entendo que a entidade, em si, já configura como um mecanismo de visibilidade do que é feito nos programas, quando ela tem voz ativa na escolha de representantes que estão na CAPES no CNPQ e é chamada para opinar sobre assuntos que dizem respeito a produção científica do geógrafo. Espero que a entidade continue fazendo este papel, que ela não seja apenas ilustrativa, mas que seja ativa na ajuda da construção do que é a geografia. Vocês acreditam nisso? (risos). E-L: Quais seriam os principais desafios da produção científica brasileira hoje, mais especificamente a geográfica? MG: Já mencionei aqui a importância que tem sido atribuída ao caráter produtivista no interior da universidade. Quando disse isso queria me referir a uma produção é considerada como um passaporte para o professor ser convidado para ser docente na Pós-Graduação, ter visibilidade ao ter publicações de destaque, participações em mesas de congressos etc.. Com isso, levou-se a uma proliferação de revistas. Revistas que nem sempre são da qualidade desejada. Estou fazendo uma crítica ao que se espera do profissional pesquisador e também de como ele se sente diante de ter que produzir para conseguir o reconhecimento dos seus pares, ou a bolsa produtividade do CNPq; além disso, o preço dessa produtividade em relação ao tempo necessário para se fazer uma pesquisa com qualidade e profundidade. Esse tem sido um dilema para o professor pesquisador. Diria que se tem produzido muito na geografia brasileira, impulsionada pela pressão da Capes aos cursos de Pós-Graduação. Contudo, não temos condição de avaliar e de conhecer o “todo” que está sendo produzido. As vezes tenho a impressão de que estamos publicando e produzindo sobretudo para o nosso público local. . O envelhecimento da ideia pode ocorrer até sua publicação e, mesmo afetar essa finalidade da publicação, que eu entendo ser a interlocução, o debate entre o autor e aqueles que vão ler. Mas o momento é rico para a produção e como consequência para a geografia brasileira, basta ver a quantidade de livros que estão sendo publicados anualmente. As revistas com melhores qualis tornam-se mais criteriosas, o que concordo, e há prazos de até dois anos, entre a submissão do artigo, o aceite e a publicação. Muito positivo vejo as revistas que tem surgido, cada programa de pós-graduação praticamente tem a sua. Mas, a minha crítica é, sobretudo, quanto a dificuldade de tempo para você ler e se inteirar sobre o que está sendo feito. As vezes nem todos têm conhecimento do conjunto maior das discussões que permeiam a geografia, a maioria se isola em sua especialização e apenas lê sobre aquilo que pesquisa. Isso é perigoso, em especial para um conhecimento amplo como o geográfico. E-L: Fazendo uso de uma música interpretada por Mercedez Sosa: É possível o Sul?2 Explicando melhor, é possível um conhecimento filosófico e científico ser gestado a partir das condições periféricas ao sistema econômico e ter como característica ser alternativo ao pensamento dominante, no caso, oriundo ideologicamente do norte? MG: Boaventura de Souza Santos fala de uma epistemologia para o sul. Quando ele fala de uma epistemologia para o sul está respondendo a Mercedez Sosa. Concordo com ele ao criticar que nós ficamos muito ao sabor do que vem do hemisfério norte e estamos deixando que algumas vozes sejam esquecidas, marginalizadas; acredito que seja possível sim um pensamento oriundo dos saberes locais, baseando na nossa realidade e contradições. Acredito que esteja faltando fazer uma geografia mais nossa, uma geografia que contaria com nossos próprios referenciais. Contudo, prevalece a crença que somente a academia produz ciência e saberes e, nós desconsideramos outras formas e, ainda não estamos utilizando os saberes locais. O Boaventura quando fala dos saberes locais se refere ao fato que as universidades estão se distanciando de meio e voltando-se para os saberes oriundos do estrangeiro, do norte, dos de “fora”. Boaventura pergunta o inverso: por que não levar os saberes locais para dentro das universidades e tentarmos dialogar com eles? Aí vem aquela pergunta anterior, como tem sido nossa relação com o Ensino Básico? Nós formamos professores, mas não trazemos este professor de “lá” para “cá” depois que estão na prática, até mesmo para termos uma noção mais fundamentada entre aquilo que é ensinado nas universidades e como na prática (realidade) se deu. Isso é importante para que os professores revejam as suas práticas nas universidades. 2 ¿Será posible el sur? Letra de J. Boccanera e C. Porcel de Peralta. Interpretada por Mercedez Sosa no disco do mesmo nome. Philips da Argentina, 1984. E-L: Diante dessa possibilidade, como você analisa o pensamento de Milton Santos. Ele está organicamente vinculado com esta possibilidade de um pensar enraizado na realidade periférica ou ele é um desdobrar do pensamento monopolizante que está se dando no sul? MG: Quando o Milton Santos escreveu o livro O trabalho do geógrafo no terceiro mundo, nota-se uma referência de autores de pensamento francês na obra dele, mas o seu discurso é focado para a realidade de um mundo então majoritariamente desconhecido pela Europa e as demais nações do norte dominante. Mas, se você observar o desdobrar do pensamento de Milton Santos, com o tempo sua obra se distancia disso; ele não fala mais neste geógrafo do hemisfério sul. Milton Santos não tinha por hábito citar suas fontes; porém, quem o lê, e também faz a uma literatura de filósofos e sociólogos franceses identificam semelhanças dos pensamentos. Seriam possíveis influências? Pelo que percebi, lendo a obra do Milton Santos, algumas ideias similares constam tal como que em Foucault, ou como Guattari havia expressado em Cartografias do Desejo. É inegável a valiosa contribuição de Milton Santos ao nos trazer estes pensamentos que muito nos ajudou, a construir uma geografia com esse tom mais brasileiro. Entretanto, poucos geógrafos ousaram dialogar, contestar este grande geógrafo. Penso que os geógrafos brasileiros poderiam ter começado a se posicionar mais criticamente diante do seu pensamento. Também não vou culpar o Milton Santos por uma persistência institucionalizante de seu pensamento; o engessamento de qualquer pensamento é problemático para o processo de evolução do saber científico e filosófico. Não diria que Milton Santos chegou abraçar um pensamento monopolizante que estaria se dando no sul. Porém, tampouco era um critico e mesmo defensor de um pensar emergindo na periferia. E-L: Estamos localizados, o curso de geografia da UFGD, numa área de fronteira. É possível pensar na produção de um saber científico geográfico a partir dessa condição fronteiriça? MG: Quando você me faz esta pergunta penso está se referindo a uma fronteira política/administrativa; diria que a fronteira é social e ela está onde nós a colocamos. Então, a fronteira sempre existe, ela existe por nós diante dos outros, e ela existe quando instauramos a relação sujeito/objeto. José de Souza Martins fala sobre isso, no livro dele sobre a Fronteira, de como nós nos situamos na fronteira ao estabelecermos a relação entre o “eu” e o “outro”. Penso que a produção geográfica deva ser mais universal, mas a partir do local; ela deve ser sempre pensada e concebida de modo a colaborar na leitura da realidade, ler o mundo e fazer com que cada sujeito reflita sobre este lugar, este local. Na minha opinião, a leitura que se faz aqui - uma geografia feita por esta fronteira – falando rapidamente, que pode ser uma fronteira, um encontro daqueles que chegaram para colonizar o Mato Grosso do Sul e uma população indígena que lá se encontrava. Uma geografia capaz de auxiliar na melhor interpretação dessa situação fronteiriça pode dar uma grande contribuição e avançar na reflexão de como ler tal dinâmica espacial por meio de seus conflitos e tensões. Nesse contexto, afluem elementos comuns a outras regiões, mas que aqui possuem sua singularidade, como as grandes áreas produtoras de soja, de cana, dos agronegócios e dos assentamentos. Eis aspectos locais que aparecem de outras formas no Brasil em áreas como Amazonas, Pará, Goiás etc. Uma geografia aqui produzida que pode ajudar a refletir sobre um Brasil singular, mas que é um Brasil que se reproduz também em outros locais. Há aqui um grupo que estaria refletindo sobre isso? Como os geógrafos daqui estão vendo e assumindo esta realidade e qual o papel que possuem na leitura e interpretação desta realidade? Será que aqui poderia ser um núcleo de uma geografia do pós-colonialismo? E-L: Como a senhora entende os referenciais teóricos/metológicos que estão sendo praticados pela geografia brasileira de uma forma geral? MG: Até alguns anos atrás tínhamos um discurso que era aceito como único para fazer geografia, para esta ser considerada ciência. Isso mudou bastante e hoje interpreto que a geografia se enriquece com suas várias possibilidades de diálogos, os métodos que passaram a ser aplicados. Inclusive a geografia brasileira ganha uma respeitabilidade frente ao cenário da América Latina, da Europa etc. pois mostra que é uma geografia que evoluiu. Só para termos uma ideia, recentemente recebemos a visita de alguns geógrafos americanos, a partir de um convênio estabelecido entre a Universidade Federal de Goiás e a Universidade da Califórnia. Houve intercambio de estudantes. Ao chegarem na nossa universidade a preocupação deles era: “Vocês vão trabalhar com pesquisa qualitativa, não é?”. Estranhava a pergunta dizíamos: “Sempre trabalhamos com pesquisa qualitativa” e eles explicavam: “é porque nós não queremos aquela pesquisa voltada para a quantificação, modelos etc.”. Ou seja, eles estavam cansados do referencial único da geografia quantitativa e estavam procurando, algo que para eles era inovador e que para nós já estava consolidado. Quero dizer com este caso que a geografia, no instante que ela passa a usar de vários referenciais teóricos/metológicos e dialoga com outras perspectivas e análises, ela se enriquece; e isso a geografia brasileira soube aproveitar das várias influências que sofreu das demais escolas com as quais manteve contato. LIVROS MARCANTES DA CARREIRA (OBRAS E REFERÊNCIAS) 1. ALMEIDA, M. G..(org.) Território de tradições e de festas. 1. ed. Curitiba: UFPR, 2018. 2. ALMEIDA, M. G.. GEOGRAFIA CULTURAL - UM MODO DE VER. 1. ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2018. v. 1. 384p . 3. ALMEIDA, M. G.; SILVA, M. A. V. (Org.) ; TORRES, M. A. C. (Org.) ; D`ABADIA, M. I. V. (Org.) ; CURADO, J. G. T. (Org.) . Manifestações Religiosas Populares em Goiás: Atlas de festas católicas. 2. ed. Anápolis: UEG, 2018. 4. ALMEIDA, M. G.; CURADO, J. G. T. ; TEIXEIRA, M.F. ; MOTA, Rosiane Dias ; MARTINS, L. N. ; MOREIRA, J. F. R. ; SOUZA, A. F. G. ; LIMA, R. S. ; TORRES, R. P. A. ; BONJARDIM, S.G.M. . Atlas das celebrações : as festas dos ciclos junino e natalino em Goiás e Sergipe. 1. ed. Aracajú: Instituto Banese, 2016. v. 1. 92p . 5. ALMEIDA, M. G.; MOTA, R. D. (Org.) ; BRITO, E. P. (Org.) ; MACHANGUANA, C. A. (Org.) ; RIGONATO, Valney Dias (Org.) ; RIBEIRO, G. G. (Org.) ; SILVA, R. G. (Org.) ; SANTOS, S. A. (Org.) . Paisagens e Desenvolvimento Local: Imagens sobre Chibuto, Moçambique. 1. ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 78p . 6. ALMEIDA, M. G.. O Território e a comunidade Kalunga: Quilombolas em diversos olhares. 1. . Goiânia: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 329p . 7. DE ALMEIDA, MARIA GERALDA; RIGONATO, V. D. ; BRITO, E. P. ; MACHANGUANA ; ARGENTINA, I. . Aprendizado participativo em Chibuto-Gaza. 1. ed. Goiânia: Kelps, 2015. 56p . 8. CURADO, J. G. T. (Org.) ; BRETAS, I. F. (Org.) ; SILVA, M.A. (Org.) ; D`ABADIA, M. I. V. (Org.) ; ALMEIDA, M. G. (Org.) ; PAULA, M. V. (Org.) ; MOURA, M. R. P. (Org.) ; BARBOSA, Romero Ribeiro (Org.) ; MOTA, R. D. (Orgs.) . Atlas de festas populares de Goiás. 1. ed. goiania: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 125p . 9. ALMEIDA, M. G.; ARRAIS, T. P. A. (Orgs.) . É geografia, é Paul Claval. 1. ed. Goiânia: UFG, 2013. 176p . 10. ALMEIDA, M. G.; MAIA, C. E. S. ; LIMA, L. N. M. (Orgs.). Manifestações do Catolicismo. 1. ed. Goiânia Goiás: LABOTER/FUNAPE, 2013. 998p . 11. ALMEIDA, M. G.; TEIXEIRA, Karla A. ; ARRAIS, T. P. A. (Orgs.) . Metrópoles: Teoria e pesquisa sobre a dinâmica metropolitana. 1. ed. Goiânia: Cânone, 2012. 152p . 12. COSTA, J. J. ; SANTOS, C. O.; SANTOS, M. A. ; ALMEIDA, M. G.; SOUZA, Rosemeri Melo e (Orgs.) . Questões geográficas em debate. 1. ed. Sao Cristóvão: UFS, 2012. 13. DE ALMEIDA, MARIA GERALDA. Trocas de saberes no Cerrado, valorização dos quintais, segurança alimentar e cidadania nas comunidades kalunga em Teresina de Goiás. 1. ed. Goiânia: IESA/FUNAPE/UFG, 2012. 31p . 14. ALMEIDA, M. G.; CRUZ, B. N. (Org.s) . Território e Cultura - inclusão e exclusão nas dinâmicas socioespaciais. Goiânia: CEGRAF-UFG, 2009. 256p . 15. ALMEIDA, M. G.. Territorialidades na América Latina. 1. ed. Goiânia: Cegraf UFG, 2009. 240p . 16. ALMEIDA, M. G.; CHAVEIRO, Eguimar Felício; BRAGA, Helaine da Costa (Orgs.) . Geografia e Cultura - os lugares da vida e a vida dos lugares. 1. ed. , 2008. v. 1. 313p . 17. ALMEIDA, M. G.. Tantos Cerrados: múltiplas abordagens sobre a biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira, 2005. 321p . 18. ALMEIDA, M. G.; RATTS, Alecsandro J P (Orgs.) . Geografia Leituras Culturais. Goiânia: Alternativa, 2003. v. 1500. 286p . 19. ALMEIDA, M. G.. Paradigmas do Turismo. 1. ed. Goiânia: Editora Alternativa, 2003. 176p . 20. ALMEIDA, M. G.. Abordagens Geográficas de Goiás: o natural e o social na contemporaneidade. CDU. ed. Goiânia: IESA - CEGRAF UFG, 2002. 260p LINHAS DE PESQUISA 1. PESQUISA APLICADA EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE. 2. Turismo e Cultura em Geografia 3. Geografia, Cultura e Cerrado 4. Geografia das Manifestações Culturais 5. Geografia do Turismo PROJETOS DE PESQUISA 2020 - Atual Ruralidades e sinergias na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) no século XXI Descrição: De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (Brasil, 2010), a população total da Regiao Metropolitana de Goiania-RMG é de 2.173.141 habitantes dos quais 43.067 habitantes estão localizados em áreas rurais. Há contrastes na distribuição deles, que nos revelam um mundo rural bastante diversificado e específico da referida região metropolitana, na qual nos interessa analisar e conhecer as ruralidades presentificadas. Nesta pesquisa reiteramos o entendimento de que espaço rural não se define exclusivamente pela presença de atividade agrícola. É significativa a redução de pessoas ocupadas na agricultura, dado que se associa ao aumento do número de pessoas residentes no campo exercendo atividades não-agrícolas e ao aparecimento de uma camada relevante de pequenos agricultores que combinam a agricultura com outras fontes de rendimento. Neste estudo, nossa análise será voltada às ruralidades .A ruralidade compreendida como uma representação social, definida culturalmente por sujeitos sociais que desempenham atividades não homogêneas e que não estão necessariamente remetidas à produção agrícola. O rural e o urbano se complementam. O objetivo geral é compreender a dinâmica das ruralidades na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) bem como o papel do Estado, do mercado e das sinergias no processo de produção do espaço metropolitano, no século XXI.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2018 - Atual Povos subalternos nos territórios delimitados pelo governo federal no Amapá e presenças nos planos de desenvolvimento estadual Descrição: Este projeto foca os assentados, os negros e indígenas como povos subalternos adotando a concepção de Spivak (1998, p.12) para quem o termo subalterno descreve “as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante.”A concepção de subalternidade é, assim, uma leitura critica da sociedade, neste caso, do Amapá, estado brasileiro a ter todas as terras indígenas demarcadas. Na faixa de terras que se estende do estado do Amapá ao norte do Pará, há 8 terras indígenas demarcadas – sendo 7 homologadas – onde se distribuem, atualmente, 10 grupos indígenas Galibi Marworno, Palikur, Karipuna, Galibi do Oiapoque, Wajãpi, Aparai, Wayana, Tiriyó, Katxuyana e Zo’é. No caso da população negra o primeiro foco de povoamento essencialmente para o Amapá, com inclusão do negro, aconteceu a partir de 1771. Da herança colonial, surgiram diversas vilas, principalmente nos municípios de Mazagão, Macapá, Santana e Calçoene, sendo a base da economia desses lugares a agricultura e a criação de animais para a subsistência. Há 30 anos que Amapá tornou-se politicamente um estado, o que estimulou-se reflexões sobre sua nova realidade buscando ainda alternativas econômicas compatibilizando-as com a proteção ao seu patrimônio natural e com sua comunidade autóctone. Diante desta intencionalidade declarada cabe alguns questionamentos: Assim, nosso problema é: As políticas propostas pelo estado do Amapá denotam um reconhecimento para com as especificidades culturais das comunidades negras e indígenas e assentados e, qual rebatimento que elas tiveram social e economicamente entre os subalternos. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Maria Geralda de Almeida - Coordenador. 2016 - Atual Cartografia das Paisagens Turísticas das Savanas Brasileiras e Moçambicanas Descrição: A despeito do enorme potencial para as modalidades de turismo ligadas à natureza, como o ecoturismo, o turismo de aventura, o turismo rural, entre outras, as paisagens das savanas brasileiras ainda são pouco expressivas nas estatísticas referentes à demanda turística no Brasil, tanto interna quanto externa. O mesmo ocorre em Moçambique, ainda que na África como um todo a região das savanas atraia grande número de turistas, especialmente estrangeiros, interessados em viagens de aventura e pelo fascínio em relação à grande fauna africana. Tanto no Brasil quanto em Moçambique há carência de registros cartográficos acerca das paisagens das savanas com potencial turístico. Essa, portanto, é a proposta que se apresenta neste projeto, cujas metas envolvem o estabelecimento de uma rede de pesquisa colaborativa em mapeamento de paisagens turísticas, unindo pesquisadores do Brasil e de Moçambique, com intuito de promover a cooperação científica e tecnológica e o intercâmbio científico-cultural, com vistas a se desenvolver uma proposta teórico-metodológica acerca da cartografia de paisagens turísticas, definindo parâmetros de identificação (inventário), de avaliação (potencialidade turística) e de valoração (interpretação turística).. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2014 - 2018 A mulher rural assentada nos espaços da casa e dos quintais: troca de saberes sobre agroecologia, economia social/criativa e saúde no Vão do Paranã-GO Descrição: O público alvo da pesquisa são mulheres rurais em comunidade tradicionais em áreas limítrofes do ;Cerrado Goiano e Baiano, mais precisamente em um Território da Cidadania em Goiás e na RVS Veredas do Oeste Baiano nas comunidades de Pratudinho e Brejão nos municípios de Cocos e Jaborandi na Bahia. ;comunidades goianas situam-se ao Território da Cidadania do Vão do Paranã, Goiás, mais precisamente nos assentamentos de Simolândia (Projeto de Assentamento Zumbi dos Palmares e PA Simolândia e no município de Posse (Baco Pari comunidade quilombola) e a comunidade de Branquinha. Sabe-se que essas ;comunidades e, sobretudo, as mulheres rurais são detentoras de saberes agroecológicos ligados à rica ;biodiversidade do Cerrado os quais estão sobre forte pressão e erosão da biodiversidade nativa desse ;domínio geoecológico. Saberes estes, adquiridos ao longo de gerações no convívio mais aproximativo das ;paisagens naturais do Cerrado. Assim, essa pesquisa objetiva analisar o papel das mulheres rurais das ;comunidades tradicionais sobre a importância no espaço do quintal para o Cerrado, no que tange a água, a vegetação, a terra, buscando a sua conservação e a valorização da biodiversidade, principalmente, nas ;Unidades de Conservação. Para tanto, faz-se necessário alguns objetivos específicos: 1) Discutir o uso e a ;ocupação dos espaços dos quintais pelo trabalho feminino em relação às estações do ano; 2) Avaliar a ;percepção ambiental das mulheres rurais quanto as paisagens do Cerrado e suas alterações; 3) Mapear os ;saberes das mulheres rurais assentadas e quilombolas sobre espaço do quintal e do Cerrado que ;evidenciem a sua conservação e a valorização, como lugares de produção e aprendizado rumo a ;segurança alimentar; 4) Mapear a Reserva da Biosfera (RESBIO) Goyas no que diz respeito ao território de ;Cidadania do Vão do Paranã e RVS do Oeste Baiano com as imagens de satélite e Veículos Aéreos Não ;Tripulados (VANTs), os aspectos de uso da terra; desmatamento; queimadas; evapotranspiração; produtividade primária líquida; precipitação diária; temperatura de superfície; A metodologia para o ;desenvolvimento desta pesquisa será a abordagem qualitativa pela ciência geográfica com abordagens ;interdisciplinares. Os procedimentos metodológicos do Diagnóstico Rural Participativo (DRP) tais como: mapa falado; mapas mentais, calendário sazonal; diagrama de fluxo; diagrama de VENN e a matriz ;comparativa. Além disso, contará com trabalhos de campo e sobrevôos com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) para melhor diagnóstico e mapeamento das áreas de interesse da pesquisa. As bases ;teóricas dialogam com autores Paul Claval com os estudos de Etnogeografia; Yi-Fu Tuan que discute os lugares e as paisagens por meio da percepção ambiental; Adreu Viola que em sua antropologia enfoca as ;teorias e estudos etnográficos da América Latina o qual elucida o papel da mulher no desenvolvimento da ;economia informal nos países latinos americanos. Tais abordagens visam ressaltar a importância do papel das mulheres rurais tanto no seio familiar como na preservação e conservação dos saberes e da ;biodiversidade do Cerrado. Por último, os resultados esperados almejam elucidar conhecimentos e ;saberes relativos ao modo de vida das mulheres rurais de comunidades tradicionais nas áreas do Cerrado, ;sobretudo, de Unidades de Conservação sobre forte pressão e erosão da biodiversidade nativa desse ;domínio geoecológico. Com isso, almeja-se contribuir com o avanço teórico e metodológico das pesquisas ;relacionadas as questões de gênero que envolvem saberes e conhecimentos relativos aos espaçosdomésticos e aos quintais produtivos como forma de empoderamento das mulheres rurais das ;comunidades tradicionais sobre forte pressão pela modernização da agricultura nos Cerrados brasileiros. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 2014 - Atual Ambiente, Mulher e Cidadania nas Comunidades Tradicionais no Território da Cidadania do Vão do Paranã e da RVS Veredas do Oeste Baiano Descrição: Este projeto busca valorizar as marcas e as funções da mulher rural no espaço e seu papel na construção desse espaço pelos saberes ambientais. Assim, analisar o papel das mulheres rurais das comunidades tradicionais sobre a importância no espaço do quintal para o Cerrado, no que tange a água, a vegetação, a terra, buscando a sua conservação e a valorização pode trazer contribuições cientificas para as ciências humanas (re)pensar as dinâmicas de uso e ocupação do território brasileiro.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2014 - Atual Identidades territoriais e políticas de desenvolvimento territorial e ambiental na Reserva da Biosfera Cerrado –Goiás. Descrição: A pesquisa em tese pretende evidenciar as identidades territoriais e as políticas de desenvolvimento territorial e ambiental, modeladoras das atuais e diversas formas de ocupação, isto é, as paisagens da Reserva da Biosfera do Cerrado. Ela é, resumidamente, uma investigação geral sobre o uso e apropriação do Cerrado, em uma parcela do estado de Goiás interpretada como um mosaico de paisagens culturais/ambientais testemunhas das modificações em curso. Esclarece-se que Reservas de Biosfera são definidas como “áreas de ambiente, representativas, reconhecidas mundialmente pelo seu valor para a conservação ambiental e para o provimento de conhecimento cientifico, da experiência e dos valores humanos com vistas a promover o desenvolvimento sustentável”, nos termos da Unesco (2008) .Por essa sua singularidade consideramos pertinente como área de estudo geográfico... Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2013 - 2017 Mobilidade - Paisagens e Desenvolvimento Local: inventário, análise e estudo comparativo de Chibuto - Moçambique e Goiás - Brasil Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 2013 - 2014 Cartografia dos saberes populares: as festas juninas e natalinas nos estados de Sergipe e Goiás Descrição: Cartografia cultural; paisagens festivas; estudo comparativo entre Sergipe e Goiás. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 2011 - 2014 Região da biosfera goyaz - cultura e turismo: : oportunidades de conhecimentos e propostas de estruturação de novos produtos turísticos Descrição: No âmbito desta proposta objetiva-se colaborar para a manutenção da Reserva da Biosfera-Bioma Cerrado, valorizando o seu potencial turístico, quanto as suas belezas paisagísticas e das culturas tradicionais das populações locais. Tem-se como objetivo geral inventariar as potencialidades turísticas existentes e propor novos produtos turísticos a partir da interação de roteiros ecoturísticos e culturais na Reserva da Biosfera Goyaz. Para que a presente proposta tenha sucesso, foram traçados como objetivos específicos a serem alcançados no decorrer da presente proposta as atividade de: Efetuar uma análise critica sobre as políticas sociais e ambientais que afetam as atividades turísticas. Realizar a ordenação de unidades de paisagem de elevado valor para o ecoturismo e valorização cultural, com suporte de técnicas de geoprocessamento e atividade de campo; Inventariar e sistematizar as informações de valores culturais e paisagísticos através de uma documentação cartográfica; Caracterizar as trilhas interpretativas quanto ao seu potencial turístico analisando, seus valores cênicopaisagísticos e culturais; Produzir um material de apoio aos visitantes e aos poderes administrativos locais com a confecção do mapa interativo de trilhas interpretativas e a participação da comunidade local. Avaliar a capacidade de carga turística das trilhas interpretativas, elaborando um zoneamento quanto à fragilidade ambiental das mesmas. Realizar oficinas para socializar os conhecimentos, visando a interação e formação de futuros condutores de visitantes nas comunidades. Organizar eventos que promovam articulações entre as instituições envolvidas na rede, bem como, outras locais e nacionais. Instrumentalizar os laboratórios das instituições da rede de pesquisa no intuito de contribuir com a formação de futuros pesquisadores e apoio de futuras pesquisas sobre a temática. Divulgar os resultados parciais em eventos locais e nacionais. Divulgar os resultados em forma de artigos.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 2011 - 2011 Troca de saberes no Cerrado: ecologia, valorização dos quintais, segurança alimentar e cidadania nas comunidades Kalunga em Teresina de Goiás Descrição: A área para o desenvolvimento do projeto situa-se na região da Serra Geral, vale do rio Paranã, em Goiás. SIGProj - Página 4 de 35 As atividades de extensão serão desenvolvidas para uma população de remanescentes de quilombos denominada Kalunga, em Teresina de Goiás, nas comunidades de Diadema e Ribeirão. O projeto envolve alunos dos Cursos de Geografia, Engenharia Florestal e de Nutrição e, professores do Instituto de Estudos Sócio-Ambientais (IESA), da Escola de Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos(EA), Faculdade de Nutrição e a população Kalunga. As ações visam a troca de conhecimentos e saberes entre a Universidade e os Kalunga com temáticas ligadas à identidade territorial Kalunga, valorização do cerrado, quintais ecológicos, segurança alimentar e aproveitamento de frutos do cerrado, e do potencial turístico da região; além de discussões relativas ao uso e o acesso à água, à valorização e uso dos recursos florestais. Espera-se obter como resultado uma combinação do saber comum, coletivo com o construído nas relações com o saber científico, buscando construir novos saberes específicos, particulares, mas também universais. E, que esses saberes possam colaborar para o fortalecimento da cidadania da comunidade Kalunga e dos acadêmicos e, do espírito critico dos estudantes para uma atuação profissional cidadã.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 2011 - Atual Projeto Universal: Visões contemporâneas do Cerrado e intersecção de políticas sociais e ambientais - Reserva da Biosfera do Cerrado no norte e nordeste de Goiás Descrição: A pesquisa em tese pretende evidenciar as repercussões das atuais e diversas formas de ocupação do Cerrado (agronegócios, biotecnologias, áreas protegidas, agricultura familiar, etc.) nas relações socioeconômicas e culturais no território face às políticas propostas. Ela é, resumidamente, uma investigação geral sobre os impactos das políticas atuais voltadas para o meio ambiente e para o meio rural para a ocupação do Cerrado e sobre a biodiversidade. Em suma, procura interpretar as modificações do território. Por meio de uma perspectiva reflexiva, busca-se compreender o dinamismo do uso e gestão do Cerrado e a diversidade da interpretação da biodiversidade à luz de políticas governamentais concebidas para áreas de Cerrado.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2010 - Atual Visões contemporâneas do cerrado e intersecção de politicas sociais e ambientais – Reserva da Biosfera do Cerrado no norte e nordeste de Goiás Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2010 - Atual Conhecimento Popular e as Práticas SocioCulturais - Biodiversidade e Visões Contemporâneas do Cerrado Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2008 - 2014 Pró-cultura: A Dimensão territorial das festas populares e do turismo:estudo comparativo do patrimônio imaterial em Goiás,Ceará e Sergipe Descrição: ste Grupo de pesquisa tem como objetivo discutir a cultura que por se tratar de um fenômeno dinâmico, necessita ser constantemente analisado, o patrimônio imaterial que é um fator de desenvolvimento econômico e de cidadania. Constitui uma proposta de estudo comparativa, e por isso será desenvolvido em três estados. Propomos a elaboração de um Atlas, no intuito de fazer com que as manifestações culturais tenham maior valorização e visibilidade como patrimônio.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 2008 - 2012 Biotecnologias e a gestão participativa da biodiversidade: estudos de caso de intituições, conhecimento popular e saberes locais na Caatinga e no Cerrado brasileiro Descrição: O presente projeto objetiva pesquisar a utilização das biotecnologias no Cerrado e na Caatinga, sua interferência na preservação na biodiversidade desses dois biomas no que diz respeito à cana de açúcar (biocombustível), organismos geneticamente modificados e produção da soja, além de discutir os diferentes reflexos do uso da natureza na cultura local. Por meio de uma perspectiva reflexiva, busca-se compreender entre as diversas concepções existentes, a visão que as populações do cerrado e da caatinga possuem da biodiversidade como resultante de uma cultura particular, na apropriação do território, no conhecimento local e conservação. Essa pesquisa fará uso da investigação qualitativa, em que haverá a necessidade do estudo de caso investigativo e interpretativo. Para tanto a coleta de dados será essencialmente necessária. Para apresentar as biotecnologias e a gestão participativa da biodiversidade na caatinga e no cerrado necessitará um levantamento e análise de referenciais bibliográficos que dêem sustentação teórica metodológica para esclarecer a problemática existente.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 2008 - Atual As identidades sociais e suas e suas formas de representações subjacentes nas práticas culturais. Descrição: Este projeto busca compreender as representações enquanto fatores constituintes e constituidores de identidades sociais. Ele está organizado por meio de três abordagens fundamentais: Goiânia: representações e identidades da cidade; a importância do ensino de geografia na materialização da identidade goiana; e, as identidades culturais do Estado de Rondônia Pará e Tocantins a partir das representações espaciais. A realização de estudos que abordam as representações como elemento construtivo da identidade e representações, justifica a relevância desta investigação. A identidade é formada por um conjunto de elementos, próprios de determinado grupo social, identificados pela maneira como esse grupo se relaciona com o mundo. Esta concepção teórica permeia os três subprojetos que constituem esta pesquisa. O primeiro tem o propósito de analisar a complexidade do processo de formação do Estado de Rondônia, por meio dos processos de colonização, que redundaram em formas diversificadas de apropriação do espaço geográfico e constituição das identidades. O segundo subprojeto se preocupa em averiguar se as representações sobre Goiânia se caracterizam em múltiplas identidades para a cidade e seus habitantes. O terceiro subprojeto, por sua vez, relacionado às práticas educativas, tem o propósito de investigar as contribuições da educação na construção dos atributos identitários das cidades. Os subprojetos serão desenvolvidos com bases nos princípios da pesquisa qualitativa e participativa e a aplicabilidade de procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica e documental, pesquisa de campo, observações, história de vida, entrevistas, análise discursiva e registro de caderno de campo. Nessa perspectiva, esta proposta de pesquisa tem como objetivo contribuir com as leituras que abordam o processo de construção e representação de identidades a partir das imagens, representações e práticas culturais e educacionais expressos nos modos de vida, nas subjetividades e nos sentimentos de pertencimentos d. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2007 - 2010 Festas: apropriação e gestão patrimonial para o turismo em Goiás Descrição: As manifestações culturais de maior visibilidade têm se transformado em importante instrumento para alavancar o desenvolvimento local e regional e estimular atividades relacionadas ao turismo, O turismo cultural/religioso como estratégia de desenvolvimento também contribui para uma maior visibilidade do patrimônio cultural, com é o caso das festas, visto que, através da atividade turística reafirma as identidades locais ao promover uma oferta diferenciada, baseada em representações decorrentes do resgate da memória da comunidade local. São as festas ligadas principalmente às influências cristãs e africanas para as quais direcionaremos nossa análise. Selecionamos as manifestações a partir dos seguintes critérios: - As mais representativas da diversidade cultural do Estado de Goiás; - Aquelas que marcam presença no calendário turístico; - Aquelas passíveis de se transformarem em um importante produto turístico. Entre as manifestações selecionadas estão: - Festa do Divino de Pirenópolis considerando as Folias do Divino e as Cavalhadas; - Procissão do Fogaréu e Folias urbanas na Cidade de Goiás; - Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Catalão as Congadas; - Festa do Divino Pai Eterno de Trindade as peregrinações; - Festa do Muquém de Niquelândia e Colinas do Sul considerando as peregrinações e folias rurais. - Folias urbanas em Goiânia. - Festas de padroeiros. O projeto se subdividem em 5 subprojetos: 1) Apropriação do Patrimônio Cultural pelo Turismo 2) Cartografia do Patrimônio Ambiental relacionado às Festas e Romarias em Goiás 3) Políticas Culturais em Goiás: o papel da AGEPEL na representação da Cultura Goiana 4) A Dimensão Territorial e Cultural das Festas 5) Festas de padroeiros 6) Galícia: estudo de turismo cultural e a contribuição para o fortalecimento do turismo em Goiás. Este quinto subprojeto visa estabelecer a comparação e apoio com a Espanha e envolvera todas instituições do pacto de cooperação. Devido à complexidade do tema: cultura, pa. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 2001 - 2011 Conhecimento etnográfico de comunidades tradicionais do cerrado PROJETOS DE EXTENSÃO 2016 - Atual A Mulher Rural Assentada: Troca de Saberes sobre Ambiente, Agroecologia nos quintais e ensinamentos para Economia Social - Vão do Paranã - GO Descrição: A área para o desenvolvimento do projeto situa-se na região do vão do Paranã, Goiás, mais ;precisamente nos assentamentos de Bacupari em Posse (GO), do Agrovila, Cintia Peter e Capim de ;Cheiro, em Mambaí (GO). As atividades de extensão serão desenvolvidas, tendo como foco, as ;mulheres dos assentamentos mencionados, as quais são representantes singulares, tanto da luta ;campesina, quanto do cuidado com o lar e a família. Este projeto envolve alunos dos cursos de ;Geografia, Engenharia Florestal, Ciências Ambientais e de Agronomia e, professores do Instituto de ;Estudos Socioambientais (IESA), da Escola de Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos EA). As ações visam: a troca de conhecimentos e saberes entre a Universidade e as assentadas como ;temáticas ligadas à valorização dos quintais agroecológicos para o Cerrado, economia solidária/social, segurança alimentar familiar e aproveitamento de frutos, valorização e uso dos ;recursos florestais, por meio da produção de mudas, além de cursos que proporcionem a discussão ;sobre as questões de gênero e políticas públicas para mulheres; e oficinas práticas, como a ;produção de mudas, de doces, geleias e compostagem, o que poderá contribuir com a renda ;familiar.; Espera-se obter como resultado uma combinação do saber comum, coletivo com o construído nas ;relações com o saber científico, buscando construir novos saberes específicos, particulares, mas; também universais. E, que esses saberes possam colaborar para o fortalecimento dos assentamentos e dos acadêmicos e, do espírito crítico dos estudantes para uma atuação profissional cidadã.. Situação: Em andamento; Natureza: Extensão. PRÊMIOS E TÍTULOS 2016 - Homenagem pela contribuição à Geografia Agrária, ENGA - Encontro Nacional de Geografia Agrária. 2015 - Homenagem pela contribuição à Geografia, IESA - Instituto de Estudos Socioambientais (UFG). 2014 - Presidente distinguida na coordenação da ANPEGE, ANPEGE - Associação Nacional de Pós Graduação em Geografia. 2011 - Homenagem por tutoria no PET, Universidade Federal do Ceará - Departamento de Geografia. INTEGRAÇÃO EM REDES NEER- Núcleo de Estudos sobre Espaço e Representações. 24 participantes/ pesquisadores de 17 instituições brasileiras. RETEC- Red internacional de estúdios de território y cultura.- Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, França, México, Peru,Venezuela RELISDETUR- Red latinoamericana de innvestigadores en desarrollo y turismo- Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México. RIEF - Red Internacional de Investigadores en Estudios de Fiesta, Nación y Cultura. RIEF-. Una Red con más de 150 investigadores de varias naciones . GI-1871: Grupo de Investigación de Análises Territorial, da universidad de Santiago de Compostela-Espanha. PROFESSORA VISITANTE 1-Canadá. –Montreal- Université de Quebec-Departément de Géographie. 4 meses. 2003 2-Argentina-Mendoza- Universidad de Cuyo-Programa AUGM.2012 3-México- Xoximilco- Universidad Autonoma Metropolitana do Mexico-Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. 2012 4-Colombia-Manizales Universidad de Caldas –Doctorado en Estudios Territoriales , desde 2009 a cada dois anos.. 5- Colombia- Rioacha- Universidad de Guajira- 2018. COORDENAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO a) Inicio em 2016- A Mulher Rural Assentada: Troca de Saberes sobre Ambiente, Agroecologia nos quintais e ensinamentos para Economia Social - Vão do Paranã - GO b) Desde 2010- Visões contemporâneas do cerrado e intersecção de politicas sociais e ambientais – Reserva da Biosfera do Cerrado no norte e nordeste de Goiás c) Inicio em 2010- Conhecimento Popular e as Práticas Socioculturais - Biodiversidade e Visões Contemporâneas do Cerrado COORDENAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA 1-2011- Troca de saberes no Cerrado: ecologia, valorização dos quintais, segurança alimentar e cidadania nas comunidades Kalunga em Teresina de Goiás 2-2011 a 2014 - Região da biosfera goyaz - cultura e turismo: oportunidades de conhecimentos e propostas de estruturação de novos produtos turísticos 3- 2014- Cartografia dos saberes populares: as festas juninas e natalinas nos estados de Sergipe e Goiás 4- 2013 a 2017- Mobilidade - Paisagens e Desenvolvimento Local: inventário, análise e estudo comparativo de Chibuto - Moçambique e Goiás – Brasil. 5- Desde 2014- Ambiente, Mulher e Cidadania nas Comunidades Tradicionais no Território da Cidadania do Vão do Paranã e da RVS Veredas do Oeste Baiano 6- 2014 atual .Identidades territoriais e políticas de desenvolvimento territorial e ambiental na Reserva da Biosfera Cerrado –Goiás. 7- 2014- 2018- A mulher rural assentada nos espaços da casa e dos quintais: troca de saberes sobre agroecologia, economia social/criativa e saúde no Vão do Paranã-GO 8- Desde 2018 -Povos subalternos nos territórios delimitados pelo governo federal no Amapá e presenças nos planos de desenvolvimento estadual 9- 2020- Ruralidades e sinergias na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) no século XXI 10. 2021- Paisagens Culturais e políticas de desenvolvimento territorial e ambiental na Reserva da Biosfera de Goyaz.. LIVROS ORGANIZADOS E PUBLICADOS ALMEIDA, MG et al. Geografia sociocultural uma trilogia, no prelo. ALMEIDA, M. G.. Território de tradições e de festas. 1. Curitiba. ed: UFPR, 2018. ALMEIDA, M. G.. Geografia Cultural - Um modo de ver. 1. ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2018. v. 1. 384 p . ALMEIDA, M. G.; SILVA, M. A. V. (Org.) ; TORRES, M. A. C. (Org.) ; D`ABADIA, M. I. V. (Org.) ; CURADO, J. G. T. (Org.) . Manifestações Religiosas Populares em Goiás: Atlas de festas católicas. 2. ed. Anápolis: UEG, 2018. ALMEIDA, M. G.; CURADO, J. G. T. ; TEIXEIRA, M.F. ; MOTA, Rosiane Dias ; MARTINS, L. N. ; MOREIRA, J. F. R. ; SOUZA, A. F. G. ; LIMA, R. S. ; TORRES, R. P. A. ; BONJARDIM, S.G.M. . Atlas das celebrações : as festas dos ciclos junino e natalino em Goiás e Sergipe. 1. ed. Aracajú: Instituto Banese, 2016. v. 1. 92 p . ALMEIDA, M. G.; MOTA, R. D. (Org.) ; BRITO, E. P. (Org.) ; MACHANGUANA, C. A. (Org.) ; RIGONATO, Valney Dias (Org.) ; RIBEIRO, G. G. (Org.) ; SILVA, R. G. (Org.) ; SANTOS, S. A. (Org.) . Paisagens e Desenvolvimento Local: Imagens sobre Chibuto, Moçambique. 1. ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 78 p . ALMEIDA, M. G.. O Território e a comunidade Kalunga: Quilombolas em diversos olhares. 1. ed. Goiânia: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 329p . DE ALMEIDA, MARIA GERALDA; RIGONATO, V. D. ; BRITO, E. P. ; MACHANGUANA ; ARGENTINA, I.(orgs) . Aprendizado participativo em Chibuto-Gaza. 1. ed. Goiânia: Kelps, 2015. 56 p . CURADO, J. G. T. (Org.) ; BRETAS, I. F. (Org.) ; SILVA, M.A. (Org.) ; D`ABADIA, M. I. V. (Org.) ; ALMEIDA, M. G. (Org.) ; PAULA, M. V. (Org.) ; MOURA, M. R. P. (Org.) BARBOSA, R R.(Org.) ; MOTA, R. D. (Org.) . Atlas de festas populares de Goiás. 1. ed. goiania: Gráfica UFG, 2015. v. 1. 125 p . ALMEIDA, M. G.; ARRAIS, T. A. (Orgs.) . É geografia, é Paul Claval. 1. ed. Goiânia: UFG, 2013. 176 p . ALMEIDA, M. G.; MAIA, C. E. S. (Org.) ; LIMA, L. N. M. (Org.) . Manifestações do Catolicismo. 1. ed. Goiânia Goiás: LABOTER/FUNAPE, 2013. 998 p . ALMEIDA, M. G.; TEIXEIRA, Karla A. (Org.) ; ARRAIS, T. P. A. (Org.) . Metrópoles: Teoria e pesquisa sobre a dinâmica metropolitana. 1. ed. Goiânia: Cânone, 2012. 152p . COSTA, J. J. (Org.) ; SANTOS, C. O. (Org.) ; SANTOS, M. A. (Org.) ; ALMEIDA, M. G. (Org.) ; SOUZA, Rosemeri Melo e (Org.) . Questões geográficas em debate. 1. ed. Sao Cristóvão: UFS, 2012. DE ALMEIDA, MARIA GERALDA. Trocas de saberes no Cerrado, valorização dos quintais, segurança alimentar e cidadania nas comunidades kalunga em Teresina de Goiás. 1. ed. Goiânia: IESA/FUNAPE/UFG, 2012. 31 p . ALMEIDA, M. G.; CRUZ, B. N. (Orgs.) . Território e Cultura - inclusão e exclusão nas dinâmicas socioespaciais. Goiânia: CEGRAF-UFG, 2009. 256 p . ALMEIDA, M. G.. Territorialidades na América Latina. 1. ed. Goiânia: Cegraf UFG, 2009. 240 p . ALMEIDA, M. G.; CHAVEIRO, Eguimar Felício (Org.) ; BRAGA, Helaine da Costa (Org.) . Geografia e Cultura - os lugares da vida e a vida dos lugares. 1. ed. , 2008. v. 1. 313 p . ALMEIDA, M. G..(orgs) Tantos Cerrados: múltiplas abordagens sobre a biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira, 2005. 321p . ALMEIDA, M. G.; RATTS, Alecsandro J P (Orgs.) . Geografia Leituras Culturais. Goiânia: Alternativa, 2003. v. 1500. 286 p . ALMEIDA, M. G.. Paradigmas do Turismo. 1. ed. Goiânia: Editora Alternativa, 2003. 176 p . ALMEIDA, M. G.. Abordagens Geográficas de Goiás: o natural e o social na contemporaneidade. CDU. ed. Goiânia: IESA - CEGRAF UFG, 2002. 260p ARTIGOS ( 113 artigos desde 1986. Em 2020 e 2021) 1.ALMEIDA, M. G.; MENEZES, S. S. M. . Pamonha, Alimento Identitário e Territorialidade. MERCATOR (FORTALEZA. ONLINE), v. 20, p. 1-15, 2021. 2.ALMEIDA, M. G.. O Caminho de Cora Coralina - Turismo Literário ou Marketing do Turismo?. REVISTA SAPIÊNCIA: SOCIEDADE, SABERES E PRÁTICAS EDUCACIONAIS, v. 9, p. 237-249, 2020. 3.FREITAS, J. S. ; ALMEIDA, M. G. . As (Não)Representações da Paisagem no Movimento Cubista: percursos e inquietações geográficas nas pinturas de Albert Gleizes. Caminhos da Geografia (UFU. Online), v. 21, p. 87-107, 2020. 4.ALVES, E. C. ; ALMEIDA, M. G. ; SILVA JUNIOR, A. R. . GEOPOESIA E TERRITÓRIO: A CONSTITUIÇÃO DAS IDENTIDADES KALUNGA EM MIMOSO - TO. REVISTA GEONORDESTE, v. 1, p. 93-110, 2020. 5.MOREIRA, JORGEANNY DE FÁTIMA R. ; DE ALMEIDA, MARIA GERALDA . Turismo y desarrollo en la Comunidad Quilombola de Engenho II en Cavalcante, Goiás, Brasil. ANALES DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, v. 40, p. 115-133, 2020. 6. SOUZA JUNIOR, C. R. B. ; ALMEIDA, M. G. . Geografias criativas: afinidades experienciais na relação arte-geografia. SOCIEDADE & NATUREZA (UFU. ONLINE), v. 32, p. 484-493, 2020. 7.ALMEIDA, M. G.. Povos indígenas, identidades territoriais e territorialidades fragilizadas no norte do Amapá, Brasil. Ateliê geográfico (UFG), v. 14, p. 91-111, 2020. 8.ALMEIDA, M. G.; MACHANGUANA . UKANYI E GWAZA MUTINE- FESTEJOS CULTURAIS E IDENTITÁRIOS EM MAPUTO E GAZA - MOÇAMBIQUE. GEO UERJ (2007), p. e53911-e53924, 2020. 9.ALMEIDA, M. G.. O geógrafo fenomenólogo: sua oralidade e escrita no/do mundo. Geograficidade, v. 10, p. 38-47, 2020. 10.ALMEIDA, MARIA GERALDA DE. Paisagens e Desenvolvimento Local: inventário, análise e estudo de Chibuto (Moçambique). IBEROGRAFIAS: REVISTA DE ESTUDOS IBÉRICOS, v. 16, p. 223-232, 2020. 11.GONCALVES, L. R. F. ; ALMEIDA, M. G. . Identidade Territorial e Discursos Ideológicos. BOLETIM DE GEOGRAFIA (ONLINE), v. 38, p. 18-32, 2020. 12.FARIA, K. M. S. ; ALMEIDA, M. G. . O discurso e a prática do Ecoturismo na visão desenvolvimentista em Comunidades de Quilombolas em Goiás, Brasil. CONFINS (PARIS), v. 48, p. 1-15, 2020. 13 MESQUITA, L. P. ; ALMEIDA, M. G. . Vender, comprar, trocar e socializar: a participação das mulheres nas feiras de Mambaí e Posse no estado de Goiás, Brasil. CONFINS (PARIS), v. 48, p. 1-8, 2020. CAPITULOS DE LIVROS - SELECIONADOS 1 ALMEIDA, M. G.. A presença da Geografia Cultural na Pós-Graduação em Geografia NPPGEO Universidade Federal de Sergipe. In: MENEZES, Sonia.S.M. PINTO, Josefa.E.S.S.. (Org.). Geografias e geograficidades: escolhas, trajetórias e reflexões. 1ed.São Cristóvão: UFS, 2020, v. , p. 89-110. 2.MOREIRA, J. F. R. ; ALMEIDA, M. G. . Comunidades, territorios y turismo en América Latina. In: Lilia Zizumbo Villarreal; Neptalí Monterroso Salvatierra. (Org.). Comnunidad Tradicional Remanente Del Quilombo Y La Actividad Turística Para El Desarrollo En El Engenho II - Cavalcante - Goiás - Brasil. 1ed.México, D.F.: Editorial Torres Asociados, 2020, v. , p. 1-485. 3.SOUZA JUNIOR, C. R. B. ; ALMEIDA, M. G. . Geopoéticas do Lugar nas Margens dos Rios Paraopeba e Loire: Artes (Contemporâneas) de Habitar a Terra. In: DOZENA, Alessandro (Org.).. (Org.). Geografia e Arte. 1ed.Natal: Caule de Papiro, 2020, v. 1, p. 95-140. 4.RIGONATO, Valney Dias ; ALMEIDA, MARIA GERALDA DE . R-existências dos Geraizeiros Baianos e o Front do Agro-Energia-Negócios: Comunidades Geraizeiras do Baixo Vale do Rio Guará, São Desidério, na Mesorregião do Extremo Oeste da Bahia. In: Josefa de Lisboa Santos; Eraldo da Silva Ramos Filho; Laiany Rose Souza Santos. (Org.). Ajuste Espacial do Capital no Campo: questões conceituais e R-existências. 1ed.Aracaju: ArtNer Comunicação, 2019, v. 1, p. 61-82. 5. ALMEIDA, MARIA GERALDA DE. Observar e entender o lugar rural: trilhas metodológicas. In: MUNDIM VARGAS, M. A.; SANTOS, D; L; VILAR, J. W. C; OLIVEIRA, E. A.. (Org.). Tempos e Espaços da Pesquisa Qualitativa. 1ed.Aracaju: IFS, 2019, v. 1, p. 45-70. 6. ALMEIDA, M. G.. Observar e entender o lugar rural: Trilhas metodológicas. In: MUNDIM VARGAS, M. A.; SANTOS, D; L. (Org.). Tempos e Espaços da Pesquisa Qualitativa. 1ed.Aracaju: Criação Editora, 2018, v. 1, p. 45-. 7.ALMEIDA, M. G.; MOURA, M. R. P. ; SILVA, M. A. V. ; BRETAS, I. F. ; D`ABADIA, M. I. V. ; MOTA, R. D. . Vamos Festar! Festas populares em Goiás. In: MARIA GERALDA DE ALMEIDA. (Org.). Territórios de Tradições e de Festas. 1ed.CURITIBA: UFPR, 2018, v. 1, p. 93-108. 8. MACHANGUANA, C. A. ; ALMEIDA, M. G. . Ukanyi, Festejos, patrimônio e celebrações em Maputo e Gaza - Moçambique: proposta para um roteiro turístico rural. In: Sarmento, Cristina Montalvao; Guimarães, Pandora; Moura, Sandra. Associacao das universidades de lingua portuguesa (AULP). (Org.). Patrimônio histórico do espaço lusofono - ciência, arte e cultura. 1ed.Lisboa, Portugal: Europress, 2018, v. 1, p. 1-12. 9. MARQUES, A. C. N. ; ALMEIDA, M. G. . "Vivendo entre lugares": preâmbulos sobre a trajetória dos grupos étnicos no Litoral Sul, Paraíba - Brasil. In: ETEC - Red Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura; TERRITORIALIDADES, Grupo de Investigação.. (Org.). Paisajes productivos y desarrollo económico territorial: conflictos culturales, económicos y políticos. 1ed.Manizales: Universidade de Caldas,Colombia, 2016, v. , p. 211-232. 10.ALMEIDA, M. G.. A valorização da paisagem turística e os conflitos sociais e econômicos no/do território afro descendente Kalunga - Goiás - Brasil. In: RETEC - Red Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura; TERRITORIALIDADES, Grupo de Investigação.. (Org.). Paisajes productivos y desarrollo económico territorial: conflictos culturales, económicos y políticos. 1ed.Manizales: Universidade de Caldas,Col,ombia 2016, v. 1, p. 233-253. 11. ALMEIDA, M. G.. Sentimentos e representaçoes nas tessituras de paisagem e patrimonio. In: Lilia Zizumbo Villarreal; Neptali Monterroso Salvatierra. (Org.). La Configuración Capitalista de Paisajes Turísticos. 1ed.Cidade do México: Editora da Universidad Autónoma del Estado de México, 2015, v. , p. 1-. 12. ALMEIDA, M. G.. As espacialidades do patrimonio festivo, e ressignificações contemporâneas no Brasil, Colombia e no México. In: Romancini, Sonia Regina; Rossetto, Onélia Carmem; Nora, Giseli Dalla. (Org.). Neer - as representações culturais no espaço: perspectivas contemporâneas em geografia. 1ed.Porto Alegre - RS: Editora Imprensa Livre, 2015, v. 1, p. 106-138. 13. MARTINS, L. N. ; ALMEIDA, M. G. . Encontros e distanciamentos entre a religiosidade kalunga e o catolicismo oficial: um olhar para as singularidades do lugar na festa de Nossa Senhora Aparecida. O Território e a comunidade Kalunga: Quilombolas em diversos olhares. 1ed.Goiânia: Gráfica UFG, 2015, v. 1, p. 279-304. 14. ALMEIDA, M. G.. Os territórios e identidades dos Kalunga de Goiás. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). O Território e a comunidade Kalunga: Quilombolas em diversos olhares. 1ed.Goiânia: Gráfica UFG, 2015, v. 1, p. 45-68. 15. ALMEIDA, M. G.. Agroecological sites as expressions of territorial identities and as perspectives to the traditional marginal populations development. Sustainable development in peripheral regions. 1ed.Warsaw: Publishing House of University of Warsaw, Polonia, 2015, v. 1, p. 75-92. 16. ALMEIDA, M. G.. Festas Rurais Tradicionais: novas destinações turísticas?. In: Artur Cristóvão; Xerardo Pereiro; Marcelino de Souza; Ivo Elesbão. (Org.). Turismo rural em tempos de novas ruralidades. 1ed.Porto Alegre: UFRGS, 2014, v. , p. 123-147. 17. ALMEIDA, M. G.. Etnodesenvolvimento e Turismo nos Kalunga do Nordeste de Goás. In: Ismar Borges de Lima. (Org.). ETNODESENVOLVIMENTO E GESTÃO TERRITORIAL: comunidades indígenas e quilombolas. 1ed.Curitiba: EDITORA CRV, 2014, v. 1, p. 195-212. 18. VIEIRA, L. V. L. ; ALMEIDA, M. G. . Conflitos Ambientais no litoral norte de Sergipe. In: José Wellington Carvalho Vilar; Lício Valério Lima Vieira. (Org.). Conflitos Ambientais em Sergipe. 1ed.Aracaju: IFS, 2014, v. , p. 11-. 19. MENEZES, S. DE S. M. ; ALMEIDA, M. G. . Reorientações produtivas na divisão familiar do trabalho: papel das mulheres do Sertão do Sâo Francisco (Sergipe) na produção do queijo de coalho.. In: Delma Pessanha Neves; Leonilde Servolo de Medeiros. (Org.). Mulhers camponesas: trabalho produtivo e engajamentos politicos.. 1ed.Niterói: Alternativa, 2013, v. 1, p. 129-146. 20. ALMEIDA, M. G.. O Catolicismo Popular e as Festas Religiosas das Comunidades Quilombolas Kalunga: Singularidades de um espaço camponês. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). Manifestações do Catolicismo. 1ed.Goiânia: Funape, 2013, v. , p. 399-419. 21. TAVARES, M. E. G. ; ALMEIDA, M. G. . Fronteiras Étnico-Raciais - O Negro na Formação da Cultura Tocantinense. In: Roberto de Souza Santos. (Org.). Território e Diversidade Territorial no Cerrado: Cidades, Projetos Regionais e Comunidades Tradicionais. 1ed.Goiânia: Kelps, 2013, v. 1, p. 211-232. 22. ALMEIDA, M. G.. Sentidos das Festas no Território Patrimonial e Turístico. In: COSTA, Everaldo Batista da; BRUSADIM, Leandro Benedini; PIRES, Maria do Carmo. (Org.). Valor patrimonial e turismo: limiar entre história, território e poder. 1ed.São Paulo: Outras Expressões, 2012, v. , p. 157-171. 23. ALMEIDA, M. G.. Fronteiras sociais e identidades no território do complexo da usina hidrelétrica da Serra da Mesa-Brasil. In: Francine Barthe-Deloizy; Angelo Serpa. (Org.). Visões do Brasil: Estudos culturais em Geografia. 1ed.Salvador BA: EDUFBA; Edições L'Harmattan, 2012, v. , p. 145-166. 24. ALMEIDA, M. G.; Identidades territorias em sítios patrimonializados: comunidades de quilombola, os kalungas de Goiás. In: Izabela Tamaso e Manuel Ferreira Lima Filho. (Org.). Antropologia e Patrimônio Cultura: trajetória e conceitos. 1ed.Brasília - DF: ABA- Associação Brasileira de Antropologia, 2012, v. único, p. 245-263. 25. ALMEIDA, M. G.. Territorialidades em territórios mundializados - os imigrantes brasileiros em Barcelona-Espanha.. In: OLIVEIRA, V.;LEANDRO, E. L.; AMARAL, J. J. O.. (Org.). Migração > Múltiplos Olhares. Porto Velho: Editora da Un. Fed. de Rondônia, 2011, v. , p. 135-155. 26.ALMEIDA, M. G.. O patrimônio festivo e a reinvenção da ruralidade e territórios emergentes de turismo no espaço rural.. In: SOUZA, M. de.; ELESBÃO, I.. (Org.). Turismo rural - iniciativas e inovações. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2011,. 27. ALMEIDA, M. G.. As tradições reinventadas e pretensões de serem objetos turísticos: a folia de Santo Antônio nos Kalunga - Goiás. In: IGLESIAS, M.C.C.. (Org.). Patrimônio turísticos en Iberoamérica: experiencias de investigación, desarrollo e innovación. 1ed.Santiago de Chile: Ediciones Universidad Central de Chile, 2011, v. , p. 404-414. 28. SOUZA, S. M. ; ALMEIDA, M. G. ; CERDAN, Claire T. . As fabriquetas de queijo e a configuração do territorio queijeiro no Sertão Sergipano do São Francisco-Brasil: enraizamento cultural e inovação. In: François Boucher y Virginie Brun (Coordinadores). (Org.). De la Leche al Queso : Queserías Rurales en América Latina. México, DF: Miguel Ángel Porrúa, 2011, v. , p. 171-198. 29. ALMEIDA, M. G.. A sedução do turismo no espaço rural. In: Eurico de Oliveira Santos; Marcelino de Souza. (Org.). Teoria e prática do turismo no espaço rural. 1ed.Porto Alegre: manole, 2010, v. 1, p. 33-46. 30. ALMEIDA, M. G.. Dilemas territoriais e identitários em sítios patrimonializados: os Kalunga de Goiás.. In: PELÁ, M.C.H; CASTILHO,D.. (Org.). Cerrados: perspectivas e olhares. Goiânia: Editora Vieira, 2010, v. , p. 113-129. 31. ALMEIDA, M. G.. Os cantos e encantamentos de uma geografia sertaneja de Patativa do Assaré. In: Eduardo Marandola Jr.; Lúcia Helena Batista Gratão. (Org.). Geografia e Literatura. Londrina: Editora Campus, 2010, v. , p. -. 32. ALMEIDA, M. G.. Nova "Marcha para o Oeste": turismo e roteiros para o Brasil Central. In: Marília Steinberger. (Org.). Territórios Turísticos no Brasil Central. Brasília: L.G.E Editora, 2009, v. , p. 83-108. 33 ALMEIDA, M. G.. Diáspora: viver entre-territórios. e entre-culturas?. In: Marcos Aurélio Saquet; Eliseu Savério Sposito. (Org.). Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos. 1ed.São Paulo: Expressão Popular, 2009, v. , p. 175-195. 34. ALMEIDA, M. G.. O sonho da conquista do Velho Mundo: a experiência de imigrantes brasileiros no viver entre territórios. In: Maria Geralda de Almeida; Beatriz Nates Cruz. (Org.). Território e Cultura: inclusão e exclusão nas dinâmicas socioespaciais. 1ed.Goiânia: Cegraf UFG, 2009, v. , p. 163-174. 35. ALMEIDA, M. G.. As ambiguidades do ser ex-migrante: o retorno e o viver entre territorios. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). Territorialidades na América Latina. 1ed.Goiânia: Cegraf UFG, 2009, v. , p. 208-218. 36. ALMEIDA, M. G.. Geografia Cultural: contemporaneidade e um flashback na sua ascensão no Brasil.. In: MENDONÇA, Francisco; LOWEN SAHR, Cicilian Luiza; SILVA, Márcia da. (Org.). Espaço e Tempo: Complexidade e desafios do pensar e do fazer geográfico. Curitiba: ADEMADAN, 2009, v. , p. 243-260. 37. ALMEIDA, M. G.. Diversidade paisagística e identidades territorias e Culturais no Brasil sertanejo. In: ALMEIDA, Maria Geralda;CHAVEIRO, Eguimar Felício; BRAGA,Helaine Costa. (Org.). Geografia e Cultura: os lugares da vida e a vida dos lugares. 1ed.Goiânia: Editora Vieira, 2008, v. 01, p. 47-74. 38. ALMEIDA, M. G.. Uma Leitura Etnogeográfica do Brasil Sertanejo. In: Angelo Serpa. (Org.). Espaços Culturais: Vivências, imaginações e representações. Bahia: EDUFBA - Editora da Universidade Federal da Bahia, 2008, v. , p. 313-336. 39. ALMEIDA, M. G.. La política de regiones turísticas en el espacio brasileño. In: Lília Zizumbo Villarreal, Neptalí Monterroso Salvatierra. (Org.). Turismo Rural y Desarrollo Sustentable. Cidade do México: Universidad Autónoma del Estado de México, 2008, v. , p. 11-24. 40. ALMEIDA, M. G.. Desafios e possibilidades de planejar o turismo cultural. In: Giovani Seabra. (Org.). Turismo de Base Local - Identidade cultural e desenvolvimento regional. 1ed.Joao Pessoa: Editora Universitária, UFPB, 2007, v. 1, p. 151-167. 41. ALMEIDA, M. G.. Fronteira de Visoes de Mundo e de Identidades Territoriais- o território plural do Norte Goaino- Brasil. In: Beatriz Nates Cruz; Manuel Uribe. (Org.). Nuevas Migraciones y Movilidades. Caldas: Centro Editorial Universidad de Caldas,Colombia, 2007, v. 1, p. 131-141. 42. ALMEIDA, M. G.. A Produção do Ser e do Lugar Turístico. In: SILVA, José. B.; LIMA, Luiz. C.; ELIAS, Denise. (Org.). Panorama da Geografia Brasileira 1. São Paulo: Anna Blume, 2006, v. , p. 109-122. 43. ALMEIDA, M. G.. Identidade e sustentabilidade em territórios de fronteira no Estado de Goiás-Brasil. In: VALCUENDE DEL RIO, Jose Maria; CARDIA, Lais Maretti. (Org.). Territorialização, Meio-Ambiente e Desenvolvimento no Brasil e na Espanha / Territorialización, médio ambiente y desarollo em Brasil y en España. 00ed.Rio Branco: EDUFAC, 2006, v. 00, p. 185-206. 44. ALMEIDA, M. G.; ANJOS, J. L. ; ANJOS, R. L. C. C. . |Representações da reserva legal em assentamentos rurais no semi-árido sergipano. In: Dalva Maria da Mota; Heribert Schmitz; Helenira E. M. Vasconcelos. (Org.). Agricultura Familiar e abordagem sistêmica. Aracaju: Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção, 2005, v. , p. 145-164. 45. ALMEIDA, M. G.. A captura do Cerrado e a precarização de territórios: um olhar sobre sujeitos excluídos. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). Tantos Cerrados: múltiplas abordagens sobre a biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira, 2005, v. , p. -. 46. ALMEIDA, M. G.. Em busca da poética do sertão: um estudo de representações. In: Maria Geralda de Almeida; Alecsandro J. P. Ratts. (Org.). Geografia: leituras culturais. Goiânia: Alternativa, 2003, v. , p. 71-88. 47. ALMEIDA, M. G.. Lugares turísticos e a falácia do intercâmbio cultural. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). Paradigmas do turismo. Goiânia: Alternativa, 2003, v. , p. 11-19. 48. ALMEIDA, M. G.; DUARTE, Ivonaldo Ferreira . Perspectivas para o desenvolvimento doturismo no norte de Goiás. In: Maria Geralda de Almeida. (Org.). Paradigmas do Turismo. Goiânia: Alternativa, 2003, v. , p. 149-172. 49. ALMEIDA, M. G.. POLÍTICAS PUBLICAS E O DELINEAMENTO DO ESPAÇO TURÍSTICO GOIANO. In: MARIA GERALDA DE ALMEIDA. (Org.). ABORDAGENS GEOGRAFICAS DE GOIAS. 1ed.GOIANIA: EDITORA DA UFG, 2002, v. 1, p. 197-222. 50. ALMEIDA, M. G.. Culture et Territorialité - Le 'Sertão'brésilien Revisité. In: ORSTOM. (Org.). Território y Cultura. Territorios de conflito y cambio socio cultural.. Colombia: Universidad de Caldas, Manizale, 2002, v. , p. 309-324. 51. ALMEIDA, M. G.. Algumas inquietações sobre ambiente e turismo. In: MENEZES, A. V.; PINTO, J. E. S. S.. (Org.). Geografia 2001. 1ed.Aracaju: NPGEO/UFS, 2000, v. , p. 51-64. 52. ALMEIDA, M. G.; COSTA, M. C. L. . Travail, loisir et tourisme: territoire et culture en mutation. L'exemple de Beira-Mar, Fortaleza - Brésil. In: SANGUIN, A. L.. (Org.). Geógraphies et liberté: mélanges en hommage à Paul Claval. 1ed.Paris: L'Harmattan, 1999, v. , p. 337-345 53. ALMEIDA, M. G.; VARGAS, M. A. M. . A Dimensao Cultural do Sertao Sergipano. In: José Alexandre Felizola Diniz; Vera Lúcia Alves França. (Org.). CAPITULOS DE GEOGRAFIA NORDESTINA. ARACAJU: NPGEO/UFS, 1998, v. , p. 469-485. 54.ALMEIDA, M. G.. Turistificacão - Os Novos Atores e Imagens do Litoral Cearense.. In: AGB - ASSOC. GEOGR. BRASILEIROS. (Org.). NORDESTE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ASSOCIAÇÃO DOS GEOGRAFOS. JOAO PESSOA - PB: UFPB - AGB - JOAO PESSOA, 1997, v. , p. 27-36. 55. ALMEIDA, M. G.. Turismo e Os Novos Territorios No Litoral Cearense. In: Adyr B. Rodrigues. (Org.). TURISMO E GEOGRAFIA - REFLEXOES TEORICAS E ENFOQUES REGIONAIS.. SAO PAULO - SP: HUCITEC, 1996, v. , p. 184-190. 56. ALMEIDA, M. G.. Fortaleza: Les Paysages Et La Construction Des Territorialites.. In: ORSTOM. (Org.). ACTES DU COLLOQUE LE TERRITOIRE, LIEN OU FRONTIERE?. PARIS: ORSTOM, 1996, v. , p. -. 57. ALMEIDA, M. G.. A Problematica do Extrativismo e Pecuaria do Estado do Acre.. In: KOHLHEPP, G.; SCHRADER, A.. (Org.). HOMEM E NATUREZA NA AMAZONIA / HOMBRE Y NATURALEZA EN LA AMAZONIA.. TUBINGEN-RFA: TUBINGEN GEOGRAPHISCHE STUDIEN, 1987, v. , p. 222-236 MARCELO JOSE LOPES DE SOUZA FRONTEIRAS, CAMINHOS E TRINCHEIRAS: UM RESUMO DA MINHA TRAJETÓRIA ACADÊMICA E UM BALANÇO DOS RESULTADOS DE MEU TRABALHO CIENTÍFICO (1986 – 2014) Marcelo Lopes de Souza (Rio de Janeiro, dezembro de 2014) Fronteiras, caminhos e trincheiras: Um resumo da minha trajetória acadêmica e um balanço dos resultados de meu trabalho científico (1986 – 2014) "Não quero acabar o dia de hoje sem escrever que tenho os olhos cansados, acaso doentes, e não sei se continuarei este diário de fatos, impressões e ideias. Talvez seja melhor parar. (...) Qual! Não posso interromper o Memorial; aqui me tenho outra vez com a pena na mão. Em verdade, dá certo gosto deitar ao papel coisas que querem sair da cabeça, por via da memória ou da reflexão. Machado de Assis, Memorial de Aires" PRÓLOGO Mesmo para alguém que, como eu, tem por costume refletir sistemática e criticamente sobre o seu próprio trabalho com as preocupações de 1) monitorar a coerência e o acerto das escolhas e 2) evitar cometer novamente eventuais erros do passado, fazer um balanço da própria carreira não há se ser um exercício trivial e isento de riscos. É sobejamente conhecido que autores são, frequentemente, juízes muito imperfeitos de suas próprias obras. Não é incomum que isto ou aquilo seja superestimado, ou que, às vezes, justamente por acautelar-se em demasia diante do espectro do narcisismo (ou seja, deste que parece ser um lamentável atributo da maioria dos intelectuais), termine-se por subestimar essa ou aquela realização. Isso sem falar nas lacunas ou omissões, nos exageros involuntários, nos erros de avaliação e em outros pecados e pecadilhos. Porém, é esta a tarefa que se me impõe, e dela tentarei me desincumbir da forma mais honesta que me for possível. Para evitar, precisamente, superestimar ou subestimar o alcance e a utilidade de certas atividades e ideias, busquei ser parcimonioso no que se refere ao julgamento da qualidade das minhas contribuições. Isso, aliás, é totalmente condizente com o significado maior da ciência: se o que importa é a produção de um conhecimento que seja, ao fim e ao cabo, reconhecido coletivamente como válido e quiçá como útil, o que conta é o julgamento alheio dos pares, dos estudantes e do público em geral, e não tanto o juízo que possa dele fazer o próprio autor. Nas páginas que se seguem, procurei realizar o difícil exercício de submeter a um escrutínio crítico aquilo que fiz e tenho feito, mas sem incursionar demasiado, embalado seja por vaidade, seja por modéstia, no terreno da valoração das contribuições. A ressalva anterior não me impede e nem mesmo me exime, contudo, de fazer uma autocrítica e de proceder a juízos de valor sobre o meu caminhar. Na verdade, é isso que se espera e exige de um memorial. A propósito disso, uma das coisas que, por uma questão de lógica e “cronologia”, e mesmo por razões pedagógicas não é à toa que se trata de algo que incorporei, já há anos, ao repertório das coisas que repito incansavelmente para os meus orientandos, merece, já agora, ser lembrada, é que, independentemente dos erros e dos acertos, é necessário apostar, e apostar sempre, na combinação de pertinácia (não desistir diante de obstáculos, por maiores que sejam!) e paciência (tão necessária a um pesquisador brasileiro...). Essas são, talvez acima de todas as outras, as qualidades que um cientista precisa cultivar. Essas têm sido, desde a adolescência, as qualidades que tenho perseguido. E a isso se pode, também, acrescentar a minha convicção sobre a necessidade de planejamento e preparação: não se lançar em uma empreitada, seja a redação de um volumoso livro ou a de um simples artigo, se os pressupostos para a produção de um trabalho consistente ainda não tiverem sido satisfeitos. Não se trata isso, evidentemente, de qualquer “receita de sucesso”, daquelas que abundam nos chamados livros de “autoajuda”. O que aqui desejo frisar é, por assim dizer, uma intencionalidade ou disposição básica; e, mais que isso, uma espécie de “método [de trabalho]” (no sentido amplo e etimológico: méthodos [gr.] = caminho para se atingir um fim). Nunca esqueci da recomendação de Marx, resumida por ele no prefácio da segunda edição (alemã) de O Capital: em meio a uma distinção entre o método de exposição e o método de investigação, frisava ele a importância de, antes de pôr-se a (tentar) apresentar o movimento da realidade, buscar apropriar-se, o mais pormenorizadamente possível, do material (o conhecimento) que viabiliza uma tal exposição, ou ao menos uma exposição coerente e convincente. Ou, como ele aconselhou alhures: antes de escrever, leia tudo o que for necessário, leia tudo o que lhe for possível ler sobre o assunto em questão. Em uma época como a nossa, em que vários fatores conspiram para estimular a pressa e trazer à luz, em congressos e publicações, trabalhos em que se desconhece grande parte da literatura especializada, tais palavras de Marx podem soar extemporâneas, anacrônicas. Mas lutar para defender a perenidade desse ensinamento corresponde, a meu ver, a combater um bom combate. Nem é preciso dizer que tentar assimilar essas qualidades nem sempre evitou problemas ou decisões das quais eu me arrependeria. Afinal, o erro é inerente à ciência e, mais amplamente, à vida e à condição humana, como advertia Sêneca: errare humanum est. Apesar disso, busquei, sempre, não esquecer, também, da famosa ressalva atribuída a S. Bernardo, segundo a qual “persistir no erro é diabólico” (perseverare autem diabolicum)... Espero assim, pelo menos, ter errado muito menos do que poderia ter errado se tivesse dado menos atenção à necessidade de cultivar valores e hábitos como pertinácia, paciência (esta, no meu caso, às vezes em dose menor do que deveria ter sido o caso) e planejamento + preparação. Antes que pareça, porém, que estou a magnificar quaisquer atributos pessoais, no estilo de um enaltecimento de decisões individuais, cumpre deixar claro que sei muito bem que, muito mais que “tomar decisões”, fui, acima de tudo, modelado por circunstâncias da minha vida, para o bem e para o mal. Sem pertinácia e sem planejamento + preparação, provavelmente um filho de operário (tecelão) talvez nem sequer chegasse a uma graduação na UFRJ, a prestigiosa e reverenciada “Federal”, no começo dos anos 1980. E, sem paciência, talvez as condições de estudo em um lar em constante estado de tensão e conflito tivessem me levado não para os livros, mas sim para os mesmos descaminhos trilhados por vários coleguinhas dos tempos de infância e adolescência, na periferia e, depois, no subúrbio do Rio de Janeiro. A decisão pelos livros, no sentido de uma decisão soberana, madura e consciente, veio mais tarde, não nos primeiros anos da década de 70; por essa época, a leitura era, isso sim, um porto seguro, um refúgio, um alívio. E, cada vez mais, um prazer indescritível. É válido, talvez, observar, como mais uma nota um pouco mais pessoal seja-me permitido isso em um memorial, que levar a sério o supracitado ensinamento de Marx, com o qual topei em 1982 (“antes de escrever, leia tudo o que for necessário”), exigiu de mim uma grande dose de disciplina. Isso, que soa óbvio, uma vez que se aplica a qualquer um, é, talvez, particularmente válido no meu caso, já que, no plano das relações interpessoais extra-acadêmicas, volta e meia agi impulsivamente, na juventude e também depois. É por isso curioso, para mim mesmo, que, em meu trabalho científico, eu tenha conseguido, já relativamente cedo, pôr em prática objetivos como ponderação e paciência. (Uma vez mais: não quero, com isso, de modo algum sugerir que, graças a essa assimilação, inicialmente uma simples intuição, alcancei sempre resultados corretos. Isso, insisto, deixo, por razões éticas e até de etiqueta, para outros avaliarem. O que me parece é que, pelo menos, aprendi cedo a incorporar algumas premissas do trabalho científico, e não creio que isso seja desimportante.) Hoje em dia, ao lançar um olhar retrospectivo sobre a minha carreira, é inevitável que eu a veja entrelaçada com outros aspectos da minha vida. E é inevitável a constatação de que teria sido muito bom se eu tivesse sempre sabido ou conseguido, também em minha vida pessoal, assimilar e aplicar, consequentemente, as virtudes da ponderação e da paciência... A despeito dos dissabores que um temperamento apaixonado e arrebatado me possa ter trazido em meus anos de juventude temperamento esse perfeitamente capaz, mas geralmente apenas na solidão de uma biblioteca, e diante do bloco de notas ou do computador, de deixar-se amansar, consegui não permitir que, ao menos no ambiente de convívio profissional, divergências de qualquer espécie me afastassem da possibilidade de aprender. Com efeito, desfrutei da companhia e dos ensinamentos de alguns dos melhores pesquisadores e professores da minha época de formação. Orlando Valverde, no belíssimo prefácio da coletânea Capítulos de Geografia Tropical e do Brasil, da autoria de seu mestre Leo Waibel, relembra que, em determinada ocasião, um intrigante tentara atiçar Waibel contra um de seus assistentes (ao que tudo indica, o próprio Orlando), diante do que o geógrafo alemão, incisivamente, assim reagiu: “a mim não interessam as ideias políticas dele, mas sim as suas ideias científicas” (VALVERDE, 1979:15). Quando li esse prefácio, eu ainda nem sequer havia entrado para o curso de graduação. (1) Mesmo assim, nessa época, eu era um adolescente que já cultivava, por influência paterna (mais indireta até que direta, devido a temores compreensíveis durante o Regime Militar), o contato com a literatura política de esquerda, de modo que, por um lado, qualquer separação rígida entre as “ideias científicas” e as “ideias políticas” me soaria artificial. Por outro lado, e apesar disso, a frase de Waibel (verdadeira admoestação), citada naquele contexto por alguém como Orlando Valverde, geógrafo que não se furtou, especialmente a partir de uma determinada época de sua vida, a engajar-se publicamente por diversas causas, fez muito sentido para mim. Mais que isso: me marcou profundamente. No mesmo prefácio, aliás, podem ser encontradas duas outras frases, estas da lavra do próprio Orlando, que nos ensinam: “[a] personalidade do sábio é indivisível. O homem de ciência não pode ser dissociado do homem de caráter.” (VALVERDE, 1979:13). Para mim, duas coisas ficaram indelevelmente impregnadas em meu espírito, acredito que a partir do momento em que li essas linhas: o imperativo da tolerância, buscando aprender com aqueles que, mesmo professando, às vezes, valores outros, diferentes dos meus, teriam algo ou mesmo muito a me ensinar; o imperativo do respeito pela coerência de uma trajetória, muito especialmente quando embebida em um espírito humanista. Às vezes, quando me flagro agindo ou inclinado a agir de um modo que se situa ou ameaça situar-se aquém desse padrão de comportamento, as palavras de Orlando no prefácio do livro de Waibel vêm à minha cabeça e me lembram daquilo que jamais deveria esquecer, apesar das tentações que se nos oferecem em um mundo acadêmico tão deformado pelo burocratismo e, cada vez mais, pela mercantilização do conhecimento. Manter Orlando próximo a mim, mesmo depois de o destino o roubar de nós em 2006, continua a ser uma das circunstâncias que me permitem confessar, não sem uma pontinha de orgulho: me arrependo de umas tantas coisas, desde o início de minha vida acadêmica e até agora; mas, felizmente, não me envergonho de nada. Tentar não desapontar um mestre tão querido e essencial, mesmo após ele se ter convertido em memória, permanece sendo um incentivo e um norte. Além do próprio Orlando Valverde, tive a fortuna de desfrutar, como assistente, orientando e/ou aluno, da presença e das palavras, e destacadamente dos conselhos e das críticas, de alguns dos profissionais mais admiráveis que um geógrafo brasileiro poderia ter tido a honra de conhecer pessoalmente. Por dever de justiça, três precisam ser lembrados com o devido relevo: Roberto Lobato Corrêa, Mauricio de Almeida Abreu e Lia Osório Machado. Muito embora em 1983, durante o meu segundo ano na graduação, eu já tivesse “me bandeado para a Geografia Urbana”, como carinhosamente (e de maneira um pouquinho doída) me dizia, de tempos em tempos, Orlando, a influência intelectual e moral de Roberto Lobato e Mauricio Abreu sobre mim, que se concretizou a partir da segunda metade da década de 80, é algo que jamais poderia ser enfatizado o suficiente. Maurício Abreu, após fazer acerbas e, conforme reconheci quase de pronto, justíssimas críticas ao meu estilo de escrever, às vezes um tanto hermético, possivelmente ficou surpreso quando, por isso mesmo, eu lhe perguntei, poucos dias depois da defesa da minha monografia de bacharelado, se ele aceitaria ser o meu orientador de mestrado. Lembro-me, até hoje, da conversa que tivemos, e como ele, após aceitar de imediato o meu pedido, fez-me alguns elogios e deu-me alguns conselhos que nunca esquecerei. As duras e certeiras palavras de Maurício Abreu dono de uma prosa límpida, elegante, praticamente sem igual na Geografia brasileira dos dias de hoje forçaram o amadurecimento de meu estilo. Catalisaram, por assim dizer, a sua lapidação, o seu burilamento. Isso sem contar a importância que, para muito além disso, a consistência da obra de meu ex-orientador de mestrado sempre teve para mim, como fonte de inspiração em matéria não só de ideias, mas também de exemplo emblemático de dignidade acadêmica. Mas, não menos relevante foi a influência da obra e da personalidade de Roberto Lobato Corrêa. A integridade intelectual de Roberto Lobato; a sua capacidade de expor sistematicamente as ideias; o apreço simultâneo pelo labor teórico e pelo trabalho empírico; a sua disciplina de trabalho, a começar pela exposição em sala de aula: tudo isso, posso dizer sem exagero, sempre me causou enorme e duradoura impressão. De Roberto Lobato não fui orientando, com o fui de Maurício Abreu, mas sim “somente” aluno (durante o curso de mestrado); tive, por outro lado, a felicidade de dividir a mesma sala com ele durante toda a segunda metade da década de 90, e graças a isso pude, intensivamente, no quotidiano, direta (por meio de conselhos e sábias dicas) ou indiretamente (pela observação de seus hábitos de trabalho), aprender muitas coisas. Por fim, Lia Osório Machado. Fui bolsista de iniciação científica, sob a sua supervisão (mas vinculado a um projeto de pesquisa coordenado por Bertha Becker), em 1982. Para um rapazola de 18 anos de idade, com ideias às vezes extravagantes na cabeça e sonhos de se tornar um pesquisador respeitado, o encontro com Lia Machado foi um turning point. É muito difícil, na realidade, falar de Lia Machado, ainda hoje, com mais razão que emoção, tamanha a admiração que sempre nutri por ela. Tornamo-nos amigos praticamente de imediato, ou por outra: cientificamente, ela “me adotou”, coisa que muito me envaidecia. Talvez tenha envaidecido até demais, e por conta disso houve uma fase de distanciamento, felizmente superada, no início dos anos 1990, por uma nova fase de amizade já então em um patamar muito superior, graças ao amadurecimento do antigo pupilo. Lia Machado “fez a minha cabeça”, talvez antes de mais nada por suas ímpares coragem e sinceridade intelectuais, qualidades que costumam ser atemorizantes e intimidadoras em alguém tão incrivelmente perspicaz e brilhante como ela. Contudo, como aprendi muito cedo a conhecer e apreciar o lado que alguns teimam em não enxergar direito a busca por ajudar e ser construtiva e o entusiasmo e mesmo o carinho ao tentar ajudar a encaminhar a carreira de um jovem pesquisador ou uma jovem pesquisadora, nunca me senti intimidado, mas sim, sempre, gratificado. Gratificado e honrado. Se digo tudo isso, se presto tais tributos e reconheço as minhas dívidas (e, obviamente, outras tantas poderiam ser mencionadas.) (2), é por um incontornável dever de justiça. Duplamente, aliás. Não somente naquele sentido mais trivial, aquele que se refere ao dever de agradecer a quem devemos algo. Não é só de gratidão que se trata aqui, mas também de realismo e, quase me arriscaria a dizer, de cautela. O leitor há de perceber que me empenhei para construir uma trajetória que fosse, acima de tudo ou pelo menos, coerente. Independentemente de o quanto acertei ao longo dela, acredito que, em si mesmo, esse objetivo de não perder a coerência, orientado pela intransigência de princípios e pela firmeza de propósitos, foi e tem sido, no geral, alcançado. Em decorrência disso, a satisfação que deriva de uma certa sensação de vir cumprindo com aquilo que vejo como a minha obrigação pode, aqui e acolá, ser confundido com o cabotinismo de quem exagera ou se delicia em demasia com o próprio papel. Nada me amofinaria mais que isso, pois uma tal interpretação da minha trajetória e do meu papel não passa pela minha cabeça. Por convicção até (político-)filosófica, bem sei que o indivíduo, tomado isoladamente, tem pouco ou nenhum significado real. Cada um de nós só existe, com tais e quais virtudes, e com tais e quais misérias, em um ambiente social determinado, que nos define e nos imprime as marcas de uma socialização condicionante. À luz disso, forçoso é, a começar por mim mesmo, ao lançar um olhar retrospectivo sobre como construí e o que fiz de minha vida profissional, constatar que, para cada obstáculo, para cada vicissitude, sempre ou quase sempre apareceu, em minha vida, um fator atenuante ou neutralizador: da minha mãe, que tudo fez e tudo suportou para me propiciar um lar, até os meus principais mestres e mentores na universidade, contei com apoios fundamentais. Por isso, deixando de lado todos os outros fatores e todas as outras escalas, de uma coisa tenho certeza: eu não poderia, agora, ao olhar para trás, ter a mesma sensação de ter trilhado um caminho profissional de que me orgulho, se não tivesse tido o privilégio de conviver com Orlando Valverde, Mauricio de Almeida Abreu, Roberto Lobato Corrêa e Lia Osório Machado. Quaisquer que sejam as minhas qualidades na suposição de que de fato existam e não sejam mero autoengano elas se apequenam ou, pelo menos, se relativizam ao serem considerados os ombros dos gigantes sobre os quais eu me apoiei e continuo a me apoiar. INTRODUÇÃO: CIÊNCIAS E FILOSOFIA, TEORIA E EMPIRIA O presente balanço cobre um período de quase três décadas. Não começo pelo ano de 1986 pela mera formalidade de ser ele o meu primeiro ano depois de concluído o curso de graduação, mas sim por ser o ano em que iniciei a minha pesquisa de dissertação de mestrado a qual foi a minha primeira empreitada científica de fôlego, tendo deitado raízes cujas pontas até hoje podem ser vistas em meu trabalho. Antes de passar em revista e avaliar criticamente o que fiz ao longo de quase três décadas, cumpre explicitar alguns pressupostos interpretativos subjacentes ao presente memorial. Na realidade, essas premissas me guiaram desde a juventude, e colaboraram para a formação de minha estratégia de trabalho e carreira. As ciências se distinguem da Filosofia porque, enquanto as primeiras são escravas de um esforço de exame sistemático da realidade empírica (ainda que, nem seria preciso dizer, sempre com um lastro teórico e a preocupação de retroalimentar a teoria!), a segunda está em seu elemento natural ao especular, mais ou menos livremente, sobre as “razões últimas” de ações e decisões “razões últimas” de natureza ética ou política, por exemplo, e que usualmente não se prestam ao jogo de “demonstrações” e exibição de “evidências” que a ciência tem como apanágio. É claro que a interrogação filosófica não pode, simplesmente, ignorar a empiria, o mundo da experiência sensível, tendo, inclusive, muito frequentemente, de levar em conta os resultados da ciência. Sua tarefa, porém, é, por assim dizer, mais abstrata que a da ciência: trata-se de propor as questões que deveriam orientar os próprios cientistas enquanto homens e mulheres de pensamento, nos planos ontológico, epistemológico, ético e político. As ciências nos auxiliam, de diferentes maneiras, a explicar e compreender como as coisas “são” e como “vieram a ser o que são” (ainda que, como sabemos, trate-se de um “ser” que é largamente “construído”, interpretado); nos ajudam, ademais, nas tarefas de desafiar e mudar o que “é”, tornando-o em algo diferente. A Filosofia, de sua parte, propõe as perguntas a propósito do sentido profundo das coisas, e, nesse sentido e dessa forma, também é, por excelência e quase que por definição, desafiadora. No que concerne especificamente à produção teórica por parte dos cientistas sociais, entre os quais grande parcela dos geógrafos almeja se ver incluída a despeito da inconfundível singularidade da Geografia (3) pode-se dizer que há três níveis de elaboração: 1) O nível das “macroteorias”. São elas grandes construções, referentes a fenômenos macrossociais, grandes escalas geográficas (global ou, de todo modo, internacional) e longa duração. São vastos edifícios interpretativos da dinâmica social ou sócio-espacial, possuindo, ao mesmo tempo, fortíssimas e diretas implicações metodológicas, do materialismo histórico marxista à “teoria da estruturação” giddensiana. Em parte com muita razão, mas em grande parte com exagero e niilismo, “macroteorias” (em particular aquelas denominadas “grandes relatos emancipatórios”, como o materialismo histórico e a psicanálise) foram postas sob suspeição no auge da “onda pós-moderna” nas ciências sociais e na Filosofia, em nome de um “minimalismo teórico” vulnerável ao empirismo e pouco afeito a dar atenção aos condicionamentos estruturais de alcance mais geral ou mesmo global. Na realidade, as “macroteorias” são, geralmente, criaturas intelectuais nitidamente “híbridas”, verdadeiras construções-ponte entre o plano teórico científico e o plano metateórico, situado este último na esfera da Filosofia. É comum que uma “macroteoria” seja, ao mesmo tempo, uma espécie de bússola para a pesquisa, um resultado do acúmulo de discussões teóricas, uma visão de mundo e uma elaboração filosófica (nos terrenos político-filosófico, ético, ontológico ou epistemológico, e não raro em todos eles). Não é à toa que “macroteorias” representam, por excelência, o casamento das ciências com a Filosofia. 2) O nível das “teorias de alcance médio”, ou “mesoteorias”. São teorias menos ambiciosas, que procuram dar conta de fenômenos mais circunscritos no tempo e no espaço como, por exemplo, a Teoria das Localidades Centrais, de Walter Christaller, ou a orientação teórica referente às transformações no “modo de regulação” e no “regime de acumulação” no transcurso da transição do “fordismo” para o “pós-fordismo”, desenvolvida pelos economistas críticos vinculados à chamada “Teoria da Regulação”. (4) 3) O nível das teorias bastante específicas, ou “microteorias”. São teorias que, sem jamais esquecer do geral como contexto de referência, buscam dar conta pormenorizadamente de fenômenos particulares. Elas procuram dar conta de processos específicos observáveis no interior de um tipo bem delimitado de formação sócio-espacial, como por exemplo as peculiaridades da “(hiper)precarização do mundo do trabalho” nos países capitalistas semiperiféricos contemporâneos. Os três níveis deveriam dialogar com a Filosofia, embora isso seja mais evidente, como eu postulei acima, naquele das “macroteorias” ou macroexplicações sobre a sociedade e o espaço. É comum que os dois outros níveis incorporem e reverberem questões metateóricas, tendo uma “macroteoria” como plano de mediação. Os três níveis também precisam, decerto, alimentar-se empiricamente, embora isso seja tão mais nítido quanto menor for o grau de generalidade explicativa e interpretativa. “Macroteorias”, em geral, se valem da empiria já digerida no âmbito de “teorias de alcance médio” e “microteorias”.(5) Em meu trabalho como pesquisador, tenho buscado, dentro de minhas limitações, oferecer algumas contribuições, por acanhadas que sejam, concernentes aos três níveis supramencionados. No entanto, é uma questão de sabedoria e prudência reconhecer que, quanto mais abstrato e abrangente é o esforço teórico, mais experiência se exige do pesquisador (para dizer o mínimo), de sorte que, no que diz respeito ao nível das “macroteorias”, minha intenção tem sido, no fundo, não mais que a de “desdobrar” e complementar um determinado arcabouço metateórico já existente (a abordagem filosófica da “autonomia”, conforme explicarei bem mais à frente). Tal “desdobramento” e tal complementação se traduzem em uma colaboração para tornar o dito arcabouço mais “operacional”, de acordo com as necessidades da pesquisa científica, e com base em uma decidida valorização da espacialidade, dele ausente em sua formulação inicial. O tipo de contribuição que tenciono e penso ter condições de oferecer, por conseguinte, não corresponde esclareça-se, para evitar mal-entendidos, a qualquer pretensão de pioneirismo no plano das macroexplicações sociais; na verdade, qualquer eventual traço de originalidade, se isso se puder conceder, será uma decorrência da tentativa de entrecruzar esforços preexistentes com um esforço analítico de longo prazo, fundamentado em investigações empíricas que, ao mesmo tempo em que nutrem minha reflexão teórica, servem de “campo de provas” para conceitos e formas de interpretação. Tenho, não posso e nem quero negar, uma paixão pela Filosofia que vem da adolescência. Se isso não me autoriza a ver-me como um “filósofo” e muito menos, evidentemente, a reivindicar qualquer contribuição original nesse terreno! , ao menos tem garantido que, no meu caso, investigação científica e interrogação filosófica caminhem sempre de mãos dadas, união cuja importância foi muito persuasivamente ressaltada por Cornelius Castoriadis (CASTORIADIS, 1978). Meus caminhos me têm levado a transgredir, decidida e convictamente, vários tipos de fronteiras, em alguns casos para questioná-las frontalmente (as fronteiras entre as diversas ciências sociais, que reputo como extremamente artificiais), em outros para tentar relativizá-las e torná-las mais porosas (a fronteira entre o labor científico e a interrogação filosófica e a fronteira entre o conhecimento científico e o “local knowledge” dos atores sociais imersos em seus “mundos da vida” [Lebenswelten]). No que se refere à dicotomia Geografia Física/Geografia Humana, nem sei se a palavra a ser usada seria “fronteira”; a mim me parece que se está diante, há tempos, isso sim, de um deplorável abismo, em face do qual tenho me empenhado pela (re)construção de pontes algo que a uns tantos soa como um exercício quixotescamente inútil. Advogar essas transgressões constitui, ao mesmo tempo, uma das principais trincheiras que, desde cedo, mediante a minha própria prática e o meu estilo de trabalho, tentei ajudar a cavar. O PAPEL E A DIMENSÃO ESPACIAL DOS ATIVISMOS URBANOS: MEUS PRIMEIROS PASSOS Realizei, na segunda metade dos anos 80, estudos empíricos e reflexões teóricas sobre ativismos urbanos, ao mesmo tempo em que aprofundava o meu contato com as contribuições de numerosos geógrafos e correntes do pensamento geográfico (Élisée Reclus, Paul Vidal de La Blache, Jean Brunhes, Leo Waibel, Carl Sauer, Richard Hartshorne, Max. Sorre e outros geógrafos “clássicos”; alguns escritos representativos da Geografia quantitativa; David Harvey, Edward Soja, Milton Santos e outros representantes da radical geography; Yi-Fu Tuan e Edward Relph como principais expoentes da humanistic geography; e assim sucessivamente), consolidava e ampliava a minha cultura filosófica e ampliava o universo de minhas leituras sobre a teoria das ciências sociais em geral. No tocante à Filosofia, se minhas leituras de antes dessa época já haviam incluído Platão e Aristóteles, Maquiavel, Thomas Morus, Campanella, Descartes, Kant, Bacon, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx e boa parte dos clássicos do marxismo, Nietzsche e Schopenhauer, além de bastante coisa especificamente sobre Filosofia da Ciência (por exemplo, diversos livros do epistemólogo brasileiro Hilton Japiassu, que foi meu professor na graduação), na segunda metade da década de 80 estenderam-se, sobretudo, na direção de uma complementação das minhas leituras sobre o marxismo (Lukács, Althusser, Escola de Frankfurt, K. Korsch, João Bernardo e outros), de um contato sistemático com os principais autores anarquistas do século XIX e seus escritos filosóficos e políticos (Proudhon, Bakunin, Kropotkin e Reclus, entre outros), de um envolvimento com as obras de Hannah Arendt, Michel Foucault e Félix Guattari e, finalmente, de um estudo sistemático da obra de Cornelius Castoriadis (autor que, mais que qualquer outro, viria a me influenciar duradouramente, e com cujas ideias eu começara a me envolver em meados de 1984). No que concerne à teoria das ciências sociais, dediquei-me, no período em questão, a estudar sistematicamente Sociologia (o que me levou, inclusive, a realizar um curso de especialização em Sociologia Urbana entre 1986 e 1987) e, secundariamente, a complementar as minhas leituras no terreno da Economia, já iniciadas durante a graduação. Para além de algumas propostas terminológicas e conceituais que depois, nos anos 90 e mais tarde, eu procurei refinar (como a diferença conceitual entre ativismo social e movimento social), o principal produto desse período foi a reflexão em torno da reificação do urbano, pedra angular de minha interpretação da força e da fraqueza dos ativismos urbanos contemporâneos (vide a minha dissertação de mestrado, intitulada O que pode o ativismo de bairro? Reflexões sobre as limitações e potencialidades do ativismo de bairro à luz de um pensamento autonomista). Em que consiste essa reificação? Como explorei melhor posteriormente (vide A6) (6), a reificação do urbano constitui, a meu ver, a chave para a compreensão da dificuldade primária de tantos e tantos ativismos urbanos das últimas décadas. Essa dificuldade assume algumas vezes (não muitas), perante os próprios ativistas, as características de um enigma a ser decifrado: o que ocasiona e porque é tão difícil vencer a persistente separação de frentes de combate como infraestrutura urbana e habitação, trabalho e renda, ecologia, gênero, etnia e outras mais? O ensimesmamento dessas frentes de combate não é apenas um fator de enfraquecimento “estático”, pela rarefação das chances de fecundação recíproca. No fundo, trata-se de ter de lidar com o problema do constante (res)surgimento de contradições: o militante ambientalista que, diante de uma favela, revela pouca sensibilidade social e reprocha aos posseiros urbanos por desmatarem uma encosta, culpabilizando-os simplisticamente; a intelectual feminista de classe média que oprime sua empregada fenotipicamente afrodescendente e favelada; o rapper de periferia que denuncia o racismo e a violência policial, mas que reproduz o machismo e a homofobia em suas letras e em seu comportamento; o trabalhador “de esquerda” que espanca a mulher e abusa da filha. Ao que parece, tudo conspira para que o espaço geográfico socialmente produzido seja, pelos atores, captado apenas em sua imediatez material, como um “dado”, como “coisa”. Em vez de ser apreendido holisticamente pelos sujeitos históricos, em vez de ser percebido na integralidade e na riquíssima dinâmica da sua produção, o espaço é apreendido parcelarizadamente. Atores diferentes, desempenhando papéis distintos, gravitam em torno de identidades propensas à compartimentação: da esfera do consumo e da reprodução da força de trabalho extraem-se o “consumidor” e o morador; da esfera da produção retira-se o trabalhador assalariado; na arena político-ideológico da proteção ambiental, tem-se o ambientalista; a problemática de gênero suscita as feministas; a seara da etnia compete ao militante afrodescendente ou indígena, e a seus equivalentes em outros países. Ora, uma tal apreensão parcelarizada do espaço e da problemática engendrada pela instituição total da sociedade antes embaraça que propicia o diálogo, o entrosamento e a sinergia de numerosos esforços específicos. A reificação do urbano converte a maneira de apropriação cognitiva do espaço em uma formidável barreira para a tomada de consciência e para a práxis emancipatória. Ao caducar a centralidade de uma identidade “proletária”, substituída, no transcorrer do século XX e em decorrência da derrota histórica do movimento operário e das transformações paralelas e subsequentes do capitalismo, por identidades e protagonismos múltiplos, seriíssimas implicações tiveram lugar. Percebido fenomenicamente antes como um produto, sem que a essência de seu multifacetado processo de produção seja apreendida, o espaço urbano é “coisificado”, e a própria totalidade concreta do social (relações sociais e espaço) é reificada. Grupos distintos estabelecem com o espaço laços não apenas distintos, mas amplamente desconectados entre si no plano político, dando ensejo à aparição de conflitos entre atores que, “objetivamente”, teriam interesse em ajudar-se mutuamente e unir forças. Os esforços de compreensão contidos em minha dissertação de mestrado foram, por assim dizer, o início de minha busca de contribuição para uma “teoria de alcance médio”, ou para aquilo que os alemães chamam de Theorieansatz (vide nota 4 e, adicionalmente, também a nota 5), referente ao papel e à dimensão espacial dos ativismos sociais urbanos no mundo contemporâneo. Foi, portanto, já nos anos 80, graças à minha dissertação de mestrado, que despertou-se em mim o interesse pela “geograficidade” (para usar uma expressão que, de maneiras diferentes, fora já empregada pelos geógrafos Éric DARDEL [1990] e Yves LACOSTE [1988]) dos ativismos sociais, assunto que eu iria continuar explorando pelas décadas seguintes, e até hoje (vide, por exemplo, B14, B16, C18 e C23). Na sua essência, perceber e valorizar essa dimensão espacial (ou “geograficidade”) se refere à capacidade de discernir e investigar diversas coisas, notadamente: as relações entre os espaços enquanto espaços vividos e percebidos, dotados de carga simbólica (“lugares”), e as identidades das “pessoas comuns” (isto é, não-ativistas de qualquer organização), muitas vezes “identidades espaciais” em sentido forte; a identidade dos ativistas e ativismos enquanto tais (muitas vezes um ativismo tem sua identidade, e portanto o perfil de sua agenda, condicionada por uma referência forte e direta ao espaço); a maneira como o espaço é decodificado e instrumentalizado de modo a servir de referencial organizacional (territórios, redes, politics of scale etc.); a maneira como o substrato espacial (ou seja, o espaço em sua materialidade) e seus problemas sintetizam ou referenciam as demandas e a agenda de cada ativismo (carências e deficiências de infra-estrutura técnica e social, “déficit habitacional”, dificuldades de acesso a equipamentos de consumo coletivo, degradação ambiental, conflitos de uso do solo, especulação imobiliária etc.). Infelizmente, a maior parte dos não-geógrafos de formação (sociólogos e cientistas políticos) envolvidos com a temática dos ativismos sociais sempre deu pouca ou nula importância ao espaço geográfico. Se considerarmos três “níveis de acuidade analítica” no tocante ao papel do espaço nível 1: o espaço é reduzido a um mero quadro de referência; nível 2: dá-se atenção à “lógica” locacional e à organização espacial em sua vinculação com as relações sociais (ou seja, às causas e ao sentido de determinados processos/práticas terem lugar em determinados espaços e não em outros); nível 3: examinam-se os condicionamentos e as influências do espaço sobre as práticas sociais , pode-se dizer, tranquilamente, que os estudos assinados por esses não-geógrafos geralmente transitaram, via de regra, pelo nível 1, às vezes tocando o nível 2, como ressaltei em B14. O nível 3 tem permanecido quase que inexplorado, e é aí que entra ou pode entrar a contribuição específica de uma perspectiva que assume um compromisso claro de valorização da dimensão espacial da sociedade, que é o papel que se espera dos geógrafos de formação. (7) ESTICANDO UM POUCO MAIS O PESCOÇO: REFLEXÕES SOBRE A DIMENSÃO ESPACIAL DA SOCIEDADE Na mesma época, na segunda metade dos anos 80, dei um passo que, como avalio hoje, foi temerário. Sempre entusiasmado pela reflexão teórica e sem medo do pensamento abstrato (palavra que praticamente nunca tomei em seu sentido pejorativo), achei que, para o bem da minha própria formação, deveria empreender leituras e estudos sistemáticos sobre o papel do espaço social (em geral), isto é, sobre a relevância, para as relações sociais, do espaço geográfico socialmente incorporado e produzido. Meu esforço nessa direção deixou-se fertilizar, a exemplo daquela teorização “de alcance médio” acima referida, pelo pensamento “autonomista”, especialmente pela obra filosófica de Cornelius Castoriadis (ver CASTORIADIS, 1975, 1983, 1985, 1986, 1990 e 1996, entre outros trabalhos) obra essa que constitui, na minha interpretação, uma complexa, sofisticada e erudita (e, não raro, incômoda) atualização do pensamento libertário. O resultado disso foi a minha primeira incursão no plano das “macroteorizações”, tendo como produto o ensaio “Espaciologia”: Uma objeção (C1), publicado na revista Terra Livre. Grosso modo, eu insistia, nesse ensaio, indiretamente inspirado em autores como Cornelius Castoriadis e Maurice Merleau-Ponty, e mais diretamente por Henri Lefebvre, que o espaço social é, entendido como o espaço geográfico produzido pelas relações sociais, é, sem dúvida, expressão dessas relações, mas sendo também, em contrapartida, as próprias relações sociais (e, nesses marcos, o processo de socialização dos indivíduos) condicionadas pela espacialidade mesma. Na verdade, como é sabido, algo semelhante já vinha sendo sugerido, em um nível às vezes bastante sofisticado, por vários outros geógrafos, decerto que infinitamente mais importantes que um jovem mestrando, tais como Edward Soja (assumidamente inspirado por Lefebvre) e Milton Santos (em cuja obra Lefebvre aparece, ao olhar do leitor atento, e no que tange ao plano teórico mais geral, como uma referência mais que essencial). De minha parte, eu insisti em sublinhar que as relações sociais nunca operam fora do espaço e sem se referenciar pelo espaço (mesmo quando não o transformam materialmente), de modo que, mesmo sendo possível falar de práticas espaciais (no sentido de práticas diretamente espaciais ou espacializadas, em que o espaço possui forte e direta relevância simbólico-identitária e/ou como referencial direto de organização política e/ou como conjunto de recursos elencados em uma agenda de demandas), os processos sociais jamais são “anespaciais”, tanto quanto não são anistóricos. Da mesma maneira, ao condicionar as relações sociais, alguns condicionamentos, mesmo que mediados pelas próprias relações sociais, vistas historicamente (ou seja, não se trata de nenhum “fetichismo espacial”), podem ser muito mais fortes, diretos e evidentes que outros, o que não elimina o fato de que a influência do espaço é, no mínimo em seu nível mais elementar, onipresente. Nesse ponto, eu me afastava, por exemplo, de David Harvey, que havia colaborado para restringir demasiadamente o alcance das influências da espacialidade sobre as relações sociais. Contudo, eu me afastava, também, de autores como Edward Soja e Milton Santos, os quais, no meu entendimento, ao buscarem prestigiar o espaço e a Geografia nos marcos de um certo marxismo estruturalista (mais explícito no caso de Soja que no de Santos), por meio da defesa de uma “instância” (ou “estrutura”) própria e de “leis próprias” para o espaço, ao lado das “instâncias” econômica, política e ideológica, ou ainda por meio de um paralelismo (que Soja buscou dialetizar) entre uma “esfera social” e uma “esfera espacial”, acabavam concorrendo para justificar, se não um “fetichismo espacial”, ao menos uma separação demasiado cartesiana entre espaço e relações sociais no meu entendimento, um traço positivista que “dialetização” alguma poderia corrigir plenamente. Muito embora Lefebvre tivesse sido alvo de fortes reservas por parte de David Harvey (já em Social Justice and the City, de 1973), o qual sempre viu o filósofo francês como alguém que teria exagerado desmesuradamente a importância da espacialidade, eu me arrisquei a dizer, em “Espaciologia”: Uma objeção, que o tipo de formalização de sabor estruturalista presente em Soja e Santos em fins dos anos 70 e nos anos 80 (vide SANTOS, 1978 e SOJA, 1980) não estava, na realidade, presente em Lefebvre (consulte-se, sobretudo, LEFEBVRE, 1981 [1974]), constituindo, na verdade, uma certa deformação. Dessa forma, em “Espaciologia”: Uma objeção eu levantava ressalvas, simultaneamente, a propósito de Harvey, por haver restringido excessivamente o alcance do poder de condicionamento da espacialidade, e a propósito de Soja e Santos, por terem, no meu entendimento, tornado insuportavelmente rígido o insight de Lefebvre acerca do papel do espaço. Hoje, tendo chegado aos 47 anos, ao lançar um olhar retrospectivo sobre as intenções e ambições daquele jovem mestrando, chego a achar que minha ousadia, por si só, beirou a insolência. No entanto, a despeito de arrojado e um tanto presunçoso em suas críticas, o tom do mencionado texto não feriu a etiqueta acadêmica. Acima de tudo, creio que as ressalvas e os reparos que ali fiz foram, bem ou mal, fundamentados; nenhuma ideia é ali gratuita, e tampouco foi vazada em uma prosa descortês. (8) Seja lá como for, o fato é que ter escrito aquele texto constituiu um episódio marcante na minha trajetória, pois me treinei, de maneira mais sistemática, para meditar sobre questões de natureza teórico-conceitual, sempre cultivando uma saudável contextualização filosófica. O curioso (ou, pelo menos, é assim que vejo, atualmente), é que, apesar da ousadia do empreendimento, as ideias que esposo no artigo e os insights básicos ali contidos, ainda sustento-os todos: o espaço social é afirmado, ali, como uma dimensão da sociedade (e não como uma “estrutura”, um “[sub]sistema” ou uma “instância”, à moda estruturalista e funcionalista em voga nos anos 70 e ainda na década de 80); a sociedade concreta é compreendida como uma totalidade indivisível formada pelo espaço e pelas relações sociais que produzem aquele e lhe dão vida, sendo que a influência do espaço sobre os processos sociais se dá o tempo todo, ainda que com intensidades e mediações variáveis (não sendo, por isso, razoável restringir os condicionamentos do espaço a somente um tipo especial de práticas, as “práticas espaciais”, nas quais a espacialidade é, simplesmente, mais imediata, forte e visivelmente presente ou seja, as “práticas espaciais” possuem, sim, uma especificidade, mas não deixam de ser práticas sociais); a compreensão plena dos vínculos entre espaço e relações sociais exige um olhar multidimensional e não-positivista sobre as últimas, de modo a se considerar com a devida riqueza e sem separações formalistas e hierarquizações apriorísticas as dimensões do poder, da economia e da cultura. Hoje em dia, talvez tudo isso ou parte disso já seja aceito sem restrições por muitos geógrafos. Não era bem assim nos anos 80, e, apesar dos riscos que assumi e dos dissabores que a publicação do artigo me trouxe mal-entendidos, reações corporativistas, e por aí vai... não me arrependi, ao fim e ao cabo, de ter esticado o pescoço tanto assim, mesmo sem ter currículo suficiente para fazer certos comentários e levantar certas objeções com uma autoridade reconhecida como tal pelos pares. Só lamento que o artigo quase não tenha sido debatido na época, e talvez tenha sido punido antes por suas qualidades que por seus defeitos, tendo pago o preço de ser assinado por um iniciante em um país em que o debate científico, claudicante, ainda sofre, em certas áreas de conhecimento, sob o peso esmagador da “cultura da oralidade” (sem contar com o coronelismo acadêmico, fator de obscurantismo), o que dificulta, não raro, que até as obras de profissionais já consagrados sejam devidamente lidas, para não dizer apreciadas. Para a minha felicidade, porém, um punhado de leitores qualificados me deu, com o passar dos anos, estímulo e apoio, a começar pelo colega (e grande incentivador) Carlos Walter Porto Gonçalves, que, conforme tomei conhecimento, costuma, ainda hoje, usar o texto com seus alunos de pós-graduação. Se escrever o texto foi uma coisa muito positiva para mim (publicá-lo, não necessariamente...), o manto de silêncio que cobriu “Espaciologia”: Uma objeção acabou tendo, também ele, um certo efeito benéfico. Aos vinte e poucos anos de idade, eu era um geógrafo com um apetite pantagruelicamente insaciável para a leitura, mas com uma restrita experiência de campo e, mais amplamente falando, de vida, como seria natural e esperável. Do ponto de vista da “extensão” da minha experiência de campo, talvez ela nem fosse tão desprezível assim, pois era, pelo menos, proporcional à minha idade. Tanto a minha monografia de bacharelado envolveu bastante trabalho de campo quanto mesmo a minha dissertação de mestrado, fundamentalmente teórica, não deixou de se alimentar de alguns trabalhos de campo “ancilares” e do meu papel como (aprendiz de) ativista de bairro. (E a isso se somaram os conselhos que recebi de Orlando Valverde acerca de como observar a paisagem para explicá-la, decodificá-la, em vez de lançar sobre ela um olhar “bovino” e resvalar para uma descrição banal.) Mas o ponto crucial é que eu não sabia trabalhar direito em campo; mesmo já formado e em meio ao mestrado, eu não tinha ainda muito traquejo em se tratando de estudo empírico. Não se tratava de desprezo, de jeito nenhum, mas sim de puro e simples despreparo, decorrente da escassez de boas oportunidades. E foi assim que, ao sofrer um certo revés, mais psicológico que real, como “prototeórico”, o rapaz que eu era decidiu que estava mais que na hora de aprender direitinho o que até então não havia aprendido. Seguindo o conselho de Orlando Valverde, optei por doutorar-me na Alemanha, onde poderia conjugar meu interesse pela teoria e pela Filosofia (e qual melhor lugar para beber nas boas fontes filosóficas que a Alemanha?, pensava eu então) com a minha necessidade de iniciar o meu tirocínio como alguém que sabe bem o que fazer também fora das bibliotecas e dos gabinetes de leitura. De certa forma, Gerd Kohlhepp, meu orientador no doutorado, salvou-me da sina de virar um autor “barroco” e hermético, incapaz de compreender e viver os vínculos entre teoria e empiria como uma dialética. Às vezes, confesso, eu titubeei, hesitei e até praguejei, tendo dificuldades, no início de meu doutoramento, de conviver com ensinamentos que, aos meus olhos, não passavam de empirismo. Estando eu certo ou errado, contudo, pelo menos eu soube assimilar tudo o que pude absorver sobre métodos e técnicas de observação e inquérito, amostragem, análise de discurso e coisas que tais. Espremido entre uma “tese” e a sua “antítese”, busquei extrair uma “síntese” que me satisfizesse. Mesmo sem ter sido muito influenciado, em outros terrenos, por meu orientador no doutorado, devo a Gerd Kohlhepp a orientação básica para que eu pudesse adquirir a capacidade de valorizar em profundidade e lidar operacionalmente com o trabalho de campo. (9) Voltando, agora, ao Espaciologia”: Uma objeção, cabe ainda dizer que as incompletudes e imperfeições do texto (por exemplo, o fato de que eu ainda amarrava excessivamente o conceito de espaço social à sua materialidade) não me impedem, mais de vinte anos depois, de vislumbrar ali um conjunto de intuições e interpretações basicamente corretas (em parte datadas, mas em parte ainda atuais), em que pese a necessidade de correções, ampliações e, claro, aprofundamentos. Procedi, em trabalhos posteriores (textos da revista Território, capítulos do livro A prisão e a ágora [A6], e assim segue), a diversas revisões e retificações de minhas ideias de meados dos anos 80 acerca da natureza e do papel da dimensão espacial da sociedade. Uma retomada de fôlego e sistemática desse tema, sob a forma de um livro inteiramente dedicado ao assunto, é algo que ainda estou devendo a mim mesmo. Devo encarregar-me disso em uma obra que, se tudo correr como esperado, deverá vir à luz ainda nesta década, ou, quem sabe, no começo da próxima. O que importa é que não é sensato ter qualquer pressa. Disse certa vez Verdi ao jovem Carlos Gomes, com carinho mas em suave tom de censura, que o grande operista brasileiro estava “começando por onde a maioria termina” (cito de memória, mas garanto o sentido). Da minha parte, e trocando em miúdos, dada a magnitude da tarefa, é conveniente robustecer determinadas linhas de raciocínio e lapidar mais certas formulações. Terão se passado, então, mais de trinta anos desde a publicação de “Espaciologia”: uma objeção – o que parece ser um momento bastante propício para se analisar, com a experiência da maturidade, o quão bem certos insights de juventude resistiram (ou não) ao implacável teste do tempo. Enquanto o momento de um balanço mais ambicioso não chega, contento-me com investimentos limitados (em certos conceitos derivados, como território, “lugar” e paisagem, e na reavaliação sistemática da produção científica e filosófica publicada por outros, desde os anos 80, sobre a importância e o papel da espacialidade) e com refinamentos e mais refinamentos parciais, como os contidos em trabalhos como A6, A11, B1, B10, B15, B16, C10 e C20, além do livro que, no momento, estou elaborando (O espaço no pensamento e na práxis libertários), e sobre o qual discorrei, muito brevemente, mais para o final deste memorial. OS ATIVISMOS URBANOS (E SUA “GEOGRAFICIDADE”) NO MOMENTO DE SUA CRISE A minha dissertação de mestrado versou sobre o ativismo de bairro em um momento (segunda metade da década de 1980) em que, no Rio de Janeiro e em muitas outras cidades brasileiras, eles já haviam iniciado uma trajetória descendente em matéria de capacidade de mobilização, prestígio sociopolítico e visibilidade pública. Isso eu já havia percebido perfeitamente na época, mas essa “decadência” ou “crise” viria a se tornar verdadeiramente patente mais para os fins da década, quando a minha dissertação estava sendo concluída ou já havia sido defendida. Não obstante, tais problemas jamais me sugeriram a conveniência de deixar de lado o tema; pelo contrário: era e ainda é minha convicção que, justamente nos momentos de “crise”, é essencial nos debruçarmos sobre o objeto, para nos interrogarmos sobre as razões dos insucessos e das dificuldades. Essa convicção não derivava somente de um posicionamento de natureza ética (desprezo por um certo oportunismo ou “vampirismo” que leva a que o interesse por um grupo, espaço ou movimento social se restrinja aos “momentos de glória” e de maior exposição midiática), mas também da consciência de que, cientificamente, é ao analisarmos os fracassos e os gargalos que podemos extrair algumas das lições teóricas e políticas mais importantes. À luz disso, minha tese de doutorado (Armut, sozialräumliche Segregation und sozialer Konflikt in der Metropolitanregion von Rio de Janeiro. Ein Beitrag zur Analyse der „Stadtfrage” in Brasilien = Pobreza, segregação sócio-espacial e conflito social na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Uma contribuição para o estudo da “questão urbana” no Brasil [A1]) refletiu um interesse em perscrutar, sistematicamente, os fatores da perda de importância e das dificuldades do ativismo de bairro (ativismo favelado aí incluído) no Brasil. Fi-lo, contudo, dentro de um contexto bem abrangente, que foi o de uma preocupação com a análise da “questão urbana” no Brasil o que me fez, aliás, envolver-me com uma reflexão a respeito do próprio conceito de “questão urbana”, envolto em ambiguidades e marcado por contribuições teoricamente datadas, como o marxismo estruturalista em voga no início dos anos 70 (vide, para começar, o célebre livro de Manuel Castells, La question urbaine). Entendida por mim, em um plano bastante geral e abstrato, como o cadinho de tensões decorrente de uma percepção de certos “problemas urbanos objetivos” (déficit habitacional, segregação residencial, pobreza etc.) não de maneira fatalista ou mística, mas sim como expressões de injustiça social, daí derivando diferentes tipos de conflitos sociais, restava compreender como a “questão urbana” se realizava, concretamente, no Brasil do início da década de 90. Foi nesse momento que percebi que entender vários aspectos da dinâmica da produção do espaço urbano em metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo exigia, muito mais que levar em conta o papel dos ativismos sociais como agentes modeladores do espaço, considerar adequadamente o papel da criminalidade e da criminalidade violenta em especial os efeitos sócio-espaciais do tráfico de drogas de varejo. O prosseguimento desse interesse após o retorno ao Brasil, ao lado de uma retomada da reflexão a propósito dos fatores do ocaso do ativismo de bairro, desembocaram no livro O desafio metropolitano: Um estudo sobre a problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiras (A2), publicado em 2000 e agraciado, no ano seguinte, com o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira no Livro, na categoria Ciências Humanas e Educação. Em O desafio metropolitano, bem como em outros trabalhos, discuti detalhadamente as causas dessa crise, análises essas que tentarei sintetizar nos parágrafos seguintes. Resumindo os argumentos expostos e desenvolvidos por mim em ocasiões anteriores (A2, Cap. 3 da Parte I; A6, Subcapítulo 4.2. da Parte II), há, por trás da crise, alguns fatores que são comuns aos bairros formais e às favelas, e outros que são peculiares às favelas; e há, ademais, alguns fatores que são nitidamente “datados”, ao passo que outros são mais constantes. Comece-se com os fatores da crise do ativismo de bairro da segunda metade da década de 80 que podem ser tidos como mais “datados”. São eles: a crise econômica, a migração de ativistas para partidos políticos de esquerda, a adaptação insuficiente e inadequada à conjuntura pós-regime militar e a decepção com os rumos da conjuntura política nacional após o fim do regime militar. A crise econômica dos anos 80 obrigou muitos trabalhadores a terem mais de um emprego e a fazerem “bicos” para complementar a renda familiar, reduzindo ainda mais o tempo disponível para dedicar-se a atividades não-remuneradas como uma função na diretoria de uma associação de moradores. (Sobre a crise econômica dos anos 80, deve-se ainda dizer que ela, a partir da década seguinte, se transformou, mas não desapareceu: em vez de altas taxas de inflação como o principal fardo para os trabalhadores, altas taxas de desemprego na esteira da “reestruturação produtiva” e da adesão do país às políticas macroeconômicas de inspiração neoliberal.) Quanto à migração de ativistas para partidos políticos de esquerda, a referência é aos militantes que, após a legalização ou criação de partidos de esquerda, nos anos 80, passaram a dedicar-se mais aos partidos e menos aos ativismos, nos quais, em parte por falta de opção, buscaram abrigo e um espaço de atuação durante os anos da “distensão” e “abertura” do regime de 64. O fator adaptação insuficiente e inadequada à conjuntura pós-regime militar remete à circunstância de que a multiplicação de canais participativos formais, a partir da segunda metade dos anos 80, exigiu uma capacidade, que muitas organizações de ativistas não conseguiram desenvolver, de combinar criativamente ações de protesto e auto-organização com diálogo institucional com o Estado. Por fim, a decepção com os rumos da conjuntura política nacional após o fim do regime militar teve a ver com a frustração derivada da morte de Tancredo Neves antes mesmo de sua posse na Presidência da República, e com a mediocridade do regime iniciado em 1985 sob José Sarney. É bem verdade que, se a segunda metade dos anos 80 trouxe o debilitamento do ativismo de bairro, o desemprego e a escassez de moradia, nos anos 90, engendraram, sobretudo nas metrópoles, novos ativismos sociais, às vezes com fôlego de genuínos movimentos, com destaque para o ainda incipiente movimento dos sem-teto. Entretanto, alguns velhos estorvos estão ainda aí, atravancando o caminho. Fatores que, embora tenham tido um peso na crise da “primeira geração” dos “novos ativismos (urbanos)”, representam um risco permanente e uma advertência também para a “segunda geração” que desponta no século XXI. Apenas para destacar alguns: burocratização das organizações; “caciquismo” e personalismo; autoritarismo das administrações municipais e, muitas vezes, os seus esforços de cooptação; a indiferença e o “comodismo” da base social; o “paroquialismo” e o “corporativismo territorial”, a “politofobia”. A burocratização das organizações esteve associada, na virada dos anos 80 para os anos 90, ao problema da adaptação inadequada à conjuntura pós-regime militar, com a tentativa de algumas entidades, normalmente federações, de adotarem um “figurino ONG”, abandonando esforços de mobilização de massas em favor de um papel de discussão e co-implementação de políticas públicas estatais. A burocratização se estabelece quando uma organização de ativistas começa a funcionar como uma “repartição pública”, um apêndice do Estado, e, internamente, seus líderes se comportam como “funcionários” personalistas e “caciques”, afastando-se mais e mais da base social e comprometendo a força social do ativismo. Por falar em “caciques”: “caciquismo” e personalismo dizem respeito ao comportamento autoritário e egocêntrico de não poucos líderes de associações de moradores. Isso, aliás, ajuda a evidenciar as contradições de um ativismo que, mesmo tendo agasalhado práticas genuinamente democráticas, não esteve imune à reprodução, especialmente nas associações de base, da heteronomia predominante na sociedade e simbolizada pelo aparelho de Estado. Com autoritarismo das administrações municipais, de outra parte, se faz referência aos estragos provocados pela postura de não poucas administrações de ignorar os ativismos mais “espontâneos” e buscar esvaziá-los, seja reconhecendo legitimidade apenas nos políticos eleitos e em canais “participativos” oficiais, recusando interlocução com os ativismos, seja buscando “aparelhar” e controlar as entidades associativas. A cooptação de líderes e organizações, de sua parte, é uma postura muitas vezes ainda mais nociva que o autoritarismo, pois, se este pode, às vezes, suscitar resistência, a cooptação desmobiliza e desarma, e até mesmo desmoraliza, com consequências nefastas de longo prazo para a auto-organização da sociedade. Indiferença e “comodismo” da base social são outro problema, muitas vezes bastante relacionado com os anteriores: quando os ativistas “orgânicos” permanecem, durante um período de tempo excessivo, circunscritos a uma pequena minoria, que se renova muito pouco ou nada, dois riscos existem: o de uma “fadiga dos ativistas”, que se cansam de “carregar a organização nas costas”, e o de um estímulo adicional a fenômenos como “caciquismo”, burocratização e cooptação. Quanto ao “paroquialismo” e o “corporativismo territorial”, deve-se dizer, antes de mais nada, que o corporativismo e a mentalidade que o ampara possuem, no Brasil e em outros países do mundo ibérico, uma longa tradição, para além do ambiente sindical. Essa mentalidade incentiva e nutre o “paroquialismo”, ou seja, os horizontes estreitos de exame de um problema e das condições de sua superação (reclamar do “desinteresse” do Estado pela rua, pelo loteamento ou pela favela em que se mora sem enxergar os determinantes mais profundos da tal da “falta de vontade política” e sem perceber a necessidade de articulações de luta em escala que vá além da microlocal), suscitando atitudes de aversão ou desconfiança à participação de indivíduos “estranhos” ao bairro (“bairrismo”) e dificultando parcerias. O espaço, que, como fator de aglutinação, como referência para a mobilização e a organização sociais, não necessariamente atrapalha, acaba, dependendo da predominância de formas ideológicas de se lidar com a territorialidade, sendo um embaraço para que se transcenda a luta de bairro rumo a uma luta a partir do bairro (o tema foi bastante explorado em minha dissertação de mestrado e, em seguida, tangenciado em C2; voltei a ele em A1 e A2, em meio a uma discussão sobre as causas da crise do ativismo de bairro, e, mais tarde, em um contexto bem mais amplo, em A6). Por fim, a “politofobia”, que anda de mãos dadas com o paroquialismo e o corporativismo territorial, não se confunde com o apartidarismo, muitas vezes mais declarado que respeitado pelas associações de moradores ao longo das últimas décadas. Ela tem a ver, isso sim, com uma profunda “despolitização”, passando-se facilmente de uma desconfiança em relação aos políticos profissionais à rejeição pura e simples de temas tidos como “políticos”. No que tange à crise dos ativismos urbanos, porém, o seu lado mais dramático não se encontra ou encontrou nos bairros comuns, da “cidade formal”, mas sim nas favelas. Sobre isso, discorrerei mais à frente, pois, muito embora se trate de tema que comecei a focalizar durante a pesquisa de minha tese de doutorado, e que foi sistematicamente focalizado em O desafio metropolitano. A “MACROTEORIA ABERTA” DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ESPACIAL: PRIMEIROS ESBOÇOS Talvez o título desta seção soe pomposo, mas espero poder tranquilizar o leitor. Retomando o esclarecimento que fiz na Introdução, cabe grifar e repisar o seguinte ponto: não me proponho e jamais me propus a “criar” uma nova macroexplicação para a dinâmica social, “produção do espaço” aí incluída. Como pretendo mostrar, já encontrei os alicerces metateóricos (e também vários elementos propriamente teóricos) em larga medida lançados; e, a bem da verdade, nem mesmo com relação ao restante do edifício tenciono fornecer mais do que alguns tijolos. Para ser franco, vejo o meu papel basicamente como o de alguém que, a partir das necessidades de um pesquisador, “traduz” as contribuições (meta)teóricas mais gerais, que mencionarei a seguir, para o ambiente e as circunstâncias da investigação concreta e sistemática. Não obstante, também não abro mão de propor uma certa retificação do próprio material que encontrei, e precisamente graças à minha dupla condição de geógrafo e de brasileiro: é que o enfoque (meta)teórico que me tem servido de base e inspiração, a despeito de sua extraordinária potência, padece, em sua origem, de dois vícios, a negligência para com o espaço e um indisfarçável eurocentrismo. Porém, antes de entrar nesses assuntos, é conveniente situar o leitor em relação a como tudo isso se foi inserir em minha biografia acadêmica. De um ângulo metateórico (político-filosófico e ético), iniciei o meu processo de afastamento do marxismo com o qual havia travado algum contato antes mesmo de entrar para a universidade já em 1984. Posso dizer que, em 1982, 1983 e boa parte de 1984, eu me considerava um marxista de algum tipo, ainda que heterodoxo: no plano intelectual, me identificava sobretudo com os autores menos dogmáticos do chamado “marxismo ocidental”, como Henri Lefebvre e a Escola de Frankfurt (só vim a descobrir os “renegados” Georg Lukács e Karel Kosik, assim como Edward Thompson e outros tantos, um pouco mais tarde, em meados dos anos 80); no plano prático-político, no entanto, ainda admirava Lenin, e cheguei a ter uma aproximação com o trotskismo e tinha uma boa interlocução com alguns militantes, muito embora não tenha propriamente militado em nenhuma organização. Além disso, “devorei”, durante dois anos e meio ou um pouco mais, boa parte dos clássicos do marxismo, a começar por Marx e Engels. Todavia, uma insatisfação crescente, tanto com aspectos propriamente intelectuais do materialismo histórico, tal como tipicamente entendido (economicismo, teleologismo etc.), quanto com aspectos da prática política do marxismo militante (o stalinismo, esse eu rejeitei de partida, mas também o trotskismo já me parecia, então, problemático), me levaram a ir redefinindo paulatinamente a minha identidade. A leitura sistemática da vida e obra de personagens do anarquismo clássico, iniciada por volta de 1984, não chegou a me empolgar, devido às insuficiências e à falta de densidade teórica da maior parte dos escritos; certos insights, como a denúncia, por Bakunin, do “autoritarismo” marxista, causaram-me, porém, duradoura impressão. Em algum momento de 1984 a ruptura estava completa, mas eu ainda não sabia exatamente o que colocar no lugar. Intuitivamente, eu sabia que, para mim, romper com o marxismo só poderia significar romper com ele “pela esquerda”, e jamais “pela direita”. Onde estava, contudo, a alternativa?... Ficar em uma espécie de “limbo” político-filosófico era uma possibilidade que me atormentava. Conquanto eu tivesse comprado o livro A instituição imaginária da sociedade ainda em fins de 1983, posso dizer que só travei verdadeiramente contato com a obra filosófica de Cornelius Castoriadis cerca de um ano depois. Não tanto por ter achado o livro “difícil”: não foi bem esse o caso, ao menos não com respeito à primeira parte, em que o autor submete o marxismo a uma crítica implacável, e que li sem dificuldades. Para ser sincero, o que houve foi que hesitei em aceitar, de pronto, a rejeição do marxismo ali contida. Uma rejeição fundamentada, mas inquietante; semelhante, em tom, às denúncias e objeções trazidas pelo anarquismo clássico, mas expressa de modo muito mais profundo, complexo e erudito. O efeito inicial da leitura foi atordoante. Por isso, o livro nem chegou a ser lido por inteiro: após o primeiro contato, ficou ele descansando, por muito tempo, em minha estante, não tendo sido novamente tocado por muitos meses. No segundo semestre de 1984, porém, meu espírito estava preparado para apreciar uma mensagem tão desconcertante. A partir daí, todas as contribuições críticas de outros autores relativamente ao marxismo, ou pareceram-me superficiais (quanto aos ataques conservadores, nem sequer os menciono, embora nunca tenha me recusado a ler seus principais autores, como um Raymond Aron ou um Karl Popper, que reputo como leituras obrigatórias), ou, então, se me afiguravam como parciais ou meramente complementares em comparação com a monumental e original obra de Castoriadis (é o caso de autores que, a despeito disso, admiro muitíssimo e se tornaram muito importantes para mim, como E. Thompson, J. Bernardo, M. Foucault, C. Lefort, F. Guattari e outros mais). O projeto de autonomia, tal como discutido por Castoriadis, foi a chave com a qual passei a abrir ou tentar abrir várias portas, por minha conta e risco. O “abrir portas” operou-se, contudo, de modo muito gradual. Hoje, olhando retrospectivamente, penso que o meu trabalho, no que nele há de mais característico, pode ser definido, inicialmente, como a incorporação do legado filosófico de Castoriadis, de acordo as minhas próprias necessidades e as minhas particularidades profissionais e histórico-espaciais (um cientista interessado na dimensão espacial da sociedade, nascido no Brasil em 1963). Por outro lado, desde o começo as minhas pretensões não se restringiam a algo tão passivo como uma pura “incorporação” daquele legado − e não somente porque eu sempre considerei contraditório com uma postura autonomista qualquer tipo de “veneração” acrítica ou “idolatria”, cabendo-me, portanto, usar do direito de discordar ou levantar ressalvas relativamente a Castoriadis sempre que achasse necessário. A questão é que, além disso, por mais que a obra filosófica de Castoriadis iluminasse o meu próprio trabalho, os meus interesses imediatos enquanto geógrafo de formação e pesquisador eram, forçosamente, distintos dos dele. Meu “projeto intelectual” (a expressão soa afetada, eu sei, mas com isso quero referir-me simplesmente aos objetivos de longo prazo de meu trabalho), assim, passava pelo desenvolvimento de uma abordagem não-marxista da mudança sócio-espacial (apesar de dialogar intensamente com autores marxistas fundamentais, como H. Lefebvre, M. Castells, D. Harvey e E. Soja, alguns deles bastante admirados por mim até hoje) (10), refletindo de uma maneira alternativa sobre os vínculos entre relações sociais e espaço. Uma tal empreitada, ainda que buscasse inspiração filosófica em Castoriadis, não poderia com ele dialogar diretamente: uma das principais lacunas da obra do autor greco-francês, como pude constatar desde cedo, é justamente a marginalíssima atenção dada por ele à dimensão espacial da sociedade. Essa tarefa se me apresentava sob medida para um geógrafo. Um diálogo mais maduro com as ideias de Castoriadis, mais exigente e menos restrito a um mero “beber na fonte”, só começou para valer, em todo o caso, na década de 90. No Cap. 3 da Parte I de meu livro A prisão e a ágora: Reflexões sobre a democratização do planejamento e da gestão das cidades (A6) ofereci, pela primeira vez, quase um “inventário” daquilo que, a meu ver, são certas lacunas e deficiências da obra de Castoriadis (sem que isso, no entanto, implicasse ou implique negar a minha enorme dívida e a permanência de minha afinidade essencial com essa obra); refletir sobre essas lacunas e deficiências foi, de toda sorte, algo que foi sendo amadurecido ao longo da década de 90 e do começo da década seguinte. Antes disso, nos anos 80 e até o começo dos 90, eu não estava maduro para nem sequer para começar a enfrentar tais questões. Data também desse período o início da “internalização teórica” da consciência de que as peculiaridades das circunstâncias histórico-geográficas em que um determinado autor escreve (sua língua, sua cultura, as vicissitudes e as potencialidades sociopolíticas de sua época...) não devem ser escamoteadas ou negadas; precisam, na verdade, ser assumidas e refletidas, caso não se queira que a busca de um significado “universal” para o próprio trabalho no campo das ciências sociais se circunscreva, no fundo, a uma imitação ou reprodução servil de ideias elaboradas em outros lugares e tempos, por autores embebidos em culturas e preocupações às vezes muito diferentes. Mas não foi ainda por essa época, e sim somente no decênio seguinte, que descobri e comecei a dar maior atenção a certos autores latino-americanos que iriam me instigar e inspirar, como o brasileiro Darcy Ribeiro (RIBEIRO, 1987 e 1995) no caso deste, uma “redescoberta”, pois já o havia estudado na década anterior , o argentino (radicado nos EUA) Walter Mignolo (MIGNOLO, 2003) e o uruguaio Raúl Zibechi (ZIBECHI, 1999, 2003, 2007 e 2008), profundamente empenhados em refletir sobre as potencialidades, sobre a complexidade e sobre os problemas cultural-identitários (Ribeiro e Mignolo) e sociopolíticos (Zibechi) das sociedades de nosso continente. Não por qualquer espécie de “nacionalismo”, e sempre evitando cometer qualquer tipo de provincianismo teórico-conceitual, posso dizer, de todo modo, que, a partir desse instante, a consciência teórico-metodológica das particularidades de minha situação como pesquisador brasileiro e latino-americano, habitante de um país semiperiférico com características culturais específicas e em parte fascinantes, passou a estar muito mais presente em meu trabalho do que havia estado até então. É esse o momento, pode-se dizer, em que, no que tange à minha formação, sempre exposta a tensões entre vivências locais fortes e indeléveis (especialmente a minha infância e adolescência no Rio de Janeiro) e a experiência de “respirar os ares do mundo” (que começara, na minha imaginação, já com os livros, na década de 70, indo se concretizar com o meu doutorado na Alemanha, entre 1989 e 1993, e depois com experiências variadas em diversos países, na qualidade de pesquisador, professor, conferencista e expositor em congressos), a relação entre o “particular” e o “geral” se torna mais “equilibrada”, com um alimentando e fustigando intensamente o outro para provocar, no frigir dos ovos, a reposição constante da interrogação: “qual é, afinal, o meu papel como cientista?...”. Essa questão, devidamente contextualizada biográfica e histórico-culturalmente, está longe de ser trivial. Para mim, na verdade, ela tem sido motivo de angústia. Ao mesmo tempo em que somos socializados academicamente com base em uma exposição intensa a ideias europeias (e estadunidenses), seja no campo propriamente científico, seja no terreno filosófico, as achegas trazidas por intelectuais não-europeus costumam ser, com raras exceções, e pelo menos no que diz respeito à produção teórica, tacitamente subestimadas, secundarizadas. Mesmo em um país como o Brasil, e mesmo no âmbito do pensamento crítico, o mais comum é acabarmos acreditando que, de fato, o nosso papel é o de consumidores de reflexões de fôlego trazidas de fora, as quais possam nos ajudar a entender melhor a nossa própria realidade e a conduzir as nossas investigações empíricas. Os limites e os riscos de um exagero, quanto a isso, poucas vezes são seriamente discutidos, e até parece que problematizar essa situação teria, necessariamente, algo a ver com provincianismo ou desinteresse pelo diálogo com o Outro (Outro que, diga-se de passagem, quase nunca é um Outro mexicano, sul-africano ou peruano...). No longo prazo, introjeta-se uma imagem que, ao mesmo tempo que conserva uma certa divisão internacional do trabalho acadêmico “naturalizada” pela maioria dos pesquisadores europeus e estadunidenses, solapa a autoestima e aprisiona as potencialidades do pesquisador brasileiro (ou colombiano, chileno etc.). Não é acidental que “teoria” e “teórico” estejam, entre nós, quase que em vias de se consolidar como termos pejorativos ou suspeitos: ou são tomados como expressões de distanciamento da realidade ou, então, são vistos como dizendo respeito a coisas muito pretensiosas, além do nosso alcance. Quanto à tarefa de contribuir um pouco para desenvolver uma abordagem libertária da mudança sócio-espacial, foi também apenas na década de 90 que, perseguindo a trilha entrevista em “Espaciologia”: Uma objeção, comecei a dar corpo a uma abordagem alternativa mais consistente. Essa abordagem, denominei-a “macroteoria aberta” do desenvolvimento sócio-espacial, designando por isso um enfoque basicamente procedural da mudança sócio-espacial, fundado metateoricamente sobre o princípio de autonomia (que constitui, no fundo, quase que o único conteúdo substantivo, histórica e culturalmente falando, desse arcabouço teórico). A rigor, essa “macroteoria aberta” é uma ferramenta para escavar e explorar as possibilidades de pensar os vínculos entre espaço geográfico e relações sociais, dentro de uma perspectiva de mudança para melhor (superação de obstáculos e gargalos), sem recorrer às usuais “muletas” das diversas teorias do desenvolvimento, mormente nos marcos da ideologia capitalista do desenvolvimento econômico: etnocentrismo (eurocentrismo), teleologismo e economicismo. Em vez de buscar definir um conteúdo específico para o “desenvolvimento”, como sói acontecer, a minha intenção tem sido a de propor, discutir e testar princípios e critérios tão abertos (mas também tão coerentes) quanto possível, de maneira que a definição do conteúdo da “mudança para melhor” seja deliberadamente reservado como um direito e uma tarefa dos próprios agentes sociais, e não do analista. Por dizer respeito à complementação de um enfoque metateórico já existente, a abordagem do desenvolvimento sócio-espacial inspirada na Filosofia castoriadiana da autonomia constitui, também ela, uma “macroteoria”, ou, pelo menos, um esboço de “macroteoria”; e, por ser basicamente procedural e não substantiva, pareceu-me merecer o adjetivo “aberta”. Essa opção por um enfoque procedural, sublinhe-se, é, na minha compreensão, a melhor saída para se livrar o debate em torno da mudança social (sócio-espacial) de seu usual ranço etnocêntrico, e, por tabela, igualmente de seus não muito menos usuais vícios do etapismo e do economicismo, que geralmente derivam do olhar eurocêntrico. Esclareça-se, a esta altura, um pouco melhor: de que trata, afinal, o “desenvolvimento sócio-espacial”? Vou me permitir resumir algumas considerações que teci em meu livro A prisão e a ágora (A6). Se se tomar o termo “desenvolvimento”, simplesmente, como um cômodo substituto da fórmula transformação social para melhor, propiciadora de melhor qualidade de vida e maior justiça social, sem presumir ser ela incapaz de ser redefinida em termos não-etnocêntricos, não-teleológicos e não-economicistas, abre-se a seguinte perspectiva diante dos nossos olhos: enquanto houver heteronomia, enquanto houver iniquidades, pobreza e injustiça, enquanto houver relações de rapina ambiental em larga escala (em detrimento de interesses difusos, mas particularmente em detrimento de determinados grupos e em benefício imediato de outros), fará sentido falar em implementar uma mudança para melhor na sociedade, rumo a mais autonomia individual (capacidade individual de decidir com conhecimento de causa e lucidamente, de perseguir a própria felicidade livre de opressão) e coletiva (existência de instituições garantidoras de um acesso realmente igualitário aos processos de tomada de decisão sobre os assuntos de interesse coletivo e autoinstituição lúcida da sociedade, em que o fundamento das “leis” não é metafísico, mas sim a vontade consciente dos homens e mulheres). O projeto de autonomia, tal como descortinado por Cornelius Castoriadis, é, porém, um lastro metateórico, filosófico. Para ser tornado operacional, do ponto de vista da pesquisa e das necessidades de cientistas, e especialmente de geógrafos de formação, a interrogação filosófica que está aí embutida (o que é uma sociedade justa?) precisa ser desdobrada em parâmetros e em indicadores que lastreiem as análises de detalhe e o estudo de situações e processos concretos (de políticas públicas promovidas pelo Estado a dinâmicas de movimentos sociais). (11) O projeto de autonomia consiste em uma “refundação”/reinterpretação radical, por assim dizer, do projeto democrático, buscando inspiração na democracia direta da pólis grega clássica, ainda que sem ignorar-lhe os defeitos (notadamente a ausência de um elemento universalista, evidente diante da escravidão e da não-extensão às mulheres dos direitos de cidadania) e sem clamar, ingenuamente, por uma simples transposição de instituições da Antiguidade para um contexto sócio-espacial contemporâneo. Ao mesmo tempo, no meu entendimento, a discussão sobre a autonomia, no sentido castoriadiano, se inscreve, como eu já disse, na tradição mais ampla do pensamento libertário, atualizando-a. O pensamento autonomista castoriadiano foi edificado no bojo de uma poderosa reflexão crítica tanto sobre o capitalismo e os limites da “democracia” representativa quanto sobre a pseudoalternativa do “socialismo” burocrático, visto como autoritário e, mesmo, tributário do imaginário capitalista em alguns aspectos essenciais. Ainda que a abordagem autonomista possa ser vista, em parte, como uma espécie de “herdeira moral” do anarquismo clássico (essa é a minha interpretação), em sua dupla oposição ao capitalismo e ao “comunismo autoritário”, seria, no entanto, incorreto tê-la na conta de uma simples variante anarquista: divergindo da tradição do anarquismo, redutora contumaz do poder e da política ao Estado, isto é, ao poder e à política estatais, compreende-se que uma sociedade sem poder algum não passa, conforme Castoriadis lembrou (CASTORIADIS, 1983), de uma “ficção incoerente”. Faz-se mister esclarecer que não se trata de erigir a autonomia (que nada tem a ver com “autarquia” ou ensimesmamento econômico, político ou cultural, mas sim com as condições efetivas de exercício da liberdade, em diferentes escalas) em uma nova utopia em estilo racionalista. Não se trata de buscar um “paraíso terreno”, e muito menos de imaginar que a ultrapassagem da heteronomia seja um processo historicamente predeterminado ou inevitável. A autonomia, entendida muito simplificadamente como uma democracia autêntica e radical, é, ao mesmo tempo, um princípio ético-político e um critério de julgamento, e é essa segunda característica que lhe confere um sentido operacional: ou seja, os ganhos efetivos de autonomia são o critério que tenho utilizado no exame da utilidade social de situações e processos concretos, em substituição a critérios implícitos ou explícitos de corte liberal (que tendem a superestimar a liberdade individual, sendo muito fracos ou lenientes a propósito das condições de exercício da liberdade coletiva) ou marxista (que, em certa medida, fazem o inverso, além de serem complacentes, em significativa medida, com o poder heterônomo). Na qualidade de princípio e, principalmente, de critério de julgamento, a “geograficização” da autonomia remete, de imediato, a uma questão de escala: aumentos de autonomia em pequena escala (na esteira, por exemplo, de autossegregação), beneficiando grupos que, economicamente, existem às custas do trabalho e da opressão de outros, é, no fundo, uma autonomia que se alimenta de uma flagrante heteronomia em uma escala mais abrangente constituindo, portanto, uma pseudoautonomia, do ângulo da justiça social. Por fim: a autonomia, mesmo sendo, logicamente, uma meta (que é ou pode vir a ser assumida por vários grupos e movimentos e, hipoteticamente, por sociedades inteiras, dependendo de suas características culturais), não corresponde a um “estágio” alcançável de uma hora para outra. A superação da heteronomia é um processo longo, penoso, aberto à contingência e multifacetado (ganhos de autonomia aqui podem ser neutralizados com retrocessos heterônomos acolá) e não há promessa historicista alguma a assegurar a sua concretização. Como sempre, a história é criação e um processo aberto. E quanto ao “desenvolvimento”? Mesmo sem pressupor ser razoável ou justo impor a “mudança para melhor”, como um valor, às mais diferentes culturas, o fato é que, nas sociedades ocidentais ou fortemente ocidentalizadas, esse valor (assim como a própria autonomia, ao menos como um valor latente) está, indubitavelmente, presente. (12). Hoje, praticamente o mundo todo situado fora das fronteiras do Ocidente (fronteiras essas não inteiramente consensuais), se acha ocidentalizado em alguma medida. A inocência foi perdida, quem sabe até mesmo para os ianomâmis ou pigmeus africanos remanescentes. Porém, a despeito do que induz a pensar a expressão, falar em “(sub)desenvolvimento” não deveria implicar achar que os países ditos “desenvolvidos” são perfeitos ou modelos a serem imitados. Para quase todos os efeitos, a heteronomia verificada em um país central e em um país semiperiférico ou periférico é mais uma questão de grau que de qualidade, por maior e mais chocante que seja a diferença, e o grau de heteronomia interno se correlaciona mal com o poderio econômico e militar. O que mais se assemelha a uma ruptura qualitativa se refere à posição geoeconômica e geopolítica dos países no cenário internacional: a oposição fundamental entre países centrais, de um lado capazes de, historicamente, exportar capital e drenar recursos dos demais países e até protagonizar intervenções militares para defender seus interesses, além de, mais recentemente, externalizar impactos ambientais “exportando entropia” (exportação de lixo químico, biológico ou nuclear, transferência de indústrias altamente poluidoras etc.) países periféricos, de outro. Os países semiperiféricos, a despeito das suas características intermediárias (“potências regionais”, já chamados países “subdesenvolvidos industrializados”), são, a exemplo dos periféricos, e em última análise, entidades subalternas no plano geopolítico e geoeconômico internacional. É bem verdade que, na base de uma mescla de fatores como a pressão de movimentos sociais internos (movimento operário) e, em muitos casos, os benefícios do “imperialismo”, os países centrais criaram condições para mitigar consideravelmente as desigualdades e a heteronomia internas. Contudo, se se entender o desenvolvimento sócio-espacial como um processo de superação de injustiças e conquista de autonomia, processo esse sem fim (término) delimitável, e se, além do mais, e empiricamente, não forem esquecidas as significativas (e, amiúde, crescentes) desigualdades que podem ser atualmente constatadas em muitos países centrais, a começar pelos EUA, então a distinção entre países “subdesenvolvidos” e “desenvolvidos” é, ainda que útil para caracterizar um certo tipo de contraste, muitíssimo pouco rigorosa, e pode acabar prestando um desserviço. Contemplando-se a questão de um modo alternativo em relação às teorizações dos anos 50, 60 e 70 e, em grande medida, também diferentemente do ambíguo terreno do “desenvolvimento sustentável”, muito mais um slogan ideologicamente manipulável que um referencial teórico sólido, “desenvolvimento” não é conquistar “mais do mesmo” no interior do modelo social capitalista, isto é, mais crescimento e modernização tecnológica, mas sim, acima de tudo, enfrentar a heteronomia e conquistar mais e mais autonomia. E isso não pode ser feito sem a consideração complexa e densa da dimensão espacial, em suas várias facetas: como “natureza primeira” (processos naturais); como “natureza segunda” material, transformada pela sociedade em campo de cultivo, estrada, represa hidrelétrica, cidade...; como território, espaço delimitado por e partir de relações de poder; como “lugar” (place) dotado de significado e carga simbólica, espaço vivido em relação ao qual se desenvolvem identidades sócio-espaciais; e assim segue. Por conseguinte, cumpre reescrever a fórmula anteriormente empregada: o que importa não é, sendo rigoroso, uma “transformação social para melhor, propiciadora de melhor qualidade de vida e maior justiça social”, mas sim uma transformação para melhor das relações sociais e do espaço, propiciadora de melhor qualidade de vida e maior justiça social. No passado, as teorias e abordagens do “desenvolvimento”, por vício disciplinar de origem (pois não eram oriundas da Geografia), ou negligenciavam o espaço geográfico, ou valorizavam-no muito parcelarmente, mutilando-o. O espaço era, o mais das vezes, reduzido a um espaço econômico ou, então, visto como “recursos naturais” e “meio ambiente”. (13) A reflexão geográfica sobre a mudança sócio-espacial (isto é, sobre o desenvolvimento) tem como apanágio, portanto, não apenas buscar evitar o economicismo, o etnocentrismo e o teleologismo (etapismo, historicismo), mas, obviamente, também o empenho na afirmação da espacialidade como um aspecto essencial do problema. De maneira mais indireta que direta, a Geografia vem dando, desde o século XIX, contribuições fantásticas para essa empreitada, e tenho procurado recuperar e valorizar essas contribuições. Uma delas, aliás, gostaria de ressaltar, por seu pioneirismo e sua afinidade ética e político-filosófica com o meu próprio trabalho: o projeto de Élisée Reclus, e especialmente do Reclus de L’Homme et la Terre (RECLUS, 1905-1908), de investigar a dialética entre uma natureza que condiciona a sociedade e uma sociedade que se apropria da natureza (material e simbolicamente: na verdade, a própria “natureza” é sempre uma ideia culturalmente mediada) e, para o bem e para o mal, a transforma. Esse projeto possui, acredito, um brilho ímpar e duradouro. É certo que a crença no “progresso” e o otimismo em relação ao avanço tecnológico, típicos de um autor do século XIX e nele compreensíveis, precisam, hoje, ser temperados, sem que necessariamente nos convertamos em pessimistas; e é lógico que, conceitual, teórica e metodologicamente, não faz mais sentido reproduzir o caminho trilhado por Reclus (o qual, ele próprio, estava sempre em movimento). Mas a ideia do homem como “a natureza tomando consciência de si mesma” (uma de suas muitas frases lapidares), reconsiderada à luz de uma época em que um modo de produção essencialmente antiecológico parece conduzir a humanidade à beira de uma catástrofe sem precedentes, na esteira de processos cada vez mais entrópicos em escala global, é a “deixa” para que os geógrafos refinem e otimizem a colaboração que podem prestar a um repensamento do mundo e suas perspectivas. Sem embargo, a Geografia, apesar de privilegiadamente “vocacionada” para afirmar a importância do espaço como algo que não se restringe a um epifenômeno, e isso nos marcos de um tratamento holístico da espacialidade, se acha enredada em dúvidas que, até certo ponto, a minam e, se não a paralisam, pelo menos a tolhem. Compreender o espaço em suas múltiplas facetas, na esteira de uma concepção da apropriação e produção (econômica, simbólica e política) do espaço geográfico que faça justiça à imensa complexidade que reside na diversidade de fatores, relações e ambientes do espaço da “natureza primeira” (não no sentido de um espaço “intocado”, mas sim de processos geoecológicos), nos vínculos entre as facetas do espaço socialmente produzido (enquanto materialidade social, território, “lugar” etc.) e nos condicionamentos recíprocos entre natureza e sociedade, contudo, exige que se medite sobre o “contrato epistemológico” (por analogia à ideia de “contrato social”) que é inerente à Geografia, em suas relações internas. O “contrato epistemológico” que vigorou na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX, indiscutivelmente envelheceu. Submetidas a pressões por especialização e verticalização do conhecimento, e em uma época em que belas descrições de conjunto já não satisfaziam ao paladar científico, “Geografia Física” e “Geografia Humana” terminaram por, gradativamente, ter dificuldades para investir nos costuramentos horizontais. A isso acresce que, desejosa de ser aceita como um Saber Maior, ao lado de disciplinas nitidamente “nomotéticas” como a Economia ou a Sociologia, a Geografia Humana passou a recusar o hibridismo físico-humano de “ciência da Terra” em favor de um status como ciência social. Em tais circunstâncias, dois processos se foram desenrolando. De um lado, a velha “Geografia Física” no estilo de um Emmanuel de Martonne foi sendo, aos poucos, eclipsada por um conjunto de especialidades cada vez mais autônomas (Geomorfologia, Climatologia...); de outro, a “Geografia Humana”, que de Reclus e Ratzel a Orlando Valverde havia tido como uma de suas características a de estar solidamente assentada sobre uma base de informações trazida pela “Geografia Física”, passou a substituir a valorização do conhecimento de processos naturais pela construção e pelo aprimoramento de uma visão da natureza como algo cultural-simbolicamente construído e socialmente apropriado e, com isso, ganhou-se em senso crítico e visão humanística de conjunto, mas perdeu-se alguma coisa em matéria operacional, o que é uma pena. O potencial do discurso geográfico (e da sinergia teórica, conceitual e metodológica que se pode operar no interior do campo) o convida, o impele e quase que o predestina a jogar luz sobre temas espinhosos, na interface da sociedade com a “natureza”: das escorregadias noções de “sustentabilidade” e “desenvolvimento sustentável” à discussão dos processos de “externalização de custos ambientais” (e “exportação de entropia”) em várias escalas, passando pela “fabricação social” de “desastres naturais”. Faz-se mister, ou mesmo urgente, portanto, reconstruir, em bases novas, o “contrato epistemológico” que dá um rosto próprio à Geografia (conforme está implícito na nota 3), sob pena de, caso se fracasse, vir a Geografia a se tornar um saber cada vez mais apequenado, amesquinhado. Um saber que muitos julgarão supérfluo. Apesar das várias exposições teórico-gerais da abordagem do desenvolvimento sócio-espacial (A3, A6, A11, B1, B5, B15, C8, C10, C11, C12, C13, C18, C19, C20 e C23, entre outros), bem como dos diversos projetos e muitos trabalhos empíricos e análises de temas específicos em que busquei tanto testá-la quanto retroalimentá-la e refiná-la (A2, A6, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B26, B27, C4, C5, C6, C7, C14, C15, C16, C17, C21, C22, C23, C24, C25, C27, C35, C36, C37, C38, D2, D3 e D4, entre outros), muito, muito mesmo ainda resta por fazer. De certo modo, acredito, há anos, que esse é quase que um “projeto de vida”... Socraticamente, quanto mais prossigo investigando, melhor percebo as lacunas que subsistem e a imensidão de coisas para ler, de autores com os quais dialogar, de abordagens para mencionar e de exemplos concretos para tomar contato e estudar. Posso, talvez, repetir as palavras de Riobaldo em Grande sertão: veredas: “[e]u quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa.” Só espero viver o suficiente (e ter energia suficiente) para poder avançar mais, convertendo desconfianças em conhecimento convincente. PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PLANEJAMENTO E NA GESTÃO URBANOS PROMOVIDOS PELO ESTADO: CONHECENDO POR DENTRO E... EXTRAINDO LIÇÕES Pode-se dizer que, durante os anos 80, o meu interesse por “planejamento urbano” e “gestão urbana” era mínimo, quase nulo, e restringia-se a uma crítica e a 34 uma denúncia deles, vistos como expressões de práticas conservadoras ou mesmo reacionárias promovidas pelo Estado capitalista. Muito embora eu viesse acompanhando um pouco as discussões a respeito da “reforma urbana” desde meados daquela década, as quais culminaram com a elaboração da “Emenda Popular da Reforma Urbana”, submetida em 1987 ao Congresso Constituinte, minha mente ainda se achava por demais prisioneira de certos reducionismos e preconceitos, de modo que eu tendia a só valorizar, em matéria de contribuição para mudanças sócio-espaciais na direção de uma redução da heteronomia, as práticas dos movimentos sociais (ainda que elas de maneira alguma fossem encaradas sem um alto grau de exigência e mesmo uma certa dose de ceticismo, conquanto não no estilo em última análise desqualificador do “primeiro Castells”, aquele do La question urbaine). As práticas estatais, por outro lado, eram olhadas, quaisquer que fossem, com absoluta suspeição. Pode-se talvez dizer, a meu favor, que a conjuntura política do período, anterior ao momento que, em 1989, viu nascer experiências muito interessantes (ainda que limitadas e ardilosas...) como o orçamento participativo de Porto Alegre, de fato não era nada estimulante. Seja como for, minha trajetória dos anos 80 me facultou uma poderosa “vacina” contra o “vírus” do reformismo complacente, “imunizando-me” contra a degenerescência um tanto quanto tecnocrática (“tecnocratismo de esquerda”, como venho provocando desde os anos 90) que passou a caracterizar o mainstream do pensamento sobre a “reforma urbana” no Brasil já a partir de fins dos anos 80. Sem embargo, o refluxo e o enfraquecimento dos ativismos urbanos no Brasil, e mais amplamente a mediocridade política e o neoconservadorismo que, em escala global, tornaram-se hegemônicos ao longo da década de 80, me foram estimulando, juntamente com a “redemocratização” no Brasil e as possibilidades institucionais que isso permitiu (criação e multiplicação de instâncias participativas, de políticas públicas de caráter [re]distributivo etc.), a uma reflexão mais ponderada, embora de forma alguma complacente, a propósito do que se poderia (ou deveria) esperar (ou não esperar) do aparelho de Estado. Algo me dizia que, para além das leituras estruturais (planejamento urbano = Estado capitalista = exploração e opressão), em si mesmas um balizamento essencial, havia toda uma complexidade de situações e margens de manobra a explorar. Foi nessa época que “redescobri” a obra tardia de Nicos Poulantzas e sua reflexão sobre o Estado como uma “condensação de uma relação de forças” (POULANTZAS, 1985). Muito embora eu já tivesse rejeitado, desde meados da década de 80, a concepção de Estado do marxismo ortodoxo (que o reduzia a um “comitê executivo da burguesia”), a obra de Castoriadis, que se havia revelado decisivamente útil para mim em tantos outros aspectos, mostrou-se pouco útil no que se refere à tarefa de abraçar uma alternativa simultânea à concepção de Estado do liberalismo (“juiz neutro”, “árbitro pairando acima dos conflitos de classe”) e à visão marxista-leninista tradicional. Com Poulantzas isso foi possível, e uma “integração” do insight de Poulantzas ao arcabouço autonomista me permitiu, desde então, compreender melhor e tirar as devidas consequências, em um plano operacional, que o Estado, embora seja estruturalmente heterônomo (e, portanto tendencialmente sempre conservador), não é um “monólito”, um bloco sem fissuras ou contradições; conjunturas específicas, sob a forma de governos concretos, podem trazer consigo não somente uma potencialidade no que tange a ações diretamente desempenhadas pelo aparelho de Estado e que possam, dialeticamente (ou seja, contraditoriamente), apresentar uma positividade emancipatória, mas também oferecer para os movimentos sociais emancipatórios uma margem de manobra legal e institucional a ser inteligente e convenientemente explorada. Ao mesmo tempo, todavia, não me escapou que, em última análise, o Estado permaneceria sendo, sempre, uma instância de poder heterônoma e perigosa (risco de cooptação, por exemplo)... Explorar as possibilidades oferecidas por políticas públicas, pela legislação formal e por instrumentos com forte potencial (re)distributivo e por esquemas de participação popular o chamado domínio da luta institucional (não-partidária) ao mesmo tempo em que não se deixava de lado a contribuição que os movimentos sociais poderiam oferecer e tinham já oferecido diretamente domínio da ação direta, foi a tarefa que me propus a enfrentar entre fins da década de 90 e meados do decênio seguinte. Esse período teve, por assim dizer, duas “fases”, que refletiram não somente meu maior amadurecimento analítico mas, também, uma estratégia de publicação. Em uma primeira “fase” (que tem como “precursor” um texto por mim publicado já em 1993 nas Actas Latinoamericanas de Varsóvia, sobre as perspectivas e limitações da “reforma urbana” [C3]), o principal produto, o livro Mudar a cidade: Uma introdução crítica ao planejamento e gestão urbanos (A3), publicado em 2002, representou o meu esforço para submeter a escrutínio toda uma experiência acumulada de crítica do planejamento e da gestão promovidos pelo Estado e de desenho e implementação de instrumentos e políticas públicas de tipo “alternativo”, “progressista” e “participativo”. Experiências e instrumentos de planejamento e gestão urbanos participativos de diversos países, mas sobretudo do Brasil (com uma ênfase especial sobre tudo o que se discutira, desde os anos 80 e 90, sob as rubricas “reforma urbana”, “orçamentos participativos” e “novos planos diretores”), foram, nesse livro (mas também em inúmeros artigos, publicados mais ou menos na mesma época: p.ex. B11, B12, C12, C13, C14, C15, D3 e E4), identificados, esquadrinhados e avaliados. Em contraste com o período representado por minha dissertação de mestrado, o livro Mudar a cidade simboliza uma clara valorização, se bem que decididamente cautelosa e antiestadocêntrica, da luta institucional não-partidária (isto é, das possibilidades de aproveitamento de canais participativos institucionais por parte das organizações de ativistas), sob influência da conjuntura favorável que se estendeu da década de 90 (ou já desde fins da década anterior) até o começo da década seguinte. Durante vários anos, do finzinho da década de 90 até meados do decênio seguinte, estudei, sistematicamente, nos marcos de projetos de pesquisa que incluíram trabalhos de campo em cidades tão distintas quanto Porto Alegre e Recife, as potencialidades, limitações e contradições de vários instrumentos de planejamento geralmente tidos como progressistas e de diversas institucionalidades participativas (conselhos gestores, orçamentos participativos etc.), com o fito de formar um juízo mais sólido sobre o assunto. Em uma segunda “fase”, cuja principal expressão é o livro A prisão e a agora (A6), aprofundou-se a discussão dos limites do esquemas de planejamento e gestão urbanos participativos patrocinados pelo aparelho de Estado, ao mesmo tempo em que o papel dos movimentos sociais teve sua análise complementada e refinada em alguns pontos importantes (voltarei a isso mais adiante). Fica mais nítido, nessa segunda “fase”, aquilo que, desde o começo, era a minha principal motivação para submeter a escrutínio os instrumentos, estratégias e rotinas de planejamento e gestão urbanos: explorar a questão das potencialidades, das limitações e dos riscos (por exemplo, dos riscos de cooptação), para os movimentos sociais, do envolvimento com a luta institucional (negociações com e pressões sobre o aparelho de Estado, apoio a canais e instâncias participativos oficiais, acesso a fundos públicos, acompanhamento ativo de processos legislativos e geração de expectativas concernentes ao potencial distributivo de instrumentos e políticas públicas), compreendida como um complemento taticamente conveniente ou necessário (em certas circunstâncias) da ação direta. Devido à grande atenção dedicada, no livro Mudar a cidade, a instrumentos de planejamento e rotinas de gestão a serem implementados pelo Estado (ainda que sob pressão e influência da sociedade civil, bem entendido), esse livro padece de um certo “desequilíbrio”, coisa que já não ocorre com A prisão e a ágora. A CRIMINALIDADE VIOLENTA COMO DESAFIO PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ESPACIAL NAS CIDADES Conforme eu já expliquei anteriormente, meu interesse pela criminalidade violenta, como uma forma de compreender certos aspectos fundamentais da produção do espaço urbano do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras, começou durante a pesquisa de minha tese de doutorado. Esse interesse, conforme também já tive oportunidade de mencionar, teve continuidade logo após o meu retorno ao Brasil. Formalmente, dediquei um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq ao estudo dos efeitos sócio-espacialmente desestruturadores/reestruturadores do tráfico de drogas nas cidades brasileiras, sendo o produto principal dessa atividade de pesquisa o livro O desafio metropolitano. Ao longo da década de 90 investi em uma abordagem e propus um conceito, a que denominei fragmentação do tecido sociopolítico-espacial da cidade, que reunia, em um todo analítico e explicativo integrado, o exame da formação de enclaves territoriais ilegais controlados pelo tráfico de drogas de varejo, a autossegregação em “condomínios exclusivos” e a “decadência” dos espaços públicos. Não se tratava, aí, de atualizar ou renovar as reflexões sobre a segregação residencial no Rio de Janeiro que eu realizara no início dos anos 90, mas de ir além da segregação enquanto conceito e realidade sócio-espacial. Com efeito, a referida fragmentação do tecido sociopolítico-espacial, conquanto se assente sobre a segregação residencial (e sobre vários outros problemas, que exigem, inclusive, a consideração de processos operando em escala global), a ela não se restringe e com ela não se confunde, como venho argumentando em artigos publicados em periódicos, coletâneas e anais de congressos desde os anos 90 e, também, em vários livros. A segregação residencial existe e existiu desde sempre, em qualquer cidade inscrita em uma sociedade de classes, na qual existam assimetrias e desigualdades estruturais. A fragmentação do tecido sociopolítico-espacial, de sua parte, é um fenômeno mais específico, que, por assim dizer, se superpõe a uma segregação já existente e a agrava (ou agrava alguns de seus aspectos, como a estigmatização sócio-espacial). No que toca aos livros relacionados com a temática, a O desafio metropolitano seguiu-se, em 2006, A prisão e a ágora: Reflexões sobre a democratização do planejamento e da gestão das cidades. Este trabalho foi concebido como o primeiro de uma espécie de “trilogia” uma “trilogia” curiosa, não apenas por estar somente na minha cabeça e não ter sido explicitada para o público leitor como intenção do autor, mas também porque, nela, a “síntese” precede a “análise”. Explicando este último ponto: ao mesmo tempo em que A prisão e a ágora deveria retomar, de maneira articulada, minhas preocupações, meu envolvimento profissional e meu engajamento com o planejamento urbano crítico e os movimentos sociais (aquilo que, em grande parte metaforicamente, é representado pela “ágora” do título), o livro também deveria sintetizar os resultados de mais de uma década de pesquisas sobre a violência urbana, a fragmentação do tecido sociopolítico-espacial e a “militarização da questão urbana” (a “prisão” do título, em grande parte, embora não inteiramente, a ser interpretada enquanto metáfora) sendo os dois componentes, a “prisão” e a “ágora”, examinados e discutidos integradamente, um em relação com o outro. Por outro lado, era minha intenção, desde o começo, desdobrar esse livro em dois outros: um que retomasse e aprofundasse algumas questões relativas à “prisão”, isto é, à violência, heteronomia, à fragmentação, à “militarização da questão urbana”; e outro que retomasse e aprofundasse a análise da “ágora”, em particular da espacialidade e do papel dos movimentos sociais urbanos. Fobópole: O medo generalizado e a militarização da questão urbana (A7) foi publicado em 2008 tendo sido um dos dez finalistas do Prêmio Jabuti em 2009, na categoria ciências sociais e constituiu a exploração aprofundada disso que estou chamando de a dimensão da “prisão”, desdobrando e esmiuçando alguns assuntos que já haviam sido focalizadas no A prisão e a ágora. O aprofundamento da reflexão sobre a dimensão da “ágora” (as espacialidades de insurgência e luta por direitos e liberdade, com destaque para aquelas efetivamente caracterizadas por uma dinâmica autogestionária), de sua parte, ficará a cargo de um livro que, no momento, está sendo elaborado (vide a seção “O espaço no pensamento e na práxis libertários”, um pouco mais à frente). Depois da publicação de A prisão e a ágora e Fobópole, passei a concentrar-me, no que respeita ao interesse pela temática da violência e da criminalidade, exclusivamente à interseção desse assunto com o tema da dinâmica e dos desafios dos movimentos sociais (problema já focalizado no Cap. 3 de Fobópole e em vários 38 artigos), do que derivou, sobretudo, o longo artigo Social movements in the face of criminal power, publicado em 2009 na revista City (C21). A crise do ativismo favelado possui as suas especificidades em comparação com a dos bairros formais. Uma das causas da crise dos ativismos favelados no Rio de Janeiro já a partir dos anos 80 e, desde os anos 90, cada vez mais em várias outras cidades, foram e têm sido, ao lado dos efeitos de longo prazo do clientelismo tradicional (o qual é indissociável de um quadro de pobreza, desigualdade e dependência), certos impactos da presença crescente do tráfico de drogas de varejo nas favelas, conforme o autor já fizera notar em trabalho anterior (A2, págs. 167-8; ver, também, A6, A7, B2, B13, B25, B26, C4, C5, C6, C7, C17, C21, C32, C37). Embora seja difícil ter acesso a dados confiáveis, tudo indica que o número de líderes de associações de moradores de favelas mortos ou expulsos por traficantes, por se recusarem a submeter-se, tem sido, no Rio de Janeiro, desde os anos 80, muito grande, e igualmente muito grande parece ser o número daqueles que, diversamente, aceitaram submeter-se ou foram mesmo “fabricados” por traficantes. E o Rio de Janeiro é apenas um exemplo particularmente didático; casos de líderes favelados intimidados ou mortos por traficantes e de (tentativas de) interferência de criminosos em associações de moradores têm sido também reportados a propósito de várias outras cidades brasileiras. A isso se vêm acrescentando, cada vez mais, as intimidações por parte de grupos de extermínio (“milícias”), formados por (ex-)policiais, envolvidos em diferentes tipos de atividades ilegais, a começar pela extorsão de moradores. O problema das interferências dos traficantes de drogas e “milícias” (sem falar na tradicional brutalidade policial) já começou a colocar-se também para a “segunda geração” dos “novos ativismos urbanos”, como o movimento dos sem-teto (vide A7 e C21). Cite-se, a título de exemplo, a expulsão dos militantes da organização Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) da ocupação Anita Garibaldi (uma grande ocupação na periferia de São Paulo, em Guarulhos, iniciada em 2001), em 2004. De nada adiantou os ativistas buscarem “argumentar” com os traficantes e, depois, tentarem enfrentá-los. Até que ponto a ação de criminosos tem o potencial de dificultar o crescimento e a atuação dos movimentos sociais no meio urbano? (14) Para os traficantes de drogas operando no varejo, uma favela e uma ocupação de sem-teto representam possíveis pontos de apoio logístico. (15) É possível imaginar que os movimentos conseguirão, em algumas situações, evitar, com base na astúcia, ser expulsos e desterritorializados (vide A6, a propósito de uma situação desse tipo envolvendo uma ocupação de sem-teto do Rio de Janeiro). É lícito conjecturar, porém, uma tendência de fricções e conflitos. O tráfico de varejo de drogas ilícitas é uma atividade capitalista, embora informal, e os seus agentes são, muitas vezes, oprimidos que oprimem outros oprimidos (A6, pág. 510; A7; C17, pág. 7; C19). Todavia, imaginá-los como “potencialmente revolucionários” (e, por isso, potencialmente aliados das organizações de movimentos sociais) pelo fato de serem, de algum modo, explorados e consumidos pelo sistema como peças descartáveis, seria um caso extremo e quase delirante de raciocínio simplista e mecanicista e de wishful thinking (A7). Por outro lado, os traficantes de varejo são, sim, os “primos pobres” do tráfico de drogas; têm origem quase invariavelmente pobre e em espaços segregados, e são instrumentalizados por todo um conjunto de agentes sociais que engloba de empresários a policiais. Em vez de analisá-los apenas como categoria genérica (“os traficantes de varejo”), cabe lembrar que, no que se refere a essas pessoas, há muitas situações, dos garotos de onze ou doze anos de idade (ou até menos) que geralmente atuam como “olheiros” e “aviõezinhos” até os “donos” que operam a partir de presídios, passando pelos “soldados” (muitas vezes simples adolescentes) e “gerentes”. Diversos cenários podem ser construídos a propósito de como as relações entre ativistas e criminosos podem evoluir nos próximos anos, mas toda cautela é pouca a esse respeito. É bastante realista aceitar que o quadro atual dá margem a vários tipos de pessimismo, mais que a qualquer otimismo significativo. No limite, é possível especular igualmente sobre outra coisa: a militarização da questão urbana, decorrente das respostas estatais à problemática da insegurança pública, não é, também, uma ameaça para qualquer movimento emancipatório?... Medidas legais restritivas e estratégias repressivas adotadas para (e a pretexto de) coibir a ação de criminosos não poderão ser utilizadas para constranger e abafar também movimentos sociais? Não se trata de pura dedução: a história da relação dos movimentos com o aparato policial e penal do Estado sempre mostrou exatamente isso, com intensidade variável ao longo do tempo. No momento, a luta contra o terrorismo a partir dos EUA e da Europa já traz evidências suficientes de uma nova fase do problema. No Brasil, onde a criminalidade ordinária desempenha o papel que, nos países centrais, é cumprido pelo espectro do terrorismo, a fragilidade da “democracia” representativa torna-se evidente em face do caráter “estrutural” e quase ubiquitário da corrupção estatal e o papel ainda largamente tutelar desempenhado pelas Forças Armadas (ZAVERUCHA, 1994:Cap. 3 e 2005) não pode ser ignorado, deve-se ter atenção para com os desdobramentos de longo prazo. A preocupação, no caso, é menos com golpes militares explícitos e clássicos que com um recrudescimento da militarização da questão urbana, que, aliás, já vem se manifestando desde os anos 90 (A2, pág. 98; A6, pág. 491; A7). AUTOGESTÃO E “AUTOPLANEJAMENTO”: UM OLHAR DIFERENTE SOBRE O PLANEJAMENTO E A GESTÃO URBANOS... E SOBRE OS PRÓPRIOS MOVIMENTOS SOCIAIS A dimensão da “ágora”, porém, tal como tratada por mim em diversos capítulos de livros, artigos em periódicos e anais de congressos (como em B19, B21, B26, C12, C18, C23, C24, C25, C27, C33, C34,C35, C36, E16, E17, E18, E19, E20, E33) e, em particular, no livro A prisão e a ágora, merece algumas considerações adicionais. Afinal, se no Mudar a cidade eu havia focalizado mais detidamente a margem de manobra oferecida por um planejamento e uma gestão críticos promovidos pelo próprio Estado (ainda que sem deixar de lado as contribuições oferecidas pelos movimentos sociais diretamente), e se no livro O desafio metropolitano a preocupação com os movimentos sociais aparece sobretudo em seu aspecto “negativo” (vale dizer, análise de uma “crise” e de seus fatores), A prisão e a ágora e outros trabalhos de meados da década refletiram as minhas pesquisas sistemáticas sobre as potencialidades e as conquistas dos movimentos sociais incluindo-se, aí, uma defesa, muito mais aprofundada que aquela oferecida em algumas passagens do Mudar a cidade (como o Cap. 11 da Parte II), da possibilidade de analisar os movimentos sociais e suas organizações também como agentes de planejamento e gestão urbanos. A ideia de que os movimentos sociais e suas organizações podem e devem ser enxergados também como agentes de planejamento e gestão urbanos é, para muitos, simplesmente contraintuitiva, devido ao arraigado preconceito (cujas razões teóricas e causas ideológicas tenho me esforçado para desvendar e explicitar) segundo o qual “planejamento urbano” e “gestão urbana” são atividades desempenhadas exclusivamente pelo aparelho de Estado. Opondo-me a isso, propus, com base em argumentos teórico-conceituais e evidências empíricas, uma expansão do entendimento do que seriam “planejamento urbano” e “gestão urbana”, de modo a englobar também diferentes aspectos das ações de vários movimentos sociais e suas organizações (movimento dos sem-teto no Brasil, piqueteros, asambleas barriales e fábricas recuperadas na Argentina, entre outros). É claro que me preocupei em esclarecer as muitas diferenças entre as práticas de planejamento e gestão realizadas pelos movimentos, de um lado, em comparação com as atividades do Estado, de outro, à luz das óbvias diferenças em matéria de prerrogativas legais (por exemplo, desapropriação de imóveis), de capacidade econômica etc. Entretanto, examinar os movimentos a partir desse ângulo permitiu não só elucidar melhor certas coisas, mas também situar melhor, conceitual e classificatoriamente, o universo do que eu venho chamando, há muitos anos, de planejamento e gestão urbanos críticos: se, em circunstâncias favoráveis, que tendem a ser antes a exceção que a regra, o próprio aparelho de Estado, na qualidade de governos específicos em conjunturas bastante particulares, pode, conforme já argumentei, bancar e promover a implementação de estratégias, políticas públicas, instâncias participativas e instrumentos que representam um avanço em matéria (re)distributiva e, às vezes, até mesmo político-pedagógicas (ampliação de consciência de direitos, “escolas de participação direta” etc.), somente os movimentos sociais podem protagonizar práticas espaciais insurgentes, que questionem a instituição global da sociedade e apontem para a sua superação radical. Com isso, um “planejamento urbano” e uma “gestão urbana” insurgentes, protagonizados pelos próprios movimentos sociais em diversas escalas da gestão dos seus “territórios dissidentes” em escala “nanoterritorial” ou microlocal até suas articulações em rede e ações arquitetadas em escalas supralocais, passaram a ser conceitualmente tratados por mim como um subconjunto do planejamento e da gestão urbanos críticos e, na verdade, como um subconjunto particularmente ousado, o único potencialmente radical. Algumas de minhas contribuições a esse respeito têm obtido repercussão, inclusive, em âmbito internacional: prova disso é que, em 2014, saiu publicada uma tradução para o francês de um texto originalmente publicado em inglês na revista City, da Inglaterra. Providenciada pelos próprios colegas em que saiu publicado o capítulo (intitulado “Ensemble avec l’État, malgré l’État, contre l’État. Les mouvements sociaux, agents d’un urbanisme critique” [B27]) (16), Matthieu Giroud, um dos organizadores da coletânea (ao lado de Cécile Gintrac), não se limitou a fazer uma breve apresentação de meu texto: escreveu uma apresentação de sete páginas sobre o que tem sido o meu trabalho, sob o título “Marcelo Lopes de Souza, l’oeil libertaire d’Amérique latine”. Um reconhecimento desse naipe e desse calibre não pode deixar de ser visto por mim como uma certa compensação por trabalhar, como os demais pesquisadores brasileiros, em condições geralmente subótimas quando não hostis em matéria de infraestrutura e quadro institucional. (Mal sabe a maioria dos colegas europeus e estadunidenses aquilo que, no dia a dia, com frequência enfrentamos...) Voltando às práticas de “planejamento urbano” e “gestão urbana” insurgentes, por fim, havia igualmente que distinguir entre situações distintas do ponto de vista político. Mais especificamente, se tornava necessário explicitar, da maneira mais criteriosa possível, as diferenças entre formas de organização mais “horizontais” e anti-hierárquicas, mais distantes de práticas heterônomas e centralistas, e, de outro lado, formas de organização significativamente “verticais”, embora insurgentes e críticas em face da ordem sócio-espacial capitalista. Tratava-se, mais concretamente, de admitir que, em matéria de “planejamento urbano” e “gestão urbana” insurgentes, nem tudo era (projeto de) autogestão e, por analogia, tampouco “autoplanejamento”. Essas diferenças têm sido sistematicamente estudadas por mim desde meados da década; embora tenham alcançado uma condensação inicial bastante explícita em A prisão e a ágora e em outros trabalhos, somente em um próximo livro, planejado para vir à luz daqui a alguns anos, é que será possível o aprofundamento que julgo ser necessário. Com esse outro livro encerrar-se-á, também, a “trilogia” que mencionei. Antes disso, porém, decidi fazer uma pausa de vários anos, para desincumbir-me de um projeto que acalentava, em segredo, desde os anos 1980: refletir, sistematicamente, sobre as concepções de espaço e as abordagens espaciais ao longo da história do pensamento libertário. É justamente essa a principal temática que me ocupou e ocupa no período que vem desde 2008, e sobre a qual discorrerei, ainda que forçosamente de modo muito sucinto, a seguir. O ESPAÇO NO PENSAMENTO E NA PRÁXIS LIBERTÁRIOS Logo após entregar à editora Bertrand Brasil o meu livro Fobópole, que foi publicado em maio de 2008, passei a dedicar-me ao levantamento sistemático e à leitura ou releitura de material para o meu próximo livro, juntamente com as atividades concernentes ao principal projeto de pesquisa por mim coordenado, o projeto CNPq intitulado Territórios dissidentes: Precarização socioeconômica, movimentos sociais e práticas espaciais insurgentes nas cidades do capitalismo (semi)periférico, conduzido por mim desde 2007. Começava a tomar forma, naquele momento, a obra O espaço no pensamento e na práxis libertários, que se encontra, atualmente, em estágio de redação. A preparação desse livro, porém, foi interrompida em 2011, para que eu pudesse me dedicar à elaboração de um outro, que considerei mais prioritário em termos imediatos, ainda que não tivesse a ver tão diretamente com os meus projetos de pesquisa: trata-se da obra Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial (A11 destinada a estudantes de graduação. Trata-se, como o nome sugere, de uma obra de discussão de conceitos básicos; a motivação para escrevê-la foi a constatação de que vários conceitos importantíssimos ainda não haviam sido sistematicamente explorados em língua portuguesa, ou, então, no caso de outros tantos conceitos, os melhores artigos disponíveis já tinham, em grande parte, dez, quinze ou mais anos desde que foram publicados. Escrita de modo a valer como uma introdução, a obra não deixou, porém, de trazer também muitos resultados de quase três décadas de pesquisas e reflexões pessoais, muito embora a variedade de conceitos ali tratados levasse a que, no caso de alguns deles (como região), a minha contribuição original individual seja diminuta. Como todo manual voltado para iniciantes, a liberdade do autor acaba sendo muito menor que no momento de redigir um ensaio ou artigo que reflita os resultados de suas pesquisas específicas: em uma obra como o livro em questão, somos obrigados a tratar não apenas do que nos agrada ou daquilo com que temos mais afinidade (ou a respeito do que temos mais acúmulo direto), mas sim daquilo que de fato é relevante para os estudantes, de modo a não gerar muitas lacunas ou assimetrias. Uma vez entregue na editora Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial, pude, então, debruçar-me de novo sobre O espaço no pensamento e na práxis libertários. Vem de longa data o meu interesse em refletir sobre a “linhagem libertária” na Geografia, sem restringi-la ao anarquismo clássico e buscando, com efeito, levar em conta as reflexões de neoanarquistas, autonomistas e outros intelectuais antiautoritários, tanto europeus (de Bookchin e Castoriadis a Foucault, Deleuze & Guattari) quanto latino-americanos (como Raúl Zibechi), que, mesmo sem serem geógrafos de formação, refletiram profunda e/ou criativamente sobre o espaço e a espacialidade. Foi somente em 2008, todavia, paralelamente ao projeto Territórios dissidentes (e, até certo ponto, em articulação com ele), que comecei a me organizar para fazer uma longa e minuciosa pesquisa sistemática, que incluísse a leitura (e, em vários casos, releitura) das obras de Élisée Reclus (em que só La Terre, a Nouvelle Gégraphie Universelle e L’Homme et la Terre, juntas, totalizam cerca de vinte e três mil páginas!) e Piotr Kropotkin, assim como de vários outros autores. De lá para cá, transformou-se em convicção a minha intuição de que do exame sistemático e generoso das contribuições teórico-conceituais explícitas e implícitas da “linhagem libertária” poderia resultar uma contribuição à renovação da pesquisa sócio-espacial, bastante em conformidade com as necessidades e urgências de nossa época. Diversos artigos em periódicos e anais de congressos ou divulgados na Internet têm já se beneficiado dos resultados preliminares dessa empreitada (por exemplo, B19, C22, C23, C24, C25, C26, C35, C36, C37, C38, C41, E16, E17, E18, E19 e E20). Um outro marco da publicização de resultados preliminares sobre o tema foi a (co-)organização, em 2013 (juntamente com Richard White, da Sheffield Hallam University; Simon Springer, da University of Victoria; de Collin Wlilliams, da University of Sheffield; de Federico Ferretti, da Universidade de Genebra; de Alexandre Gillet, da Universidade de Genebra; e de Philippe Pelletier, da Universidade de Lyon) do panel (compreendendo três sessões ao longo de um dia inteiro de atividades) Demanding the impossible: transgressing the frontiers of geography through anarchism, parte das atividades da Annual International Conference 2013 da Royal Geographical Society (em parceria com o Institute of British Geographers), realizado em Londres. No momento (dezembro de 2014), posso dizer que, após ter finalizado a parte principal do levantamento de material já no começo de 2010, estão também concluídas a fase das análises básicas a respeito das obras de alguns autores (como Élisée Reclus, Piotr Kropotkin, Murray Bookchin e Cornelius Castoriadis) e uma grande parte da primeira versão do trabalho. Contudo, não tenho tido pressa em terminar a redação: venho me permitindo verdadeiramente degustar as coisas que leio (muitas delas deliciosas, como é o caso de praticamente toda a prosa de um Reclus ou de um Kropotkin ora, como sabiam escrever os antigos!), checando e rechecando fontes, cotejando versões em diferentes línguas, polindo e tornando a polir o estilo, verificando os últimos detalhes. Também tenho aproveitado as estadias de ensino e pesquisa no exterior (como, recentemente, em Madri, entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014) para levantar material adicional em bibliotecas, arquivos e livrarias, e até para realizar entrevistas. Por maior que seja a minha paixão por meu trabalho como um todo, poucas vezes uma tarefa me cativou tanto quanto a longa pesquisa que está na base da redação desse livro. No entanto, decidi não formalizar a pesquisa que está na base de O espaço no pensamento e na práxis libertários, submetendo um projeto a algum órgão de fomento. Isso por várias razões. Em primeiro lugar, porque Territórios dissidentes, que tem como um de seus objetivos propiciar alguns cotejos entre situações nacionais distintas (Brasil, África do Sul e Argentina, principalmente), já é um projeto que exige grande fôlego. E a isso se acrescenta o fato de que, recentemente, estive envolvido (ou passei a estar envolvido) com dois projetos internacionais: de 2011 a 2013 fui o coordenador latino-americano do projeto Solidarity Economy North and South: Energy, Livelihood and the Transition to a Low-Carbon Society, financiado pela British Academy; e desde 2012 (e até 2016) tenho sido membro do Steering Committee do projeto Contested_Cities Contested Spatialities of Urban Neoliberalism. Dialogues between Emerging Spaces of Citizenship in Europe and Latin America, financiado pela União Europeia, que reúne dez universidades de seis países diferentes (Inglaterra, Espanha, Brasil, México, Argentina e Chile), sendo eu o coordenador da equipe brasileira. Em segundo lugar, porque foram exatamente certas observações e constatações que fiz no decorrer da condução do projeto Territórios dissidentes, inclusive com base em trabalhos de campo no Brasil e fora do Brasil, que me levaram a, finalmente, dar início ao sempre protelado esforço de reflexão sistemática sobre o lugar do espaço e da espacialidade na história do pensamento e dos movimentos libertários: mormente a constatação, ou antes confirmação, de que vários movimentos sociais emancipatórios da atualidade possuem tanto uma inequívoca dimensão libertária (autogestionária, “horizontal” etc.) quanto um denso conteúdo de “geograficidade” (organizacional, estratégica e identitariamente). Resolvi, então, que o mais razoável seria cultivar O espaço no pensamento e na práxis libertários como uma espécie de “projeto paralelo”, mas de modo algum menor. A rigor, ainda que Territórios dissidentes implique uma discussão teórica específica e que O espaço no pensamento e na práxis libertários se alimente de muito material empírico, há, entre esses dois esforços, uma relação de complementaridade: Territórios dissidentes se nutre, em grande parte, das reflexões teórico-conceituais que associo mais diretamente a O espaço no pensamento e na práxis libertários, enquanto que este bebe, a todo momento, na fonte de material empírico que é o ambiente mais imediato de Territórios dissidentes. E há, também, diferenças outras, por conta dessas já citadas: a pesquisa que embasa a maior parte de O espaço no pensamento e na práxis libertários é um pouco solitária e artesanal, dependente de uma imensa carga de leitura com a qual eu mesmo preciso lidar (e que prazer tem sido lidar com ela!), ao passo que Territórios dissidentes se beneficia grandemente dos esforços somados de toda uma equipe sob a minha orientação. Aliás, é chegada a hora de fazer um agradecimento dos mais necessários: aos meus colaboradores, sejam orientandos de graduação ou pós-graduação. Eles, juntamente com os muitos parceiros fora da universidade (nos movimentos sociais, sobretudo, mas também em outros ambientes), além de alguns bons amigos e colegas pesquisadores espalhados por quase meia dúzia de países, têm sido o esteio indispensável à realização de pesquisas tão dependentes de trabalho de campo e levantamentos bibliográficos extensos e diversificados. Sem a ajuda desses pesquisadores, bastante jovens na sua quase totalidade, eu certamente não teria obtido muitos dos resultados que logrei obter, desde meados dos anos 1990. Sem a ajuda deles eu seria, seguramente, apenas um pesquisador solitário, (auto)confinado a certas tarefas, e provavelmente mais rabugento do que sou. OS “PRÓXIMOS CAPÍTULOS”: PROVÁVEIS FUTUROS PASSOS EM MINHA TRAJETÓRIA COMO PESQUISADOR Como já mencionei parágrafos atrás, coordeno, desde 2007, o projeto CNPq intitulado Territórios dissidentes: Precarização socioeconômica, movimentos sociais e práticas espaciais insurgentes nas cidades do capitalismo (semi)periférico; e, desde 2012, sou um dos coordenadores do projeto internacional Contested_Cities. É minha intenção publicar, após o término deles, e notadamente do projeto Territórios dissidentes, um livro que dê divulgação aos seus principais resultados. Entretanto, como o referido projeto só termina em 2018, esse livro, que já comecei a projetar, deverá ainda esperar vários anos para vir à luz, muito embora a redação de alguns de seus capítulos já tenha sido esboçada. Diversos artigos em periódicos e anais de congressos, além de alguns capítulos de livros, já têm trazido para o debate acadêmico alguns resultados parciais do que é um projeto ainda em andamento (vide, especialmente, B15, B16, C23, C24, C25, C32, C38, C40, D4, E7, E8, E11, E12, E14, E16, E17, E21, E22, E23; ver, também, o livro que co-organizei, sobre segregação residencial: A8). Provavelmente, contudo, nada será comparável a um livro que forneça uma visão de conjunto e aprofundada. De toda sorte, aquilo que imagino como os meus interesses prioritários pelos próximos cinco ou mesmo dez anos continuará tendo a ver com uma espécie de sinergia derivada da condução simultânea desses dois eixos de pesquisa; um, mais formal, representado pelo projeto CNPq (e pelo projeto da União Europeia); outro, mais informal, simbolizado pelo livro O espaço no pensamento e na práxis libertários. O acúmulo de material empírico e reflexões teóricas, com uma coisa continuamente fertilizando a outra, ainda irá render vários anos de trabalho, com diversos tipos de produtos específicos: livros, capítulos e artigos, cursos e palestras, textos de divulgação, atividades de extensão, e assim sucessivamente. Em sua essência, o que pretendo realizar, durante os próximos anos, tem a ver com o aprofundamento e o refinamento, por meio tanto da consolidação de análises já feitas quanto da incorporação de novos temas e novos exemplos empíricos, da abordagem do desenvolvimento sócio-espacial que venho tentando construir. Em especial, um eixo de discussões referente aos aspectos ecogeográficos da problemática deverá ser, na medida do possível, implementado, para além do nível preliminar até agora alcançado. Não, evidentemente, para tornar-me, a esta altura da vida, especialista na matéria, mas sim para incorporar, de modo mais profundo e sistemático, os resultados do conhecimento gerado por colegas que têm dedicado suas carreiras ao estudo das dinâmicas e vulnerabilidades dos ecossistemas, de maneira a robustecer a contextualização (e problematização) de questões concernentes, por exemplo, às vinculações entre segregação residencial e “risco ambiental”, e entre proteção ambiental (e a instrumentalização do discurso a esse respeito) e conflitos pelo uso do solo. Em um patamar de maior abrangência e abstração, cumpre também devotar crescente atenção aos vínculos dos diferentes modos de produção e “estilos de desenvolvimento”, de um lado, com as intensidades de “estresse ambiental” e resiliência ambiental”, por outro, ou ainda às maneiras de integrar TEK (= Traditional Ecological Knowledge) e SEK (= Scientific Ecological Knowledge). (17) Interessantemente, uma das mais importantes fontes de inspiração para esse tipo de ampliação de meus interesses não precisa ser buscada em nenhum lugar remoto: basta recordar o exemplo de Orlando Valverde, “geógrafo clássico” e completo cujo figurino intelectual me parece, quanto a esse tipo de preocupação, cada vez mais atual. Cenários de mais longo prazo que os próximos cinco ou, já um pouco temerariamente, dez anos são demasiado arriscados e, portanto, desaconselháveis. Tenho, todavia, a firme intenção, como já expus antes, de prosseguir burilando e lapidando as reflexões sobre a espacialidade das lutas contra a heteronomia e sobre os vínculos entre mudança social e transformação espacial, nos marcos do enfoque que tenho chamado, desde meados dos anos 1990, de “desenvolvimento sócio-espacial”. No fundo, esse tem sido o fulcro de meu trabalho acadêmico desde os anos 1980, e contra cujo pano de fundo todos os demais esforços podem ser encarados como esforços parciais, de “teste” ou de exemplificação. Tanto quanto posso enxergar (e esperar) agora, esse é o caminho que, se o destino e as circunstâncias assim permitirem, continuarei a trilhar. MARCELO LOPES DE SOUZA, PROFESSOR Dediquei-me, nas seções precedentes, a esquadrinhar e refletir sobre a minha atuação como pesquisador. É bem verdade que o meu trabalho propriamente como professor universitário, isto é, como educador, teve e tem a ver, na sua maior parte, com os resultados de meus esforços como pesquisador: sobretudo em nível de pós-graduação, mas também na graduação, muito do que eu tenho feito tem sido decorrência do conhecimento que amealhei em virtude e ao longo de minha experiência de pesquisa. Não obstante, duas razões se colocam para que um tratamento específico seja dado ao meu papel estritamente como docente: 1) um professor não é, ou pelo menos não deve ser, meramente um “pesquisador que ministra aulas”, mas sim alguém intrinsecamente preocupado com a comunicação de conteúdos aos mais jovens, aos futuros professores e pesquisadores (ou, no caso da pós-graduação, aos pesquisadores em início de carreira); 2) nem tudo o que lecionei teve relação direta com os meus temas preferenciais, muito menos com os temas de meus projetos de pesquisa. De partida, faço a confissão de que, na qualidade de professor, tenho sido constantemente assaltado pela angústia de quem regularmente se interroga sobre a eficácia e o efeito de suas palavras. Não que esse tipo de preocupação esteja ausente de minha labuta como pesquisador; se assim fosse, decerto não seria eu um cientista. Ocorre, porém, que há uma diferença entre, de um lado, fazer trabalho de campo, revirar papéis em um arquivo, coordenar e treinar uma equipe e escrever livros e artigos, e, de outro lado, conviver com um grupo (às vezes bem numeroso) de jovens em uma sala de aula, no contexto formal de uma disciplina. Por quê? Enquanto pesquisador, tenho, evidentemente, sempre que medir as minhas palavras e buscar o rigor; no campo, ao entrevistar pessoas que geralmente não conheço (embora, às vezes, já conheça, o que apresenta dificuldades adicionais), preciso adequar a minha forma de falar e, mesmo sem mentir, não posso me esquecer de ser cuidadoso e diplomático (dependendo do assunto da pesquisa, muitíssimo cuidadoso e diplomático, inclusive por razões de segurança, minha, da equipe e do entrevistado); e, ao lidar com os meus assistentes de pesquisa, não posso me esquecer de que são jovens em busca de orientação, não de sermões, muito menos de reprimendas que podem magoar e desestimular, em vez de estimular. (Uma autocrítica: algumas vezes me esqueci disso, ou me deixei guiar mais por emoções que pela razão. Lembro-me bem e com pesar de várias dessas ocasiões, e tento fazer com que a lembrança sirva de vacina.) Entretanto, ao conviver com orientandos e assistentes, tenho, via de regra, a chance de, após uma palavra inapropriada, um tom de voz desnecessariamente áspero ou uma pequena injustiça de julgamento, corrigir a falha, evitando maior prejuízo. (Felizmente, aliás, naqueles casos em que eu mesmo não me perdoei, tive a impressão de ser perdoado...) Um orientando ou um assistente, por conviver com o pesquisador que o guia por meses e anos, acaba por conhecer, em uma “escala humana”, as virtudes e as falhas deste, comumente aprendendo, por isso, a relevar os pequenos senões do quotidiano. O aluno, em uma sala de aula, não goza, normalmente, do mesmo privilégio. Por mais que se diminua a distância entre docente e discente, e por mais que o professor tenha a consciência de recusar uma “educação bancária” (como diria Paulo Freire, aquela que apenas “deposita conteúdos” nas cabeças dos alunos) e buscar um diálogo mesmo com tudo isso não deixará de existir uma relação menos ou mais formal, em que alguém ministra conteúdos, aconselha, auxilia e... avalia. Ah, as notas! E a função de avaliador permeia, sempre, em maior ou menor grau, a relação professor-aluno. Quem assiste a uma palestra ou conferência tem a plena liberdade de se retirar do recinto, se o conteúdo ou a forma (ou ambos) não lhe agradar; pode, inclusive, sem maiores sobressaltos (embora, na prática, não seja bem assim), desafiar o expositor para um duelo intelectual. No máximo, o expositor pode discordar, até mesmo com ironia ou (lamentavelmente) com grosseria ao que o desafiante pode retrucar no mesmo diapasão, em se apresentando a oportunidade. Quanto ao leitor real ou potencial de um livro ou artigo, ele pode decidir não ler a obra, ou, já tendo lido, vociferar contra a mesma, praguejar contra o autor, jogá-la fora ou (mais produtivo) escrever um competente comentário bibliográfico, para alimentar o debate científico. Já o aluno, na sala de aula, é, em princípio, alguém que, sabendo-se destinado a uma avaliação, terá de conviver com o medo, latente ou manifesto, de não tirar uma boa nota, ou mesmo de ser reprovado. Ao menos em nossas instituições formais, o que se tem é uma relação menos ou mais vertical, menos ou mais hierárquica. Nessas circunstâncias, a margem de manobra para a “parrésia” dos antigos gregos a plena e plenamente corajosa liberdade de expressão face a face tende a ser modesta. Dependendo da “fama de mau” do professor, modestíssima. Minha “fama”, pelo que me consta, não é de “mau”, mas, mais que propriamente ambígua, ela é ambivalente. Isso porque, por um lado, acho que sou conhecido entre os estudantes como exigente e, na opinião de alguns, de “durão” (especialmente, creio, daqueles que não sabem muito bem por que cargas d’água estão matriculados em um curso de Geografia, mesmo já tendo chegado ao último ano). Por outro lado, me permito acreditar, depois de duas décadas de magistério na UFRJ (ao que se acrescenta o ano e meio em que, durante o mestrado, lecionei na PUC-RJ, como professor auxiliar), que os alunos dedicados e sérios, por saberem que nada têm a recear e, imagino, também por desconfiarem que, a despeito do elevado grau de exigência, me esforço ao máximo para não ser injusto, comumente guardam boas lembranças do convívio comigo, inclusive no plano pessoal. Lembro-me bem de que, em algum momento no final dos anos 1990, desabafei com Roberto Lobato Corrêa, com quem na época eu dividia sala, queixando-me de que tinha chegado ao meu conhecimento que uma parte dos alunos me tinha como “muito exigente”, o que era motivo mais de temor do que propriamente de alegria por parte deles. Para mim, sempre tentando viver de acordo com os princípios que animam os meus projetos e escritos, essa imagem incomodava, pois eu desejava ser valorizado, exatamente, por ser exigente, ao mesmo tempo em que fazia de tudo para não exagerar. Recordo-me que Lobato me dirigiu mais ou menos as seguintes palavras: “quer saber de uma coisa? Essa é uma boa fama!” Partindo de quem partiu, essa observação serviu para reduzir enormemente as minhas inquietações. Porém, não as eliminou de todo: continuo, até hoje, me empenhando para que o “muito exigente” de alguns seja, em última instância, nada mais que um “exigente na justa medida”. De toda sorte, nada nos pode servir de álibi para fugir à constante reflexão sobre a postura em sala de aula, nos quesitos comunicabilidade, didática e justiça. Não é por acaso que, com frequência, peço a monitores e estagiários em docência algum tipo de feedback, após uma aula em que não estive seguro de ser plenamente compreendido: “e então, o que você acha? Por que será que fizeram tão poucas perguntas, hoje?! A aula foi chata? Eu peguei muito pesado?” É comum, nessas horas, que meu jovem interlocutor faça críticas à sua própria geração. Independentemente de ele ter razão ou não (e deixando de lado a hipótese de simples bajulação ou falta de sinceridade), diante disso costumo insistir, pois, certamente, há sempre ou quase sempre algo que um professor possa fazer para melhorar seu desempenho. E, à medida que a diferença etária me afasta mais e mais da geração de meus alunos de graduação, esse tipo de preocupação só faz aumentar. “Será que posso usar uma ou outra gíria, ou contar uma anedota, para quebrar o gelo e facilitar a comunicação? Mas, será que essa ainda é uma gíria usada pelos jovens de hoje?”; “será que estou abusando das metáforas?”; “devo forçar um pouco mais a barra?”. Eis perguntas que, a cada semestre e quase a cada aula, me faço. Quanto a isso, aliás, houve época em que eu buscava “a” forma ideal de lecionar. Sem perceber, eu estava sendo positivista, formalista. Hoje sei que podem existir princípios e dicas, mas que, como “cada turma é uma turma”, cabe a mim ser flexível. O geral só é geral porque existe o particular, com todas as suas particularidades. Além de tudo isso, preciso dizer que, com os meus alunos e graças a eles, fui me aprimorando, tornando-me menos rígido, ao mesmo tempo em que busco nunca virar leniente ou “bonzinho” (eu nunca respeitei professores apenas “bonzinhos”, e desconfio de que nenhum aluno, bom ou mesmo não muito bom, respeita). Mas, mais do que isso: várias vezes lucrei muito, também como pesquisador, quando alguém me fazia uma pergunta (ou uma crítica) que me obrigava a refinar um argumento, a atualizar meus dados e minhas informações, a preencher alguma lacuna, a encontrar uma forma de exposição mais persuasiva ou a ser mais claro. Sem querer ser apelativo, posso, honestamente, dizer que, com o passar dos anos, fui constatando o acerto das palavras de Sêneca, “docendo discǐmus”, “ensinando aprendemos”. Não é por acaso que, nos Agradecimentos de meus livros, várias vezes disse “obrigado” não apenas a assistentes, orientados e colegas, mas também aos alunos das turmas que tive os quais, com suas dúvidas, me despertaram novas dúvidas, ajudando a erodir algumas certezas provisórias. Propus e vi serem aprovadas, desde os anos 1990, diversas disciplinas eletivas de graduação. Inicialmente, vieram “Planejamento urbano para geógrafos” e “Tópicos especiais em planejamento urbano”, disciplinas que costumam surpreender aqueles que esperam cursos puramente “técnicos”, e acabam topando com estímulos à reflexão sobre as potencialidades, mas também sobre o contexto econômico, político e cultural, sobre os limites, sobre as contradições e sobre os riscos de instrumentos e leis formais sem contar com o fato de que se espantam por eu inserir discussões sobre um assunto que parece estranho de ali comparecer: o papel dos movimentos sociais. Mais tarde, chegaram “Urbanização brasileira” e “Teoria da urbanização”. Contudo, durante quatorze anos ministrei uma disciplina muito abrangente, obrigatória, que apenas em limitada medida tinha a ver com os meus interesses imediatos como pesquisador: “Geografia Humana do Brasil”. Cobrindo, com um enfoque temático que sempre implicava uma seleção criteriosa, temas que iam das estruturas agrárias e da “questão agrária” ao debate sobre a “reforma urbana”, passando pela espacialidade da industrialização, a (auto[s])segregação residencial nas cidades e a dialética entre problemas sócio-espaciais e “desastres naturais”, entre outros assuntos, essa disciplina representou um certo fardo mas, acima de tudo, quase uma benção. Reforcei, graças a ela, o hábito de estabelecer conexões variadas entre os meus assuntos específicos prediletos (ou temas de pesquisa) e várias outras questões relevantes, cujas interconexões se impunham a um olhar não viciado pelos excessos da especialização. Preciso admitir que levei alguns anos até me achar à altura de uma disciplina tão ampla coisa um tanto amedrontadora quando se tem, como eu tinha ao começar a ministrá-la, pouco mais de trinta anos de idade e não muita experiência de vida. Para falar do Brasil, da “geografia” de um país, conhecimentos advindos da leitura são, para dizer o óbvio, insuficientes. Com o tempo, acho que me tornei um professor algo melhor que sofrível de “Geografia Humana do Brasil”, e terminava uma aula bem satisfeito ao ver que os exemplos, as fotos ou os mapas que obtive em campo ou dando cursos e assessorias pelo Brasil afora surtiam um efeito didático que uma descrição ou uma explicação “de segunda mão” não teriam surtido. Ultimamente, de 2008 (quando deixei, por “fadiga específica” e temendo ficar muito repetitivo, de ministrar a “Geografia Humana do Brasil”) a esta parte, tenho acrescentado à minha experiência docente algumas disciplinas eletivas (que não foram criadas por proposta minha), no estilo “valise” ou “guarda-chuva”, em cujo âmbito trabalho, em cada semestre, com um tema central diferente: “Tópicos especiais em teoria e métodos da Geografia” e “Tópicos especiais em Geografia Política”. “Cidades, guerras e criminalidade”, “Os conceitos básicos da pesquisa sócio-espacial”, “Geografia dos movimentos sociais”, “Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial” e “A Geografia e o pensamento libertário” estão entre os assuntos que já focalizei, na qualidade de temas centrais dessas disciplinas. Na pós-graduação (tanto no mestrado quanto no doutorado), cheguei a ministrar (como, aliás, também na graduação) a disciplina “Metodologia científica”, mas já muito cedo propus a criação de uma disciplina, “Desenvolvimento sócio-espacial”. Esta tem sido ministrada por mim anualmente, mas sempre com um tema central diferente: da análise crítica das “teorias do desenvolvimento” dos anos 1950, 1960, 1970 e 1980 ao pensamento geopolítico a respeito da urbanização (e seus pressupostos e implicações), vários são os temas que abordei desde meados da década de 1990. Um núcleo básico, no entanto, está sempre presente: a reflexão crítica sobre os processos de mudança sócio-espacial e sobre os conceitos e teorias que podem nos ajudar a compreendê-los ou elucidá-los. Ainda na pós-graduação, tenho sistematicamente colaborado, desde a década de 1990, com os Seminários de Doutorado, seja coordenando-os eu mesmo (o que já ocorreu diversas vezes), seja oferecendo alguma palestra a convite algum colega (o que também já aconteceu em várias ocasiões). Também os cursos que ministrei no exterior (em Berlim, em Frankfurt/Oder, na Cidade do México e em Madri), sem contar as minhas experiências de interação direta com alunos de graduação e pós-graduação como conferencista no âmbito de atividades paradidáticas (em Tübingen, Londres, Edimburgo, Buenos Aires, Cidade do México, Joanesburgo e Madri, entre outros lugares), foram extremamente gratificantes. Serviram eles não somente para divulgar a ciência brasileira tentando, no caso de alguns países, colaborar para desafiar a formação eurocêntrica incutida desde cedo nos pesquisadores, mas também para aprender com o comportamento e a mentalidade dos estudantes de outros países e continentes. Não propriamente com satisfação, mas decerto que com interesse pude repetidamente constatar que, ao menos em matéria de motivação, meus alunos brasileiros não estavam atrás dos estudantes de países com uma vida universitária mais consolidada e um nível educacional formal mais elevado. No fundo, perceber (e, até certo ponto, compartilhar) as angústias de moças e rapazes de lugares e culturas tão diferentes tem sido algo que me impele ainda mais a refletir sobre o desafio generalizado que se coloca para as jovens gerações, atualmente amedrontadas, em todos os lugares, pelos fantasmas do desemprego, da precarização no mundo do trabalho, da erosão do welfare state (ou de seus arremedos, como no Brasil) e das medidas de controle sócio-espacial tomadas pelos Estados a pretexto do combate à criminalidade ordinária ou ao terrorismo. ARRISCANDO-ME COMO “ADMINISTRADOR” Independentemente de meus méritos e deméritos enquanto educador, abri mão de pôr a palavra “professor”, no meu caso, entre aspas. Não apenas por eu ser, formalmente, o tempo todo também professor, e não somente pesquisador; mas, igualmente, por me permitir pensar que minha atuação docente corresponde a uma de minhas vocações ou, quando menos, a uma de minhas paixões: a de transmitir conhecimento, comunicar descobertas e participar ativamente da formação dos futuros profissionais. Já o meu papel como administrador universitário, além de humilde e esporádico, provavelmente não corresponde, muito honestamente, a uma das coisas que faço na vida com maior competência. Mas há, aí, uma gradação a ser estabelecida. Se, por um lado, navegar em meio à burocracia (e lidar com as idiossincrasias dos burocratas) não está, definitivamente, entre os meus talentos, participar da formulação de políticas e diretrizes acadêmicas é uma das atividades que desempenho com mais gosto, e sobre a qual venho tentando, há bastante tempo, refletir. Não por acaso, a reforma do atual currículo do curso de bacharelado da UFRJ começou em fins dos anos 1990, quando eu era coordenador da graduação; e, no momento, após ter assumido em outubro de 2014 novamente a coordenação do curso de bacharelado (fui coordenador entre 1997 e 1998), integro e presido o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Departamento de Geografia, que tem como uma de suas missões, justamente, a discussão do currículo. A restrição acima, portanto, não significa que eu descure a atividade administrativa. Em parte, muito pelo contrário. Os problemas e os destinos das universidades e a formulação de políticas e diretrizes (curriculares, por exemplo) são temas que sempre me interessaram e motivaram. Não é à toa que, em meados de 2010, divulguei, para um amplo público, por meio de um sítio na Internet (PassaPalavra), uma série de reflexões intitulada “Universidades: burocratização, mercantilização e mediocridade” (vide E9 e E10). Outro exemplo é que, quando fui coordenador de graduação, em fins dos anos 1990, ajudei a deflagrar um processo de reforma curricular, desafio que sempre me motivou muito, por envolver a discussão do espírito e do futuro da disciplina. (E, no momento, me encontro, novamente, em uma comissão de reforma curricular, composta pelos membros do Núcleo Docente Estruturante.) No entanto, o dia a dia da gestão universitária, em um ambiente nem sempre caracterizado por lhaneza e urbanidade, além de amiúde padecer com a ausência de critérios claros (e, às vezes, com o desinteresse justamente pelo estabelecimento de critério claros) e com o absenteísmo e a desmotivação de alguns agentes fundamentais, exige uma flexibilidade, um sangue-frio e uma capacidade de não se irritar que, confesso, ainda estou procurando conquistar mais completamente. É necessário, mas não é fácil. Em que pese a minha dificuldade em lidar com os problemas supramencionados, não tenho, por obrigação institucional e por dever moral, me furtado a tentar cooperar também nessa seara. Sou e fui, como já mencionei, coordenador do curso de graduação em Geografia (bacharelado), e fui também, em duas ocasiões (1995 a 1996 e 2003 a 2004), vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ (sem contar a participação em comissões diversas). Espero ter acertado mais do que errado. Só posso dizer que cada nova experiência representou um aprendizado adicional, às vezes parcialmente doloroso. E percebi que, diante de circunstâncias muitas vezes bastante adversas (e quem dera que as dificuldades fossem meramente materiais...), tornar-se mais realista sem perder o entusiasmo e sem tornar-se cínico é um constante e magno desafio. ESFORÇOS COMO ORGANIZADOR DE EVENTOS E EDITOR DE PERIÓDICOS Tenho buscado colaborar com a organização de eventos científicos e, como se poderá depreender pelo exame de meu currículo, principalmente com a preparação de eventos temáticos (para algumas dúzias ou, no máximo, algumas poucas centenas de participantes), como o Primeiro Colóquio Território Autônomo (outubro de 2010) Os grandes eventos (muitas centenas ou alguns milhares de participantes) desempenham um papel relevante; por exemplo, na socialização acadêmica de estudantes e no início da carreira de jovens pesquisadores. Cada vez mais, porém, a massificação dos eventos, agravada pelo espírito “produtivista” (multiplicar os papers, às vezes bem repetitivos e pouco ou nada inovadores, com a finalidade de acumular pontos), exige que, se quisermos o aprofundamento de certos debates, teremos de lançar mão de eventos menores, que propiciem uma interação maior entre todos os participantes e invistam no adensamento de discussões específicas. Na verdade, eventos grandes e pequenos se complementam; não se trata de ter de optar por um ou por outro. Em matéria de participações como editor, minhas atividades começaram, de maneira bem artesanal e rudimentar, já com os meus primeiros ensaios na época da graduação, época em que, juntamente com alguns colegas, ajudei a criar duas revistas de vida muitíssimo curta: Geografia & Crítica e Práxis. Constato, com pesar, que não me restou nem sequer um único exemplar dos poucos que chegaram a ser publicados, na primeira metade dos anos 1980. Se os menciono, aqui, é, acima de tudo, por razões sentimentais. Minha primeira incursão “séria” no terreno da editoria de revistas científicas se deu nos anos 1990, já como professor da UFRJ. Foi em meados dos anos 1990 que, juntamente com alguns colegas vinculados ao Laboratório de gestão do Território/LAGET do Departamento de Geografia da UFRJ (inicialmente, Roberto Lobato Corrêa, Bertha Becker e Claudio Egler, aos quais se acrescentaram, mais tarde, dois outros editores, Maurício de Almeida Abreu e Gisela Aquino Pires do Rio), ajudei a criar a revista Território. Essa revista rapidamente se afirmou como uma das melhores da Geografia brasileira na década de 90, tanto pela qualidade dos textos (cuidadosamente avaliados) quanto pela qualidade de impressão e excelência estética. A partir do início da década passada, multiplicaram-se os convites para atuar como consultor científico de diversas revistas brasileiras. Uma, em particular, muito me alegrou: em 2003 tornei-me membro do Conselho Científico da revista Cidades, seguramente um dos mais importantes periódicos no campo dos estudos urbanos no Brasil e na América Latina. Exerci essa função até 2007, quando tornei-me, aí sim, membro da Comissão Editorial da referida revista. Organizei, inclusive, dois números especiais de Cidades (vide A9 e A10). Entre o final da década passada e o início da presente década foi a vez de, após publicar uma apreciável quantidade de artigos e capítulos de livros no exterior (em países tão diversos como Inglaterra, Alemanha, Polônia, Portugal, África do Sul, México, Venezuela e Equador), ser convidado para atuar como consultor permanente (já havia atuado como parecerista esporádico) e, depois, como editor de periódicos também no exterior, publicados em inglês. O primeiro desses convites veio em 2009, quando me tornei membro do International Advisory Board da revista City, publicada na Inglaterra pela editora Routledge, que vem se afirmando como um dos mais criativos e influentes veículos e fóruns de discussão de problemas urbanos no mundo. No ano seguinte recebi o honroso convite para tornar-me Associate Editor da mesma revista, incorporando-me a um rol que já incluía nomes como Manuel Castells e Leonie Sandercock trabalho que, para muito além da preparação de pareceres, inclui a participação na definição da própria linha editorial e do conteúdo temático da revista (temas de dossiês, alterações gráficas e de estrutura, reflexão sobre a “filosofia” e o papel do periódico, e assim segue). Desde 2011, aliás, coordeno, juntamente com Barbara Lipietz, a seção “Forum” daquela revista. Por fim, também em 2010, fui convidado para integrar o Editorial Board da revista Antipode, publicada nos Estados Unidos pela editora John Wiley & Sons (em associação, na Inglaterra, com a editora Blackwell). Muito embora o meu envolvimento quotidiano com a revista City seja bem maior, o convite para cooperar com o grupo que coordena e anima Antipode revestiu-se de um significado muito especial: afinal, trata-se de um periódico pioneiro no âmbito da Geografia crítica, com cujos artigos e debates muito aprendi desde os tempos de estudante de graduação e pós-graduação. APRESENTANDO E COMENTANDO OS TRABALHOS DE COLEGAS Uma das atividades para as quais fui já várias vezes convidado, e à qual não posso me furtar, consiste na difícil porém relevante tarefa de avaliar trabalhos de colegas pesquisadores. Refiro-me, aqui, não a pareceres sobre projetos de pesquisa (coisa que tenho feito regularmente, na qualidade de pesquisador do CNPq), e tampouco aos pareceres que (também regularmente) tenho dado sobre artigos enviados aos mais diferentes periódicos, no Brasil e no exterior. Refiro-me, isso sim, aos comentários que tenho sido convidado a fazer sobre livros de colegas, ora sob a forma de prefácios, ora sob a forma de comentários bibliográficos e resenhas críticas para periódicos nacionais e estrangeiros. Dentre os prefácios, gostaria de destacar três: o texto “Um ‘olhar afrodescendente’ sobre as cidades brasileiras”, escrito para o livro Do quilombo à favela: A produção do “espaço criminalizado” no Rio de Janeiro, de meu ex-orientando de mestrado e doutorado (e hoje professor da Faculdade de Formação de Professores da UERJ) Andrelino de Oliveira Campos (F1); o texto “Mapeando (e refletindo sobre) a criminalidade violenta”, escrito para o Atlas da criminalidade no Espírito Santo, de Cláudio Luiz Zanotelli et al. (F2); e o texto “Às leitoras e aos leitores desassombrados: Sobre o livro Espaço, gênero e masculinidades plurais”, preparado para o livro Espaço, gênero e masculinidades plurais, organizado por Joseli Maria Silva, Márcio José Ornat e Alides Batista Chimin Junior (F3). Os temas são bem diferentes entre si, mas nos três casos senti-me muito honrado por poder dizer algumas palavras sobre publicações que, cada uma ao seu modo, são relevantes científica e socialmente. No caso do livro de Andrelino, trata-se de um estudo sério, derivado de sua dissertação de mestrado, a respeito da origem e evolução das favelas e de sua estigmatização, tomando como exemplo o Rio de Janeiro; o atlas coordenado pelo colega Cláudio Zanotelli, da Universidade Federal do Espírito Santo, é uma contribuição importante para a discussão do tema da (in)segurança pública e, ao mesmo tempo, um marco no envolvimento dos geógrafos de formação com esse assunto, no Brasil; finalmente, o livro organizado pela professora Joseli Maria Silva, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (PR), com a colaboração de dois colegas, é uma das várias contribuições da colega paranaense a propósito das questões de gênero através do prisma da análise sócio-espacial, a que os anglo-saxônicos costumam referir-se como “feminist geography” (tema do qual estou longe de ser um especialista, mas cuja relevância reconheço e tenho volta e meia enfatizado, razão que, aos olhos da referida colega, justificou o convite para que eu apresentasse a obra). Quanto aos comentários bibliográficos e às resenhas, como se pode ver pelo meu c preparei já vários, no Brasil (em 1998, um comentário sobre o livro The Wealth and Poverty of Nations. Why Some are so Rich and Some so Poor, de David Landes, e em 2000 um comentário sobre o número temático da revista Plurimondi intitulado Insurgent Planning Practices, organizada por Leonie Sandercock) e no exterior (em 2010, uma análise, sob o título "The brave new (urban) world of fear and (real or presumed) wars", do livro Cities under Siege: The New Military Urbanism, de Stephen Graham, e em 2011, sob o título "The words and the things", um comentário sobre o livro Seeking Spatial Justice, de Edward Soja). Além de ser o mais recente, o que teve mais conseqüências, sob a forma de uma resposta do autor, foi o comentário bibliográfico “The words and the things”, que publiquei em 2011 na revista inglesa City (C26). E FORA DO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO?... Apesar das críticas e ressalvas que costumo endereçar à instituição universitária (especialmente no Brasil), por suas dificuldades em lidar com as demandas e os desafios que põem à prova a sua capacidade de resposta não raro um tanto emperrada pelas fronteiras disciplinares e pelas corporativismos, pelo burocratismo etc. devo ressalvar que não subestimo a importância que o mundo acadêmico tem e deveria ter ainda mais, como um dos poucos espaços em que é ainda possível o exercício de reflexões e pesquisas de fôlego e, geralmente, sem constrangimentos e interdições de natureza política à livre manifestação de opiniões (como ocorre em órgãos da administração estatal ou no âmbito das empresas privadas). Em tendo a academia como a minha “casa”, qualquer contribuição mais ampla que eu possa oferecer, tenho buscado sempre, acima de tudo, oferecê-la a partir da universidade, e não fora dela. Acho importante ressaltar isso, em um momento em que críticas niilistas e simplistas (às vezes um pouco ingênuas) são volta e meia dirigidas às universidades em geral, indistintamente, inclusive por pessoas ligadas a ela (fazendo cursos de graduação e pós-graduação). No entanto, muitas vezes é imperativo sair da universidade, e é óbvio que não me refiro apenas aos trabalhos de campo. É gratificante, conveniente e mesmo necessário interagir diretamente com os agentes que, explícita ou tacitamente, endereçam demandas à universidade; no meu caso, sem desprezar por completo a colaboração eventual com administrações municipais, o Ministério Público e outras instâncias do Estado (em que, seja dito com todas as letras, aprendi coisas que não aprenderia apenas no âmbito de trabalhos de campo, e muito menos somente sentado em alguma biblioteca), tenho privilegiado a interlocução e a colaboração com organizações da sociedade civil, notadamente de movimentos sociais. Em todos esses casos, trata-se de atingir novas audiências e de conversar com não geógrafos. Para atingir novas audiências e tratar de certos assuntos, vi-me compelido a adotar novas linguagens: a linguagem da divulgação científica, a linguagem do texto de circunstância, a linguagem daquele que concede uma entrevista a um jornalista, a linguagem de quem discute com ativistas, a linguagem de quem dialoga com “operadores do Direito” (promotores etc.), e assim segue. No currículo completo que complementa este memorial pode ser encontrada uma lista de minhas atividades nesse sentido, entre palestras, consultorias e escritos. Gostaria, entretanto, neste momento, de destacar uma delas: os meus livros de divulgação científica, sobretudo o ABC do desenvolvimento urbano (A4) e Planejamento urbano e ativismos sociais (em coautoria com Glauco B. Rodrigues) (A5), bem como os textos de divulgação e de circunstância que tenho, basicamente, disseminado por meio da Internet (ver de E1 a E33). De certa maneira, aqui entram também os textos introdutórios à seção de debates entre ativistas da revista City (seção essa chamada “Fórum”), escritos em coautoria com Barbara Lipietz (vide C29, C30 e C42). Tenho dedicado uma atenção especial à divulgação científica (a popular science dos anglo-saxônicos, a Populärwissenschaft dos alemães). A divulgação científica pode ser exercida, e bem, por jornalistas dotados de sólido embasamento científico, e temos vários exemples felizes disso. Entretanto, sempre acreditei que também cabe aos próprios pesquisadores concorrer para disseminar as suas ideias para além de um público especializado (os pares, os estudantes). Quando publiquei, em 2003, o ABC do desenvolvimento urbano, atualmente em sua quinta edição, preparei um prefácio intitulado “Por que livros de divulgação científica, nas ciências sociais, são tão raros?”. Me intrigava e incomodava que, com a principal exceção da História (ou uma ou outra coisa em outra área, como A era da incerteza, do economista J. K. Galbraith), os assuntos das ciências sociais não costumavam render livros escritos para um público leigo que fizessem um sucesso comparável ao Cosmos, do astrônomo Carl Sagan, ou Uma breve história do tempo, do físico Stephen Hawking. Quando adolescente, minha inclinação para a ciência foi despertada, precisamente, pela leitura dos livros de Sagan, de Isaac Asimov (não me refiro apenas aos de ficção científica, mas sobretudo a O universo), do físico George Gamow (que criou um simpático personagem fictício, com o qual explicava a Teoria da Relatividade para adolescentes!), do matemático Carl Boyer, do astrobiólogo Alexander Oparin, do filósofo e matemático Bertrand Russell, do astrônomo brasileiro Ronaldo Rogério de Freitas Mourão... Nas últimas duas décadas, livros de divulgação científica escritos por cientistas naturais, do biólogo britânico (nascido no Quênia) Richard Dawkins ao físico brasileiro Marcelo Gleiser, passando pelo paleontólogo estadunidense Stephen Jay Gould e o físico-químico russo (radicado na Bélgica) Ilya Prigogine, tornaram-se ainda mais populares do que jamais o foram. Em face disso, sempre me perguntei por que cargas d’água a Geografia, já com tão vasta experiência acumulada com a preparação de livros didáticos, não investia mais decididamente na produção de livros para leigos: afinal, o fascínio pela Geografia é latente entre o público em geral. (Seria o medo de parecer... banal? Um tal temor, quiçá não muito consciente, se existir, é até um pouco compreensível em uma ciência que aspira a um papel sofisticado. Compreensível, mas equivocado. Divulgar não significa trivializar, bagatelizar, hipersimplificar. A dificuldade que os leigos ainda têm de conceber a Geografia, para além de uma disciplina escolar, como uma ciência relevante, não advém do fato de ela fazer parte da experiência educacional de todos! Advém, isso sim, de sua imersão ainda insuficiente no trato autoconfiante e “integrador” de problemas e questões postos pela própria história humana e suas vicissitudes. Mas, para avançar nessa direção, os geógrafos precisarão se lamentar menos e aprender melhor a cooperar uns com os outros, nas condições desafiantes do século XXI.) O exemplo de Élisée Reclus, com a sua monumental Nouvelle Géographie Universelle (RECLUS, 1876-1894) em dezenove volumes (publicados, em fascículos, ao longo de dezoito anos) e repleta de mapas e belíssimas ilustrações, está aí para nos inspirar... Despertar o entusiasmo dos jovens pela Geografia é a forma mais direta de se cultivar as vocações autênticas e fortes das novas gerações de geógrafos. E de mostrar aos não-geógrafos o que a Geografia de fato é e pode ser. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (1): OBRAS DE OUTROS AUTORES CITADAS AO LONGO DO MEMORIAL CASTORIADIS, Cornelius (1975): L’institution imaginaire de la société. Paris: Seuil. ---------- (1978 [1970-1973]): Science moderne et interrogation philosophique. In: Les carrefours du labyrinthe. Paris: Seuil. ---------- (1983 [1979]): Introdução: socialismo e sociedade autônoma. In: Socialismo ou barbárie. O conteúdo do socialismo. São Paulo: Brasiliense. ---------- (1985 [1973]): A questão da história do movimento operário. In: A experiência do movimento operário. São Paulo: Brasiliense. ---------- (1986): La logique des magmas et la question de l’autonomie. In: Domaines de l’homme Les carrefours du labyrinthe II. Paris: Seuil. ---------- (1990): Pouvoir, politique, autonomie. In: Le monde morcelé Les carrefours du labyrinthe III. Paris: Seuil. ---------- (1996): La démocratie comme procédure et comme régime. In: La montée de l’insignifiance Les carrefours du labyrinthe IV. Paris: Seuil. 58 DARDEL, Eric (1990 [1952]): L’homme et la terre. Nature de la réalité géographique. Paris: Editions du CTHS. GONÇALVES, Carlos Walter Porto (1998): Nos varadouros do mundo: da territorialidade seringalista à territorialidade seringueira. Rio de Janeiro: mimeo. [Tese de doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ.] ---------- (2001): Outras Amazônias: As lutas por direitos e a emergência política de outros protagonistas. In: Amazônia, Amazônias. São Paulo: Contexto. LACOSTE, Yves (1988): A Geografia – Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Campinas: Papirus. LEFEBVRE, Henri (1981 [1974]): La production de l’espace. Paris: Anthropos. MIGNOLO, Walter D. (2003 [2000]): Histórias locais/projetos globais. Colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: Editora UFMG. NICHOLLS, Walter J. (2007): The Geographies of Social Movements. Geography Compass, 1(3), pp. 607-22 [Texto colhido na Internet em 9/5/2007: http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1749-8198.2007.00014 POULANTZAS, Nicos (1985 [1978]): O Estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro: Graal. RECLUS, Élisée (1876-1894): Nouvelle Géographie Universelle. La Terre et les Hommes. Paris: Hachette, 19 vols. Há uma reprodução fac-similar disponibilizada na Internet pela Librairie Nationale Française (http://gallica.bnf.fr; o endereço específico varia de acordo com o tomo), mas da qual estão ausentes três volumes (4, 11 e 14). [Uma versão em inglês, publicada em Nova Iorque em 1892 por D. Appleton and Company sob o título The Earth and its Inhabitants, pode ter sua reprodução fac-similar acessada por meio do sítio dos Anarchy Archives; faltam, porém, os dois últimos dos dezenove volumes, justamente os dedicados à América do Sul. Felizmente, entretanto, os três que estão ausentes do sítio da Librairie Nationale Française se acham ali presentes.] ---------- (1905-1908): L’Homme et la Terre. Paris: Librairie Universelle, 6 vols. Reprodução fac-similar disponibilizada na Internet pela Librairie Nationale Française (http://gallica.bnf.fr; o endereço específico varia de acordo com o tomo). 59 RIBEIRO, Darcy (1987 [1978]): Os brasileiros (Livro I: Teoria do Brasil). Petrópolis: Vozes, 9.ª ed. ---------- (1995): O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. SANTOS, Milton (1978): Por uma Geografia nova. São Paulo: HUCITEC. ---------- O espaço dividido. Os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos. Rio de Janeiro: Francisco Alves. SOJA, E. (1980): The Socio-Spatial Dialetic. Annals of the Association of American Geographers, 70 (2), pp. 207-225. VALVERDE, Orlando (1979 [1958]): Apresentação da 1.ª edição. In: WAIBEL, Leo: Capítulos de Geografia Tropical e do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE. ZAVERUCHA, Jorge (2005): FHC, Forças armadas e polícia: Entre o autoritarismo e a democracia (1999-2002). Rio de Janeiro, Record, 2005. ZIBECHI, Raúl (1999): La mirada horizontal. Movimientos sociales y emancipación. Montevidéu: Nordan-Comunidad. ---------- (2003): Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento. Buenos Aires e Montevidéu: Letra libre e Nordan-Comunidad. ---------- (2007): Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ---------- (2008) Territorios en resistencia: Cartografia política de las periferias urbanas latinoamericanas. Buenos Aires: Lavaca. NOTAS 1 A história é comprida, mas vou resumi-la. Atraído pela Geografia Agrária e pela Geopolítica (a ponto de eu, inclusive, buscar até mesmo mesclar conhecimentos desses dois campos, como quando de minhas incipientes reflexões de juventude sobre o papel das colônias agrícolas israelenses na estratégia defensiva do Estado de Israel), comecei, ainda durante o último ano do nível médio, em 1981, a frequentar regularmente a Biblioteca do IBGE, que funcionava por cima livraria da instituição, na Av. Franklin Roosevelt, no Centro do Rio de Janeiro. Lá trabalhava, como bibliotecário, um professor de Geografia, Sr. Nísio, o qual, em dada altura, depois de alguns meses, em face do talvez curioso interesse de um adolescente por aqueles temas (como logo lhe ficou claro, eu não estava indo até lá apenas por força de algum trabalho do colégio, mas sim para passar horas e horas me deliciando com livros de Geografia e outros assuntos, assim como também já fazia, desde alguns anos, na Biblioteca Nacional e na do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), me deu uma dica: o livro Capítulos de Geografia Tropical e do Brasil, de Leo Waibel. Devorei o livro, e fiquei tão tocado pelo prefácio de Orlando Valverde que, daí, para ler o primeiro volume (o único que chegou a ser publicado, por conta do golpe de 1964) do Geografia Agrária do Brasil, do próprio Orlando, além de outros textos dele, foi um pulo. Diante do meu interesse pelo autor, o amável Prof. Nísio me sugeriu que, com sorte, acabaria encontrando com o próprio Orlando por ali, já que ele costumava ir até a biblioteca. Infelizmente, meses se passaram, mas a feliz coincidência não se deu. Impaciente, o adolescente de dezessete anos fez, ao menos dessa vez, um uso construtivo da impetuosidade típica da idade: buscou o endereço no catálogo telefônico e escreveu uma cartinha para o grande geógrafo, expondo-lhe dúvidas e opiniões sobre assuntos diversos, como as distinções entre “Geografia Agrícola”, “Geografia Agrária” e “Geografia Rural”. E não é que Orlando, mesmo ocupadíssimo, respondeu à carta de um secundarista? Mandou-me uma detalhada resposta e, ainda por cima, anexou separatas de trabalhos seus, além de um livro. E ainda deixou uma portinha aberta, para caso eu desejasse voltar a fazer contato. E, obviamente fiz. A partir daí, e até o seu falecimento, em 2006, foi ele, para mim, a principal referência, se não teórica ou temática (como ele dizia, com seu jeito maroto: “você se bandeou para a Geografia Urbana...”), seguramente ética. 2 Uma dessas outras dívidas é para com alguém que, apesar de não ter influenciado diretamente as minhas opções profissionais (temáticas, teóricas ou metodológicas), desempenhou um papel que não poderia ser minimizado por mim, sob pena de incorrer em flagrante ingratidão. Trata-se do geógrafo Jorge Xavier da Silva, de quem fui assistente de pesquisa durante vários anos na UFRJ. Apesar das nossas diferenças de temperamento e inclinações profissionais, além de umas tantas discordâncias a propósito de questões referentes à Geografia, com Jorge Xavier aprendi muita coisa útil, da minha iniciação ao geoprocessamento a certos conteúdos próprios à pesquisa ambiental; talvez não a ponto de lidar com elas com o entusiasmo que ele teria desejado, mas, de todo modo, eu creio que sempre soube valorizar esses conhecimentos, ainda que à minha própria maneira. Para além disso, algumas de nossas polêmicas ou debates acalorados deram ensejo a algumas das conversas mais estimulantes que tive em minha fase de formação: por exemplo, sobre a presença e os efeitos da tecnologia na sociedade contemporânea e o papel do geógrafo quanto a isso. Confesso sentir uma grande saudade desses papos, mas, com o tempo, fui aprendendo que, a propósito das boas lembranças, o mais gostoso é deixá-las ser o que são: lembranças. E uma lembrança das mais essenciais é aquela referente ao apoio que ele várias vezes me deu, sendo que sem um deles, em um momento decisivo, eu provavelmente teria de ter adiado o meu doutorado. Por fim, mas não com menos ênfase, preciso ressaltar que Xavier esteve por perto em alguns dos momentos mais importantes da minha vida, fossem os inesquecivelmente bons (como o almoço com Paulo Freire, na casa deste, em São Paulo, em 1987), fossem os inesquecivelmente ruins (como a perda da minha mãe, em 1995) sendo que, com relação a estes últimos, ele esteve sempre entre os primeiros a oferecer um ombro amigo e palavras de conforto. Hoje em dia, e cada vez mais, percebo o quanto essa dimensão humana transcende qualquer outra coisa. 3 Eis que surge, então, quase inevitavelmente, a dilacerante questão: Geografia ou “Geografias”? Será legítimo falar da Geografia como uma ciência social, apenas? Ou será ela, como sempre insistiram os clássicos, uma “ciência de síntese”, “de contato”, na “charneira” das ciências naturais e humanas, sendo ambas estas coisas ao mesmo tempo? As ideias da “síntese” e da “ciência do concreto”, no sentido tradicional (tal como com quase arrogância e uma certa quase ingenuidade professadas, por exemplo, por Jean Brunhes, que implicitamente colocava a Geografia em um patamar diferente das disciplinas “abstratas”), se acham, há muito, bastante desacreditadas. Outras ciências também praticam sínteses, não apenas análise; e não há ciência que repudie, impunemente, o exercício da construção teórica, fazendo de uma (pseudo)concretude empirista profissão de fé. Em nossa época, com tantas necessidades de aprofundamento, a resposta dos clássicos, muito inspiradora decerto, mas um tanto datada, não mais satisfaz. Entretanto, não teria o legado que compreende o longo arco que vai de um Ritter ou um Reclus, em meados ou na segunda metade do século XIX, até um Orlando Valverde, na segunda metade do século XX, sido amplamente renegado em favor de uma compreensão da Geografia (por parte dos geógrafos humanos pós-radical turn) um pouco exclusivista, ainda que largamente correta e fecunda? Não pretendo “resolver” esse problema secular da “identidade da Geografia”, mas vou propor, aqui, duas analogias, que talvez soem estranhas. Milton Santos, com a sua teoria dos “dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos” (SANTOS, 1979), logrou superar as interpretações dualistas, no estilo “setor moderno”/“setor tradicional”, por meio de uma visão dialética da bipolarização entre dois “circuitos” (“inferior” e “superior”) que, apesar de distintos e volta e meia atritarem entre si, são, sem embargo, em última instância interdependentes. Me arrisco a pensar que seria produtivo ver a Geografia de modo semelhante: em vez de tratá-la dicotômica e dualisticamente (como se fosse realmente razoável “descolar” sociedade e natureza uma da outra, ou como se não se achassem dinâmica, processual e historicamente entrelaçadas de modo complexo), e também em vez de apenas decretar que a Geografia é “social” e que a Geografia Física é uma ilusão ou um anacronismo, não seria uma questão de sensatez, mais até do que se simples “tolerância”, reconhecer que a Geografia é, diferentemente da Sociologia, da Ciência Política ou da História, mas também da Física, da Astronomia ou da Química, epistemologicamente bipolarizada? Dois “polos epistemológicos” se abrigam no interior desse complexo, vasto e heterogêneo campo denominado Geografia: o “polo” do conhecimento sobre a natureza e o “polo” do conhecimento sobre a sociedade. Há geógrafos que fazem sua opção preferencial (identitária) pelo primeiro, o que terá consequências em matéria de formação e treinamento teórico, conceitual e metodológico; e há geógrafos que fazem sua opção preferencial (identitária) pelo segundo, o que também terá consequências em matéria de formação e treinamento teórico, conceitual e metodológico. E ambas as opções são legítimas, assim como legítimo e saudável será aceitar que as especificidades metodológicas, teóricas e conceituais exigem que, para que se possa falar em cooperação (ou, no mínimo, em respeito mútuo), os dois tipos de geógrafos uns, identitariamente herdeiros por excelência da tradição dos grandes geógrafos-naturalistas, e os outros basicamente identificados com a tradição de um estudo da construção do espaço geográfico como “morada do homem”, desembocando mais tarde na análise da produção do espaço pela sociedade possuem interesses e, por isso, treinamentos e olhares diferentes. Em havendo essa compreensão, base de uma convivência produtiva, pode-se chegar, e é desejável que se chegue, ao desenho de problemas (de pesquisa) e à construção de objetos de conhecimento (específicos) que promovam, sem subordinações e sem artificialismo, cooperação e diálogo. Que promovam, pode-se dizer, a unidade na diversidade, sem o sacrifício nem da primeira nem da segunda. Gerar-se-iam, com isso, sinergias extraordinárias, atualizando-se e modernizando-se, sobre os fundamentos de um esforço coletivo, o projeto intelectual de um Élisée Reclus (RECLUS, 1905-1908), e que era o espírito da Geografia clássica (século XIX e primeira metade do século XX) em geral. Para “integrarmos” esforços dessa forma não basta, entretanto, imaginarmos, abstratamente, que o “espaço” ou o “raciocínio espacial”, por si só, já uniria, pois a própria maneira como o “espaço” é construído como objeto há de ser diferente, daí derivando conceitos-chave preferenciais bem diferentes: em um caso, bioma, (geo)ecossistema, nicho ecológico, habitat (natural)... Em outro, território (como espaço político), “lugar” (espaço percebido/vivido), identidades sócio-espaciais, práticas espaciais... Partindo para a minha segunda analogia, poder-se-ia, à luz disso, dizer que a Geografia seria uma “confederação”, devendo abdicar da pretensa homogeneidade ideologicamente postulada pelos ideólogos de um “Estado-nação”. A Geografia é irremediavelmente e estonteantemente plural. Na medida em que os geógrafos “físicos” admitam que a própria ideia de “natureza” é histórica e culturalmente construída e que a “natureza” que lhes interessa não deveria, em diversos níveis, ser entendida em um sentido “laboratorial” e “desumanizado” (no máximo recorrendo a conceitos-obstáculo como “fator antrópico”), e na medida em que os geógrafos “humanos” reconheçam que os conceitos, raciocínios e resultados empíricos da pesquisa ambiental (em sentido estrito) pode lhes muito útil (articulando esses conhecimentos, sejam sobre ilhas de calor, poluição ou riscos de desmoronamentos/deslizamentos, aos seus estudos sobre segregação residencial ou problemas agrários), então deixar-se-á para trás o desconhecimento recíproco para se ingressar em um ciclo virtuoso. Se esse é o cenário mais provável? Tenho, infelizmente, muitas dúvidas. 4 Desenvolvida por uma variedade de autores, com diferenças às vezes sutis em matéria de enfoque, a “Teoria da Regulação” não é um corpo teórico uniforme e inteiriço. Corresponde, muito mais, àquilo que os alemães chamam de Theorieansatz (livremente traduzível como “esboço teórico”), uma construção teórica aberta, aproximativa e heterogênea, típica do universo das ciências sociais e humanas (e diferente dos padrões de “teoria” preconizados pelas ciências naturais). 5 No caso das ciências da natureza, as coisas se passam de modo parcialmente análogo, mas parcialmente bastante diverso. Em primeiro lugar, porque as construções teóricas mais universais (mecânica newtoniana, Teoria da Evolução darwiniana, Teoria da Relatividade etc.) podem até, muitas vezes, acarretar consequências filosóficas e deflagrar debates éticos (o que é muito bem exemplificado pelas querelas que acompanham o darwinismo), mas o peso dos valores, das visões de mundo e dos condicionamentos ideológicos que se amalgamam com as escolhas e se associam intestinamente às argumentações dos pesquisadores não é, de modo algum, comparável ao que se tem nos estudos sobre a sociedade. Em segundo lugar, porque as exigências para que algo seja considerado uma “teoria” costumam ser bem mais rígidas nas ciências naturais, particularmente naquelas mais abstratas, como a Física: uma teoria física deve, por exemplo, possuir grande poder preditivo, sendo capaz de abrir caminho para descobertas empíricas a partir de uma base muito abstrata (como a inferência sobre a existência de um novo planeta apenas pela consideração de peculiaridades nas órbitas de astros próximos, sobre os fundamentos da teoria da gravitação); ao mesmo tempo, o elevado nível de abstração implica que, não raro, uma construção matemática preceda de muitos anos as observações empíricas e os experimentos que possam validá-la em caráter definitivo (como aconteceu, inclusive, com a própria Teoria da Relatividade). No estudo da sociedade, em que o próprio objeto impõe a consideração muito mais séria da contingência e da criação inesperada de novas qualidades, predições tendem a ser muito mais flexíveis e modestas (pautadas em uma criação robusta de cenários tendenciais), caso não se queira correr o risco de sofrer a acusação de ser uma “profecia” ideologicamente embalada. Além das óbvias diferenças na relação sujeito/objeto, no estudo da sociedade praticamente nunca se pode recorrer a experimentos controlados, em contraste com aquilo que é corriqueiro nas ciências da natureza. De todas essas diferenças epistemológicas decorrem diferenças de ordem não apenas teórica (grau de formalização possível ou desejável das teorias), mas também metodológicas. 6 O leitor encontrará, ao final deste memorial, a relação dos meus trabalhos aqui citados, precedidos por uma bibliografia referente às obras dos outros autores que menciono. No caso dos outros autores, empreguei o padrão usual de referenciação bibliográfica, reservando para os meus trabalhos essa forma codificada (“A1”, “B3” etc.), em que o material aparece classificado de acordo com a sua natureza (livro [A], capítulo de livro [B], artigo em periódico [C], trabalho publicado na íntegra em anais de congressos [D] e artigo de divulgação científica [E]). 7 Apesar de terem produzido uma razoável quantidade de estudos empíricos sobre o tema desde os anos 80, os geógrafos de formação têm tido, no terreno da teoria acerca da dimensão espacial dos ativismos e movimentos, uma atuação modesta, o que tem dificultado a percepção de sua produção por parte dos outros cientistas sociais. Isso é, ainda por cima, agravado por certos fatores, como o fato de que, na Geografia Urbana, o interesse pelo assunto tem sido bastante irregular, tendo até mesmo declinado nos anos 90, para ressurgir timidamente na década seguinte (consulte-se, sobre isso, B14). (Interessantemente, no âmbito dos estudos rurais e na interface destes com a reflexão ecológica vários trabalhos dignos de nota têm sido elaborados e publicados no Brasil, com destaque, por sua criatividade, para os estudos de GONÇALVES [1998 e 2001].) Seja lá como for, as lacunas já vêm sendo tematizadas e problematizadas, como, por exemplo, por NICHOLLS (2007). 8 Apesar disso, tomei conhecimento, anos depois, de que um Personagem Influente, insatisfeito com as críticas que eu lhe havia endereçado, externara veemente protesto contra a publicação do trabalho, já que algumas ressalvas a propósito de aspectos de sua obra haviam sido feitas por mim. Felizmente para mim (e espero, que, também, ao menos para alguns leitores), os responsáveis pela revista souberam preservar a dignidade da mesma e rechaçar, diplomaticamente, a objeção, utilizando um argumento singelo: se o texto possuía qualidade acadêmica, então a resposta deveria ser acadêmica; que se permitisse e saudasse um debate público, em vez de interditá-lo, ao se vetar um trabalho cuja publicação havia sido aprovada. Entretanto, jamais houve uma réplica, um único comentário sequer − talvez para não atribuir demasiada importância ao trabalho de um novato petulante. 9 E a ele devo, ainda, mais uma coisa, no âmbito profissional: o gosto pela Cartografia Temática e, sobre essa base, o melhor domínio da linguagem cartográfica. 10 É o caso, em especial, de Edward P. Thompson, Henri Lefebvre, Nicos Poulantzas, Anton Pannekoek, Herbert Marcuse e Raymond Williams, com os quais nunca deixei de dialogar em meus trabalhos. 11 No que concerne ao desenvolvimento sócio-espacial, venho propondo, há muitos anos, o seguinte encadeamento de parâmetros: 1) parâmetro subordinador (escolha de natureza, evidentemente, basicamente metateórica): a própria autonomia, com as duas faces interdependentes da autonomia individual (grau de efetiva liberdade individual) e da autonomia coletiva (grau de autogoverno e de autodeterminação coletiva, na ausência de assimetrias de poder estruturais, e também com os dois níveis distintos da autonomia no plano interno (ausência de opressão no interior de uma dada sociedade) e no plano externo (autodeterminação de uma dada sociedade em face de outras); 2) parâmetros subordinados gerais: justiça social (questões da simetria, da equidade e da igualdade efetiva de oportunidades) e qualidade de vida (referente aos níveis histórica e culturalmente variáveis de satisfação de necessidades materiais e imateriais); 3) parâmetros subordinados particulares: derivados dos gerais, enquanto especificação deles, correspondem aos aspectos concretos (cuja escolha e seleção dependerá da construção de um objeto específico e das circunstâncias em que se der a análise ou julgamento) a serem levados em conta nas análises, tais como (apenas para exemplificar) o nível de segregação residencial, o grau de acessibilidade (acesso socialmente efetivo a recursos espaciais/ambientais) e a consistência participativa de um determinado canal ou instância institucional vinculada ao planejamento ou gestão sócio-espacial. Aproveitando o gancho, a tarefa de construção de indicadores é importante complemento dos esforços de seleção e integração de parâmetros; sobre isso, tenho buscado contribuir, por exemplo, precisamente no que se refere à construção de indicadores de consistência participativa (e, mais recentemente, colaborando para se pensar em indicadores de “horizontalidade”/“verticalidade” de organizações de movimentos sociais, levando-se em conta a dimensão espacial). 12 Falar em “desenvolvimento” (e em “subdesenvolvimento”), aliás, só faz sentido no contexto da ocidentalização que veio na esteira da multissecular expansão do capitalismo, dos séculos XV e XVI à atual globalização: as civilizações pré-colombianas, o Egito dos faraós, a Atenas de Péricles ou o Japão feudal não eram, evidentemente, “subdesenvolvidos”, nem tampouco “desenvolvidos” (“subdesenvolvidos” ou “desenvolvidos” em relação a quê?...). Essas categorias, simplesmente, tornam-se inteiramente desprovidas de toda e qualquer razoabilidade fora do contexto histórico da emergência e da expansão do moderno capitalismo. 13 Em A6 e, já antes disso, em B1, B5, C8 e C10, eu havia discorrido sobre a maneira como o espaço geográfico é tratado (quando é!) nas teorias sobre o desenvolvimento, da teorização mais clássicas sobre o desenvolvimento econômico (de Schumpeter a Rostow e a Hirschman) ao “desenvolvimento sustentável” dos anos 90 em diante, passando pelos enfoques da “redistribuição com crescimento”, da “satisfação de necessidades básicas”, da “dependência” (e do “sistema mundial capitalista” de I. Wallerstein), do “development from below”, do “desenvolvimento endógeno”, do “ecodesenvolvimento” e do “etnodesenvolvimento”. Também tive a oportunidade de considerar o que chamo de críticas “niilistas”, no estilo de um S. Latouche ou de um G. Esteva. Faz-se necessário salientar que, de modo algum, pretendo ou pretendi sugerir que aportes sumamente fecundos ou, pelo menos, interessantes sobre o espaço não tenham sido carreados por, pelo menos, algumas dessas vertentes. Das contribuições perrouxianas a propósitos da regionalização e do “polos de crescimento” à valorização operada por I. Sachs a propósito do ambiente natural (para além do economicismo mais estreito), passando pelos elementos inspiradores que podem ser encontrados nos trabalhos de um Wallerstein, bastante coisa foi e tem sido importante para mim mesmo. O grande problema é que, como expus no corpo do texto, a valorização do espaço, quando existe, é, ao menos aos olhos de um geógrafo, tímida e parcial. E a isso se deve acrescentar que, na minha avaliação, uma valorização realmente holística e plena da dimensão espacial não exige apenas uma formação profissional propiciadora das bases epistemológicas e teórico-conceituais para uma tal valorização, mas igualmente uma disposição filosófica para evitar a tentação de determinar de modo muito amarrado o que seja o conteúdo concreto da “mudança para melhor” (= desenvolvimento). Uma significativa abertura, nesse estilo, é, aliás, o que pode permitir que, para além dos próprios conceitos científicos usuais (espaço e seus derivados: território, “lugar”, paisagem, região...), termos nativos (“pedaço”, “cena” e outros tantos) possam ser peças-chave da análise, em meio a uma consideração séria das vivências espaciais e cosmovisões particulares de cada grupo ou cultura). 14 Não quero sugerir, com isso, de maneira nenhuma, que o problema é desconhecido no campo. De modo algum, e já há, inclusive alguma literatura a respeito. Não obstante, o fato é que ele não possui a mesma visibilidade e a mesma repercussão midiática que nas grandes cidades 15 Esses espaços oferecem-lhes vantagens tais como: 1) sua localização, muitas vezes próxima de bairros de classe média ou, em todo caso, acessível aos consumidores; 2) sua estrutura interna (malha viária labiríntica), em alguns casos também sua topografia (favelas localizadas em encostas), que são dois trunfos que facilitam a defesa do território; 3) o “escudo humano” e a abundância de mão-de-obra barata (e que pode ser facilmente reposta) proporcionados pelas pessoas ali residentes. Em face disso, a territorialidade dos militantes e a territorialidade dos criminosos vão, quase inevitavelmente, atritar entre si. Sobre essas questões, investigadas por mim no contexto de projetos coordenados nos anos 90, discorri em vários trabalhos e livros, entre eles n’O desafio metropolitano e no recente Fobópole (ver, também, B2, B4, B6, B7, B8, B9, C4, C5, C6, C7, C17 e C21). É fácil verificar que todos esses aspectos, além de outros tantos evidenciam a importância da consideração da espacialidade para se compreender os processos em curso e os desafios e dilemas deles derivados. 16 O artigo original é Together with the state, despite the state, against the state: Social movements as ‘critical urban planning’ agents". City, 10(3), pp. 327-342. (C18) 17 Sem embargo, trata-se mais de renovação (ampliada) de um antigo interesse que, propriamente, de um interesse completamente novo da minha parte. Com efeito, um texto de divulgação como o artigo “O lugar das pessoas nas agendas ‘verde’, ‘marrom’ e ‘azul’: Sobre a dimensão geopolítica da política ambiental urbana”, enviado para publicação no sítio Passa Palavra e que deve sair em breve, representa, no fundo, a retomada de um esforço que já havia sido exemplificado, entre outros trabalhos, pelo capítulo “Dos problemas sócio-espaciais à degradação ambiental e de volta aos primeiros”, de meu livro O desafio metropolitano (A2). 18 Estão incluídos somente os trabalhos que foram mencionados no texto. Não se trata de uma lista exaustiva de minhas publicações. Alguns livros e vários outros trabalhos deixaram de ser incluídos, mas constam do currículo completo que se segue a este memorial. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (2): OBRAS DO PRESENTE AUTOR MENCIONADAS AO LONGO DO MEMORIAL (18) A. LIVROS (INCLUI A ORGANIZAÇÃO DE LIVROS E DE NÚMEROS ESPECIAIS DE PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS) (A1) Armut, sozialräumliche segregation und sozialer Konflikt in der Metropolitanregion von Rio de Janeiro. Ein Beitrag zur Analyse der “Stadtfrage” in Brasilien (Pobreza, segregação sócio-espacial e conflito social na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Uma contribuição para a análise da “questão urbana” no Brasil). Tese de Doutorado publicada pelo Selbstverlag des Geographischen Instituts (Editora do Instituto de Geografia) da Universidade de Tübingen, Alemanha (= série Tübinger Geographische Studien, n.° 111), 1993. (A2) O desafio metropolitano. A problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiras. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2000 (2.ª ed.: 2005; 3.ª ed.: 2010; 4.ª ed.: 2012). (A3) Mudar a cidade. Uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, (2.ª ed.: 2003; 3.ª ed.: 2004; 4.ª ed.: 2006; 5.ª ed.: 2008; 6.ª ed.: 2010; 7.ª ed.: 2010; 8.ª ed.: 2011; 9.ª ed.: 2013). (A4) ABC do desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2003 (2.ª ed.: 2005; 3.ª ed.: 2007; 4.ª ed.: 2008; 5.ª ed.: 2010; 6.ª ed.: 2011; 7.ª ed.: 2013). (A5) Planejamento urbano e ativismos sociais (em coautoria com Glauco B. Rodrigues). São Paulo, Editora UNESP, 2004 (2.ª ed.: 2013). (A6) A prisão e a ágora. Reflexões sobre a democratização do planejamento e da gestão das cidades. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2006. (A7) Fobópole. O medo generalizado e a militarização da questão urbana. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2008. (A8) A produção do espaço urbano. Agentes e processos, escalas e desafios (livro organizado juntamente com Ana Fani Alessandri Carlos e Maria Encarnação Beltrão Sposito). São Paulo: Contexto, 2011. [ segundo organizador; ordem alfabética] (A9) Ativismos sociais e espaço urbano, número temático da revista Cidades (vol. 6, n. 9), 2009. [ organizador] (A10) O pensamento e a práxis libertários e a cidade, número temático da revista Cidades (vol. 9, n. 15), 2012. [organizador] (A11) Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. B. CAPÍTULOS DE LIVROS (B1) O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In: CASTRO, Iná E. et al. (orgs.): Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1995. (B2) O tráfico de drogas e a “questão urbana” no Brasil. A dinâmica sócio-espacial nas cidades brasileiras sob a influência do tráfico de tóxicos. In: CASTRO, Iná E. et al. (orgs.): Brasil: questões atuais da reorganização do território. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1996. (B3) Modernização tecnológica, “ordem” e “desordem” nas metrópoles brasileiras. Os desafios e suas escalas. In: CZERNY, M. & KOHLHEPP, G. (orgs.): Reestructuración económica y consecuencias regionales en América Latina. Tübingen, Selbstverlag des Geographischen Instituts (Editora do Instituto de Geografia) da Universidade de Tübingen: Alemanha (= série Tübinger Geographische Studien, n.° 117), 1996. (B4) Exclusão social, fragmentação do tecido sociopolítico-espacial da cidade e “ingovernabilidade urbana”. Ensaio a propósito do desafio de um “desenvolvimento sustentável” nas cidades brasileiras. In: SILVA, José Borzacchiello et al. (orgs.): A cidade e o urbano Temas para debates. Fortaleza, Edições UFC, 1997. (B5) A expulsão do paraíso. O “paradigma da complexidade” e o desenvolvimento sócio-espacial. In: CASTRO, Iná E. et al. (orgs.): Explorações geográficas. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1997. (B6) A “ingovernabilidade” do Rio de Janeiro – algumas páginas sobre conceitos, fatos e preconceitos". In: CASTRO, Iná E. et al. (orgs.): Redescobrindo o Brasil: 500 anos depois. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1999. (B7) Revisitando a crítica ao “mito da marginalidade”. A população favelada do Rio de Janeiro em face do tráfico de drogas. In: ACSELRAD, Gilberta (org.): Avessos do prazer. Drogas, AIDS e direitos humanos. Rio de Janeiro, Editora da Fundação Oswaldo Cruz, 2000. (B8) “Involução metropolitana” e “desmetropolização”: sobre a urbanização brasileira nas décadas de 80 e 90. In: KOHLHEPP, Gerd (org.): Brasil: modernização e globalização. Madri e Frankfurt, Bibliotheca Iberoamericana e Vervuert, 2001. (B9) Da “fragmentação do tecido sociopolítico-espacial” da metrópole à “desmetropolização relativa”: algumas facetas da urbanização brasileira nas décadas de 80 e 90. In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (org.): Urbanização e cidades: perspectivas geográficas. Presidente Prudente, GAsPERR/UNESP, 2001. (B10) Território do Outro, problemática do Mesmo? O princípio da autonomia e a superação da dicotomia universalismo ético versus relativismo cultural. In: ROSENDAHL, Zeny e CORRÊA, Roberto Lobato (orgs.): Religião, identidade e território. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2001. (B11) Alternative urban planning and management in Brazil: Instructive examples for other countries in the South?. In: HARRISON, Philip et al. (orgs.): Confronting Fragmentation. Housing and Urban Development in a Democratising Society. Cidade do Cabo, University of Cape Town Press, 2003. (B12) Problemas da regularização fundiária em favelas territorializadas por traficantes de drogas. In: ALFONSIN, Betânia e FERNANDES, Edésio (orgs.): Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade. Belo Horizonte, Editora Fórum, 2004. (B13) Sozialräumliche Dynamik in brasilianischen Städten unter dem Einfluss des Drogenhandels. Anmerkungen zum Fall Rio de Janeiro [Dinâmica sócio-espacial nas cidades brasileiras sob a influência do tráfico de drogas: Notas sobre o caso do Rio de Janeiro]. In: LANZ, Stephan (org.): City of COOP. Ersatzökonomien und städtische Bewegungen in Rio de Janeiro und Buenos Aires. Berlim, b-books Verlag, 2004. (B14) Ativismos sociais e espaço urbano: um panorama conciso da produção intelectual brasileira. In: OLIVEIRA, Márcio Piñon de et al. (orgs.): O Brasil, a América Latina e o mundo: espacialidades contemporâneas (II). Rio de Janeiro, Lamparina, ANPEGE, CLACSO e FAPERJ, 2008. (B15) “Território” da divergência (e da confusão): Em torno das imprecisas fronteiras de um conceito fundamental. In: SAQUET, Marcos Aurélio e SPOSITO, Eliseu Savério (orgs.): Territórios e territorialidades: Teorias, processos e conflitos. São Paulo e Presidente Prudente, Expressão Popular e Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNESP/Presidente Prudente, 2009. (B16) Práticas espaciais insurgentes em um mundo globalizado: Da “revolução molecular” à política de escalas. In: MENDONÇA, Francisco et al. (orgs.): Espaço e tempo: Complexidade e desafios do pensar e do fazer geográfico. Curitiba, ADEMADAN, 2009. (B17) A cidade, a palavra e o poder: Práticas, imaginários e discursos heterônomos e autônomos na produção do espaço urbano. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri et al. (orgs.): A produção do espaço urbano. Agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2011. (B18) As cidades brasileiras e os movimentos sociais no início do século XXI: sete questões para provocar o debate. In: PEREIRA, Élson Manoel e DIAS, Leila Christina Duarte (orgs.): As cidades e a urbanização no Brasil. Passado, presente e futuro. Florianópolis: Insular, 2011. (B19) Autogestión, ‘autoplaneación’, autonomia: Actualidad y dificultades de las prácticas espaciales libertarias de los movimientos urbanos. In: ARAGÓN, Georgina Calderón e HERNÁNDEZ, Efraín León (orgs.): Descubriendo La espacialidad social desde América Latina: Reflexiones desde La geografía sobre el campo, la ciudad y el medio ambiente (= Cómo pensar la geografía, n.° 3). Cidade do México: Itaca, 2011. (B20) Soziale Bewegungen in Brasilien im urbanen und ländlichen Kontext: Potenziale, Grenzen und Paradoxe. In: de la FONTAINE, Dana e STEHNKEN, Thomas (orgs.): Das politische System Brasiliens. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften (VS Verlag), 2012. (B21) Challenging Heteronomous Power in a Globalized World: Insurgent Spatial Practices, ‘Militant Particularism’, and Multiscalarity. In: KRÄTKE, Stefan et al. (orgs.): Transnationalism and Urbanism. Nova Iorque e Londres: Routledge, 2012. (B22) A geopolítica urbana da ‘guerra à criminalidade’: A militarização da questão urbana e suas várias possíveis implicações. In: RIBEIRO, Ana Clara Torres et al. (orgs.): Política governamental e ação social no espaço. Rio de Janeiro: ANPUR e Letra Capital, 2012. (B23) Semântica urbana e segregação: Disputa simbólica e embates políticos na cidade ‘empresarialista’. In: VASCONCELOS, Pedro de Almeida et al. (orgs.): A cidade contemporânea: Segregação espacial. São Paulo: Contexto, 2013. (B24) Panem et circenses versus o direito ao Centro da cidade no Rio de Janeiro. In: FERNANDES, José Alberto V. Rio e SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (orgs.): A nova vida do velho centro nas cidades portuguesas e brasileiras. Porto: Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) da Universidade do Porto, 2013. (B25) Phobopolis. Städtische Angst und die Militarisierung des Urbanen. In: HUFFSCHMID, Anne e WILDNER, Kathrin (orgs.): Stadtforschung aus Lateinamerika. Neue urbane Szenarien:Öffentlichkeit. Territorialität. Imaginarios. Bielefeld: transcript, 2013. (B26) Phobopolis: Violence, Fear and Sociopolitical Fragmentation of the Space in Rio de Janeiro, Brazil. In: KRAAS, Frauke et al. (orgs.): Megacities. Our Global Urban Future. Dordrecht e outros lugares: Springer. (B27) Ensemble avec l’État, malgré l’État, contre l’État. Les mouvements sociaux, agents d’un urbanisme critique. In: GINTRAC, Cécile e GIROUD, Matthieu (orgs.): Villes contestées. Pour une géographie critique de l’urbain. Paris : Les Prairies Ordinaires. C. ARTIGOS EM PERIÓDICOS (INCLUI COMENTÁRIOS BIBLIOGRÁFICOS) (C1) “Espaciologia”: uma objeção (Crítica aos prestigiamentos pseudocríticos do espaço social). Terra Livre, n.° 5, 1988. São Paulo e Rio de Janeiro, AGB/Marco Zero, pp. 21-45. (C2) O bairro contemporâneo: ensaio de abordagem política. Revista Brasileira de Geografia, 51(2), 1989. Rio de Janeiro, pp. 139-172. (C3) Reflexão sobre as limitações e potencialidades de uma reforma urbana no Brasil atual. Actas Latinoamericanas de Varsovia, tomo 15, 1993. Varsóvia, pp. 207-228. (C4) O narcotráfico no Rio de Janeiro, sua territorialidade e a dialética entre “ordem” e “desordem”. Cadernos de Geociências, n.° 13, 1995. Rio de Janeiro, IBGE, pp. 161-171. (C5) Die fragmentierte Metropole. Der Drogenhandel und seine Territorialität in Rio de Janeiro. Geographische Zeitschrift, vol. 83, números 3/4, 1995. Stuttgart, pp. 238-249. (C6) Efectos negativos del tráfico de drogas en el desarrollo socio-espacial de Rio de Janeiro. Revista Interamericana de Planificación, volume XXVIII, n.° 112, 1995. Cuenca (Equador), SIAP, pp. 142-159. (C7) O tráfico de drogas no Rio de Janeiro e seus efeitos negativos sobre o desenvolvimento sócio-espacial. Cadernos IPPUR/UFRJ, ano VIII, números 2/3, 1994 [publicado em 1996]. Rio de Janeiro, pp. 25-39. (C8) A teorização sobre o desenvolvimento em uma época de fadiga teórica, ou: sobre a necessidade de uma ‘teoria aberta’ do desenvolvimento sócio-espacial. Território, ano 1, n. 1, jul./dez. 1996. Rio de Janeiro, pp. 5-22. (C9) Urbanização e desenvolvimento. Rediscutindo o urbano e a urbanização como fatores e símbolos de desenvolvimento à luz da experiência brasileira recente. Revista Brasileira de Geografia, 56(1/4), jan./dez. 1994 (publicado em 1997). Rio de Janeiro, pp. 255-291. (C10) Algumas notas sobre a importância do espaço para o desenvolvimento social. Território, ano II, n. 3, jul./dez. 1997. Rio de Janeiro, pp. 13-35. (C11) Desenvolvimento urbano: a problemática renovação de um “conceito”-problema. Território, ano III, n. 5, jul./dez., 1998. Rio de Janeiro, pp. 5-29. (C12) Urban development on the basis of autonomy: a politico-philosophical and ethical framework for urban planning and management. Ethics, Place and Environment, vol. 3, No. 2, 2000, pp. 187-201. (C13) O planejamento e a gestão das cidades em uma perspectiva autonomista. Território, ano V, n. 8, jan./jun., 2000. Rio de Janeiro, pp. 67-99. (C14) Os orçamentos participativos e sua espacialidade: uma agenda de pesquisa. Terra Livre, n. 15, 2000. São Paulo, pp. 39-58. (C15) Para o que serve o orçamento participativo? Disparidade de expectativas e disputa ideológica em torno de uma proposta em ascensão. Cadernos IPPUR/UFRJ, ano XIV, n. 2, ago./dez. 2000 [publicado em 2001]. Rio de Janeiro, pp. 123-142. (C16) Metropolitan deconcentration, socio-political fragmentation and extended suburbanisation: Brazilian urbanisation in the 1980s and 1990s. Geoforum, n. 32, 2001. Oxford, pp. 437-447. (C17) Urban planning in an age of fear: The case of Rio de Janeiro. International Development Planning Review (IDPR), 27(1), 2005, pp. 1-18. (C18) Together with the state, despite the state, against the state: Social movements as “critical urban planning” agents. City, 10(3), 2006, pp. 327-42. (C19) Cidades, globalização e determinismo econômico. Cidades, vol. 3, n. 5, 2007, pp. 123-42. (C20) Da “diferenciação de áreas” à “diferenciação socioespacial”: A “visão (apenas) de sobrevôo” como uma tradição epistemológica e metodológica limitante. Cidades, vol. 4, n. 6, 2007, pp. 101-14. (C21) Social movements in the face of criminal power: The socio-political fragmentation of space and “micro-level warlords” as challenges for emancipative urban struggles". City, 13(1), 2009, pp. 26-52. (C22) Cities for people, not for profit From a radical-libertarian and Latin American perspective. City, 13(4), 2009, pp. 483-492. (C23) Com o Estado, apesar do Estado, contra o Estado: Os movimentos urbanos e suas práticas espaciais, entre a luta institucional e a ação direta. Cidades, vol. 7, n. 11 [= número temático Formas espaciais e política(s) urbana(s)], pp. 13-47. (C24) Welches Recht auf welche Stadt? Ein Plädoyer für politisch-strategische Klarheit [Que direito a qual cidade? Em defesa da clareza político-estratégica]. Phase2, 35, 2010, pp. 42-43. (C25) Which right to which city? In defence of political-strategic clarity". Interface: a journal for and about social movements, 2(1), 2010, pp. 315-333. Disponibilizado na Internet (http://interface-articles.googlegroups.com/web/3Souza.pdf) em 27/05/2010. (C26) The words and the things. Comentário bibliográfico sobre o livro Seeking Spatial Justice, de Edward Soja. City, 15(1). Abingdon, Oxfordshire (Reino Unido), pp. 73-77, 2011. (C27) Hangi kentte hangi hak?: Politik-Stratejik netliğin müdafaasi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi [Revista Educação Ciência Sociedade], vol. 9, n.° 36, pp. 183-207, 2011. [Tradução parta o turco do artigo publicado em 2010 em Interface: a journal for and about social movements.] (C28) Mauricio de Almeida Abreu: Mestre e pesquisador, inspirado e inspirador. Cidades, vol. 8, n. 14 [= número temático Mauricio de Almeida Abreu], pp. 675-677, 2011. (C29) The ‘Arab Spring’ and the city: Hopes, contradictions and spatiality. City, 15(6), pp. 618-624., 2011.[escrito em coautoria com Barbara Lipietz; primeiro autor] (C30) Where do we stand? New hopes, frustration and open wounds in Arab cities. City, 16(3), pp. 355-359, 2012. [escrito em coautoria com Barbara Lipietz; segundo autor] (C31) Geografia: A hora e a vez do pensamento libertário. Boletim Gaúcho de Geografia, n. 38, pp. 15-33, 2012. (C32) Militarização da questão urbana. Lutas Sociais, n. 29, pp. 117-129, 2012. (C33) Introdução: A Geografia, o pensamento e a práxis libertários e a cidade. Encontros, desencontros e reencontros. Cidades, volume 9, número 15, pp. 9-58, 2012. (C34) Autogestão, ‘autoplanejamento’, autonomia: Atualidade e dificuldades das práticas espaciais libertárias dos movimentos urbanos. Cidades, volume 9, número 15, pp. 59-93, 2012. (C35) The city in libertarian thought: From Élisée Reclus to Murray Bookchin and beyond. City, 16(1-2), pp. 4-33, 2012. (C36) Marxists, libertarians and the city: A necessary debate. City, 16(3), pp. 309-325, 2012. (C37) ‘Phobopolis’: Gewalt, Angst und soziopolitische Fragmentierung des städtischen Raumes von Rio de Janeiro, Brasilien. Geographische Zeitschrift, Band 100, Heft, 1, pp. 34-50, 2012. (C38) Panem et circensis versus the right to the city (centre) in Rio de Janeiro: A short report. City, 16(5), pp. 563-572, 2012. (C40) Libertarians and Marxists in the 21st century: Thoughts on our contemporary specificities and their relevance to urban studies, as a tribute to Neil Smith. City, 16(6), pp. 692-698, 2012. (C41) Ciudades brasileñas, junio de 2013: lo(s) sentido(s) de la revuelta. Contrapunto, 3, pp. 105-123, 2012. (C42) Introduction: On structures and conjunctures, rules and exceptions. City, 17(6), pp. 810-811, 2012. [escrito em coautoria com Barbara Lipietz; primeiro autor] D. TRABALHOS PUBLICADOS NA ÍNTEGRA EM ANAIS DE CONGRESSOS (D1) “Miseropolização” e “clima de guerra civil”: sobre o agravamento e as condições de superação da “questão urbana” na metrópole do Rio de Janeiro. Anais do 3.° Simpósio Nacional de Geografia Urbana, Rio de Janeiro, 1993. (D2) Revisitando o “mito da marginalidade”. A população favelada do Rio de Janeiro em face do tráfico de drogas". Anais do VII Encontro Nacional da ANPUR, vol. II. Recife, 1997. (D3) De ilusão também se vive: caminhos e descaminhos da democratização do planejamento e da gestão urbanos no Brasil (1989-2004). Disponível em 18/05/2005 na página do XI Encontro Nacional da ANPUR (realizado em Salvador, 2005): www.xienanpur.ufba.br/112pdf. (D4) As cidades brasileiras e os movimentos sociais no início do século XXI: sete questões para provocar o debate. Anais do X Simpósio Nacional de Geografia Urbana [CD-ROM] (Florianópolis, 2007) [mesa-redonda “O futuro das cidades e da urbanização no Brasil”]. Florianópolis. E. ARTIGOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA (E1) “‘Megamiseropolização’ do eixo Rio-São Paulo”. Artigo publicado na revista PUC-Ciência, n.° 4, 1989. Rio de Janeiro, pp. 13-15. (E2) “Revisão constitucional: Uma chance para a Reforma Urbana?”. Artigo publicado no jornal AGB em Debate, n.° 7, 1993, Curitiba. (E3) “Some Introductory Remarks about a New City for a New Society”. Texto em formato HTM disponibilizado no sítio da revista virtual “Z Magazine”, seção “Life After Capitalism Essays” (http://zena.secureforum.com/znet/souzacity.htm), a partir de janeiro de 2003. (E4) “As cidades, o seu Estatuto e a sua gestão democrática”. Texto em formato PDF disponibilizado no sítio do Núcleo de Pesquisas sobre Desenvolvimento Sócio-Espacial. NuPeD/UFRJ (http://www.geografia.ufrj.br/nuped/textos/acidadeoseuestatutogestao.pdf) em 18/07/2004. (E5) “Os geógrafos e os movimentos sociais: Como cooperar? Dez teses para debate”. Texto em formato PDF disponibilizado no sítio do Núcleo de Pesquisas sobre Desenvolvimento Sócio-Espacial, NuPeD/UFRJ (http://www.geografia.ufrj.br/nuped/textos/geografosemovimentossociais.pdf) em 20/11/2005. (E6) “El ‘lúmpen-proletariado armado’, el ‘capitalismo criminal-informal’ y los desafíos para los movimientos sociales”. Texto em formato htm disponibilizado no sítio do Colectivo Libres del Sur, da Argentina (http://www.geocities.com/surlibre/2004/Debates.htm) em 31/03/2007. (E7) “O que pode a economia popular urbana? Pensando a produção e a geração de renda nas ocupações de sem-teto do Rio de Janeiro”. Texto em formato PDF disponibilizado no sítio do Núcleo de Pesquisas sobre Desenvolvimento Sócio-Espacial- NuPeD/UFRJ (http://www.geografia.ufrj.br/nuped/textos/O%20que%20pode%20a%20economia%20popular%20urbana.pdf) em 26/05/2008. (E8) “Rio de Janeiro 2016: ‘sonho’ ou ‘pesadelo’ olímpico?” (em co-autoria com Tatiana Tramontani Ramos e Marianna Fernandes Moreira [ primeiro autor]). Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=15000) em 16/11/2009. (E9) “Universidades: burocratização, mercantilização e mediocridade (1.ª parte)”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=23461) em 16/05/2010. (E10) “Universidades: burocratização, mercantilização e mediocridade (2.ª parte)”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=23469) em 23/05/2010. (E11) “Dois fóruns urbanos, duas ilusões”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=27499) em 08/08/2010. (E12) “Os apoiadores acadêmicos dos movimentos sociais: seu papel, seus desafios”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=29280) em 21/08/2010. (E13) “A ‘reconquista do território´, ou: Um novo capítulo na militarização da questão urbana”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=32598) em 03/12/2010. (E14) “O direito ao centro da cidade”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=37960) em 03/04/2011. (E15) “O navio: Uma metáfora sobre o nosso tempo”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=49321) em 29/11/2011. (E16) “Ação direta e luta institucional: complementaridade ou antítese? (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=56901) em 27/04/2012. (E17) “Ação direta e luta institucional: complementaridade ou antítese? (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=56903) em 04/05/2012. (E18) “A Geografia e o pensamento libertário: Subsídios para um debate sobre tradições e novos rumos”. Revista eletrônica Território Autônomo, n.° 1, primavera de 2012, pp. 5-14 (http://www.rekro.net/revista-territorio-autonomo/, disponibilizado em 08/10/2012). (E19) “O campo libertário, hoje: Radiografia e desafios (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=77856) em 24/05/2013. (E20) “O campo libertário, hoje: Radiografia e desafios (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=78158) em 31/05/2013. (E21) “Cidades brasileiras, junho de 2013: O(s) sentido(s) da revolta (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=80789) em 09/07/2013. (E22) “Cidades brasileiras, junho de 2013: O(s) sentido(s) da revolta (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=80839) em 16/07/2013. (E23) “Cidades brasileiras, junho de 2013: O(s) sentido(s) da revolta (3.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=80884) em 23/07/2013. (E24) “Brazilian cities: From ‘spring’s’ promises to winter’s disappointing reality. Texto disponibilizado na página da revista inglesa City (http://www.city-analysis.net/2013/07/10/brazilian-cities-from-“spring’s”-promises-to-winter’s-disappointing-reality-2/) em 23/07/2013. (E25) “Diferentes faces da ‘propaganda pela ação’: Notas sobre o protesto social e seus efeitos nas cidades brasileiras (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/03/93153) em 19/03/2014. (E26) “Diferentes faces da ‘propaganda pela ação’: Notas sobre o protesto social e seus efeitos nas cidades brasileiras (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/03/93164) em 25/03/2014. (E27) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/04/93927) em 10/04/2014. (E28) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/04/94172) em 17/04/2014. (E29) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (3.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/04/94412) em 24/04/2014. (E30) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (4.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/04/94846) em 01/05/2014. (E31) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (5.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/05/95099) em 08/05/2014. (E32) “Do ‘direito à cidade’ ao direito ao planeta: Territórios dissidentes pelo mundo afora − e seu significado na atual conjuntura (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/05/97823) em 24/07/2014. (E33) “Do ‘direito à cidade’ ao direito ao planeta: Territórios dissidentes pelo mundo afora − e seu significado na atual conjuntura (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/05/98046) em 31/07/2014. F. PREFÁCIOS (F1) “Um ‘olhar afrodescendente’ sobre as cidades brasileiras”. Prefácio para o livro Do quilombo à favela: A produção do “espaço criminalizado” no Rio de Janeiro, de Andrelino de Oliveira Campos (Rio de Janeiro, Bertrand Brasil). (F2) “Mapeando (e refletindo sobre) a criminalidade violenta”. Prefácio para o livro Atlas da criminalidade no Espírito Santo, de Cláudio Luiz Zanotelli et al. (São Paulo, Annablume e FAPES), 2011. (F3) “Às leitoras e aos leitores desassombrados: Sobre o livro Espaço, gênero e masculinidades plurais”. Prefácio para o livro Espaço, gênero e masculinidades plurais, organizado por Joseli Maria Silva, Márcio José Ornat e Alides Batista Chimin Junior (Ponta Grossa, Todapalavra), 2011.
MARCELO JOSE LOPES DE SOUZA FRONTEIRAS, CAMINHOS E TRINCHEIRAS: UM RESUMO DA MINHA TRAJETÓRIA ACADÊMICA E UM BALANÇO DOS RESULTADOS DE MEU TRABALHO CIENTÍFICO (1986 – 2014) Marcelo Lopes de Souza (Rio de Janeiro, dezembro de 2014) Fronteiras, caminhos e trincheiras: Um resumo da minha trajetória acadêmica e um balanço dos resultados de meu trabalho científico (1986 – 2014) "Não quero acabar o dia de hoje sem escrever que tenho os olhos cansados, acaso doentes, e não sei se continuarei este diário de fatos, impressões e ideias. Talvez seja melhor parar. (...) Qual! Não posso interromper o Memorial; aqui me tenho outra vez com a pena na mão. Em verdade, dá certo gosto deitar ao papel coisas que querem sair da cabeça, por via da memória ou da reflexão. Machado de Assis, Memorial de Aires" PRÓLOGO Mesmo para alguém que, como eu, tem por costume refletir sistemática e criticamente sobre o seu próprio trabalho com as preocupações de 1) monitorar a coerência e o acerto das escolhas e 2) evitar cometer novamente eventuais erros do passado, fazer um balanço da própria carreira não há se ser um exercício trivial e isento de riscos. É sobejamente conhecido que autores são, frequentemente, juízes muito imperfeitos de suas próprias obras. Não é incomum que isto ou aquilo seja superestimado, ou que, às vezes, justamente por acautelar-se em demasia diante do espectro do narcisismo (ou seja, deste que parece ser um lamentável atributo da maioria dos intelectuais), termine-se por subestimar essa ou aquela realização. Isso sem falar nas lacunas ou omissões, nos exageros involuntários, nos erros de avaliação e em outros pecados e pecadilhos. Porém, é esta a tarefa que se me impõe, e dela tentarei me desincumbir da forma mais honesta que me for possível. Para evitar, precisamente, superestimar ou subestimar o alcance e a utilidade de certas atividades e ideias, busquei ser parcimonioso no que se refere ao julgamento da qualidade das minhas contribuições. Isso, aliás, é totalmente condizente com o significado maior da ciência: se o que importa é a produção de um conhecimento que seja, ao fim e ao cabo, reconhecido coletivamente como válido e quiçá como útil, o que conta é o julgamento alheio dos pares, dos estudantes e do público em geral, e não tanto o juízo que possa dele fazer o próprio autor. Nas páginas que se seguem, procurei realizar o difícil exercício de submeter a um escrutínio crítico aquilo que fiz e tenho feito, mas sem incursionar demasiado, embalado seja por vaidade, seja por modéstia, no terreno da valoração das contribuições. A ressalva anterior não me impede e nem mesmo me exime, contudo, de fazer uma autocrítica e de proceder a juízos de valor sobre o meu caminhar. Na verdade, é isso que se espera e exige de um memorial. A propósito disso, uma das coisas que, por uma questão de lógica e “cronologia”, e mesmo por razões pedagógicas não é à toa que se trata de algo que incorporei, já há anos, ao repertório das coisas que repito incansavelmente para os meus orientandos, merece, já agora, ser lembrada, é que, independentemente dos erros e dos acertos, é necessário apostar, e apostar sempre, na combinação de pertinácia (não desistir diante de obstáculos, por maiores que sejam!) e paciência (tão necessária a um pesquisador brasileiro...). Essas são, talvez acima de todas as outras, as qualidades que um cientista precisa cultivar. Essas têm sido, desde a adolescência, as qualidades que tenho perseguido. E a isso se pode, também, acrescentar a minha convicção sobre a necessidade de planejamento e preparação: não se lançar em uma empreitada, seja a redação de um volumoso livro ou a de um simples artigo, se os pressupostos para a produção de um trabalho consistente ainda não tiverem sido satisfeitos. Não se trata isso, evidentemente, de qualquer “receita de sucesso”, daquelas que abundam nos chamados livros de “autoajuda”. O que aqui desejo frisar é, por assim dizer, uma intencionalidade ou disposição básica; e, mais que isso, uma espécie de “método [de trabalho]” (no sentido amplo e etimológico: méthodos [gr.] = caminho para se atingir um fim). Nunca esqueci da recomendação de Marx, resumida por ele no prefácio da segunda edição (alemã) de O Capital: em meio a uma distinção entre o método de exposição e o método de investigação, frisava ele a importância de, antes de pôr-se a (tentar) apresentar o movimento da realidade, buscar apropriar-se, o mais pormenorizadamente possível, do material (o conhecimento) que viabiliza uma tal exposição, ou ao menos uma exposição coerente e convincente. Ou, como ele aconselhou alhures: antes de escrever, leia tudo o que for necessário, leia tudo o que lhe for possível ler sobre o assunto em questão. Em uma época como a nossa, em que vários fatores conspiram para estimular a pressa e trazer à luz, em congressos e publicações, trabalhos em que se desconhece grande parte da literatura especializada, tais palavras de Marx podem soar extemporâneas, anacrônicas. Mas lutar para defender a perenidade desse ensinamento corresponde, a meu ver, a combater um bom combate. Nem é preciso dizer que tentar assimilar essas qualidades nem sempre evitou problemas ou decisões das quais eu me arrependeria. Afinal, o erro é inerente à ciência e, mais amplamente, à vida e à condição humana, como advertia Sêneca: errare humanum est. Apesar disso, busquei, sempre, não esquecer, também, da famosa ressalva atribuída a S. Bernardo, segundo a qual “persistir no erro é diabólico” (perseverare autem diabolicum)... Espero assim, pelo menos, ter errado muito menos do que poderia ter errado se tivesse dado menos atenção à necessidade de cultivar valores e hábitos como pertinácia, paciência (esta, no meu caso, às vezes em dose menor do que deveria ter sido o caso) e planejamento + preparação. Antes que pareça, porém, que estou a magnificar quaisquer atributos pessoais, no estilo de um enaltecimento de decisões individuais, cumpre deixar claro que sei muito bem que, muito mais que “tomar decisões”, fui, acima de tudo, modelado por circunstâncias da minha vida, para o bem e para o mal. Sem pertinácia e sem planejamento + preparação, provavelmente um filho de operário (tecelão) talvez nem sequer chegasse a uma graduação na UFRJ, a prestigiosa e reverenciada “Federal”, no começo dos anos 1980. E, sem paciência, talvez as condições de estudo em um lar em constante estado de tensão e conflito tivessem me levado não para os livros, mas sim para os mesmos descaminhos trilhados por vários coleguinhas dos tempos de infância e adolescência, na periferia e, depois, no subúrbio do Rio de Janeiro. A decisão pelos livros, no sentido de uma decisão soberana, madura e consciente, veio mais tarde, não nos primeiros anos da década de 70; por essa época, a leitura era, isso sim, um porto seguro, um refúgio, um alívio. E, cada vez mais, um prazer indescritível. É válido, talvez, observar, como mais uma nota um pouco mais pessoal seja-me permitido isso em um memorial, que levar a sério o supracitado ensinamento de Marx, com o qual topei em 1982 (“antes de escrever, leia tudo o que for necessário”), exigiu de mim uma grande dose de disciplina. Isso, que soa óbvio, uma vez que se aplica a qualquer um, é, talvez, particularmente válido no meu caso, já que, no plano das relações interpessoais extra-acadêmicas, volta e meia agi impulsivamente, na juventude e também depois. É por isso curioso, para mim mesmo, que, em meu trabalho científico, eu tenha conseguido, já relativamente cedo, pôr em prática objetivos como ponderação e paciência. (Uma vez mais: não quero, com isso, de modo algum sugerir que, graças a essa assimilação, inicialmente uma simples intuição, alcancei sempre resultados corretos. Isso, insisto, deixo, por razões éticas e até de etiqueta, para outros avaliarem. O que me parece é que, pelo menos, aprendi cedo a incorporar algumas premissas do trabalho científico, e não creio que isso seja desimportante.) Hoje em dia, ao lançar um olhar retrospectivo sobre a minha carreira, é inevitável que eu a veja entrelaçada com outros aspectos da minha vida. E é inevitável a constatação de que teria sido muito bom se eu tivesse sempre sabido ou conseguido, também em minha vida pessoal, assimilar e aplicar, consequentemente, as virtudes da ponderação e da paciência... A despeito dos dissabores que um temperamento apaixonado e arrebatado me possa ter trazido em meus anos de juventude temperamento esse perfeitamente capaz, mas geralmente apenas na solidão de uma biblioteca, e diante do bloco de notas ou do computador, de deixar-se amansar, consegui não permitir que, ao menos no ambiente de convívio profissional, divergências de qualquer espécie me afastassem da possibilidade de aprender. Com efeito, desfrutei da companhia e dos ensinamentos de alguns dos melhores pesquisadores e professores da minha época de formação. Orlando Valverde, no belíssimo prefácio da coletânea Capítulos de Geografia Tropical e do Brasil, da autoria de seu mestre Leo Waibel, relembra que, em determinada ocasião, um intrigante tentara atiçar Waibel contra um de seus assistentes (ao que tudo indica, o próprio Orlando), diante do que o geógrafo alemão, incisivamente, assim reagiu: “a mim não interessam as ideias políticas dele, mas sim as suas ideias científicas” (VALVERDE, 1979:15). Quando li esse prefácio, eu ainda nem sequer havia entrado para o curso de graduação. (1) Mesmo assim, nessa época, eu era um adolescente que já cultivava, por influência paterna (mais indireta até que direta, devido a temores compreensíveis durante o Regime Militar), o contato com a literatura política de esquerda, de modo que, por um lado, qualquer separação rígida entre as “ideias científicas” e as “ideias políticas” me soaria artificial. Por outro lado, e apesar disso, a frase de Waibel (verdadeira admoestação), citada naquele contexto por alguém como Orlando Valverde, geógrafo que não se furtou, especialmente a partir de uma determinada época de sua vida, a engajar-se publicamente por diversas causas, fez muito sentido para mim. Mais que isso: me marcou profundamente. No mesmo prefácio, aliás, podem ser encontradas duas outras frases, estas da lavra do próprio Orlando, que nos ensinam: “[a] personalidade do sábio é indivisível. O homem de ciência não pode ser dissociado do homem de caráter.” (VALVERDE, 1979:13). Para mim, duas coisas ficaram indelevelmente impregnadas em meu espírito, acredito que a partir do momento em que li essas linhas: o imperativo da tolerância, buscando aprender com aqueles que, mesmo professando, às vezes, valores outros, diferentes dos meus, teriam algo ou mesmo muito a me ensinar; o imperativo do respeito pela coerência de uma trajetória, muito especialmente quando embebida em um espírito humanista. Às vezes, quando me flagro agindo ou inclinado a agir de um modo que se situa ou ameaça situar-se aquém desse padrão de comportamento, as palavras de Orlando no prefácio do livro de Waibel vêm à minha cabeça e me lembram daquilo que jamais deveria esquecer, apesar das tentações que se nos oferecem em um mundo acadêmico tão deformado pelo burocratismo e, cada vez mais, pela mercantilização do conhecimento. Manter Orlando próximo a mim, mesmo depois de o destino o roubar de nós em 2006, continua a ser uma das circunstâncias que me permitem confessar, não sem uma pontinha de orgulho: me arrependo de umas tantas coisas, desde o início de minha vida acadêmica e até agora; mas, felizmente, não me envergonho de nada. Tentar não desapontar um mestre tão querido e essencial, mesmo após ele se ter convertido em memória, permanece sendo um incentivo e um norte. Além do próprio Orlando Valverde, tive a fortuna de desfrutar, como assistente, orientando e/ou aluno, da presença e das palavras, e destacadamente dos conselhos e das críticas, de alguns dos profissionais mais admiráveis que um geógrafo brasileiro poderia ter tido a honra de conhecer pessoalmente. Por dever de justiça, três precisam ser lembrados com o devido relevo: Roberto Lobato Corrêa, Mauricio de Almeida Abreu e Lia Osório Machado. Muito embora em 1983, durante o meu segundo ano na graduação, eu já tivesse “me bandeado para a Geografia Urbana”, como carinhosamente (e de maneira um pouquinho doída) me dizia, de tempos em tempos, Orlando, a influência intelectual e moral de Roberto Lobato e Mauricio Abreu sobre mim, que se concretizou a partir da segunda metade da década de 80, é algo que jamais poderia ser enfatizado o suficiente. Maurício Abreu, após fazer acerbas e, conforme reconheci quase de pronto, justíssimas críticas ao meu estilo de escrever, às vezes um tanto hermético, possivelmente ficou surpreso quando, por isso mesmo, eu lhe perguntei, poucos dias depois da defesa da minha monografia de bacharelado, se ele aceitaria ser o meu orientador de mestrado. Lembro-me, até hoje, da conversa que tivemos, e como ele, após aceitar de imediato o meu pedido, fez-me alguns elogios e deu-me alguns conselhos que nunca esquecerei. As duras e certeiras palavras de Maurício Abreu dono de uma prosa límpida, elegante, praticamente sem igual na Geografia brasileira dos dias de hoje forçaram o amadurecimento de meu estilo. Catalisaram, por assim dizer, a sua lapidação, o seu burilamento. Isso sem contar a importância que, para muito além disso, a consistência da obra de meu ex-orientador de mestrado sempre teve para mim, como fonte de inspiração em matéria não só de ideias, mas também de exemplo emblemático de dignidade acadêmica. Mas, não menos relevante foi a influência da obra e da personalidade de Roberto Lobato Corrêa. A integridade intelectual de Roberto Lobato; a sua capacidade de expor sistematicamente as ideias; o apreço simultâneo pelo labor teórico e pelo trabalho empírico; a sua disciplina de trabalho, a começar pela exposição em sala de aula: tudo isso, posso dizer sem exagero, sempre me causou enorme e duradoura impressão. De Roberto Lobato não fui orientando, com o fui de Maurício Abreu, mas sim “somente” aluno (durante o curso de mestrado); tive, por outro lado, a felicidade de dividir a mesma sala com ele durante toda a segunda metade da década de 90, e graças a isso pude, intensivamente, no quotidiano, direta (por meio de conselhos e sábias dicas) ou indiretamente (pela observação de seus hábitos de trabalho), aprender muitas coisas. Por fim, Lia Osório Machado. Fui bolsista de iniciação científica, sob a sua supervisão (mas vinculado a um projeto de pesquisa coordenado por Bertha Becker), em 1982. Para um rapazola de 18 anos de idade, com ideias às vezes extravagantes na cabeça e sonhos de se tornar um pesquisador respeitado, o encontro com Lia Machado foi um turning point. É muito difícil, na realidade, falar de Lia Machado, ainda hoje, com mais razão que emoção, tamanha a admiração que sempre nutri por ela. Tornamo-nos amigos praticamente de imediato, ou por outra: cientificamente, ela “me adotou”, coisa que muito me envaidecia. Talvez tenha envaidecido até demais, e por conta disso houve uma fase de distanciamento, felizmente superada, no início dos anos 1990, por uma nova fase de amizade já então em um patamar muito superior, graças ao amadurecimento do antigo pupilo. Lia Machado “fez a minha cabeça”, talvez antes de mais nada por suas ímpares coragem e sinceridade intelectuais, qualidades que costumam ser atemorizantes e intimidadoras em alguém tão incrivelmente perspicaz e brilhante como ela. Contudo, como aprendi muito cedo a conhecer e apreciar o lado que alguns teimam em não enxergar direito a busca por ajudar e ser construtiva e o entusiasmo e mesmo o carinho ao tentar ajudar a encaminhar a carreira de um jovem pesquisador ou uma jovem pesquisadora, nunca me senti intimidado, mas sim, sempre, gratificado. Gratificado e honrado. Se digo tudo isso, se presto tais tributos e reconheço as minhas dívidas (e, obviamente, outras tantas poderiam ser mencionadas.) (2), é por um incontornável dever de justiça. Duplamente, aliás. Não somente naquele sentido mais trivial, aquele que se refere ao dever de agradecer a quem devemos algo. Não é só de gratidão que se trata aqui, mas também de realismo e, quase me arriscaria a dizer, de cautela. O leitor há de perceber que me empenhei para construir uma trajetória que fosse, acima de tudo ou pelo menos, coerente. Independentemente de o quanto acertei ao longo dela, acredito que, em si mesmo, esse objetivo de não perder a coerência, orientado pela intransigência de princípios e pela firmeza de propósitos, foi e tem sido, no geral, alcançado. Em decorrência disso, a satisfação que deriva de uma certa sensação de vir cumprindo com aquilo que vejo como a minha obrigação pode, aqui e acolá, ser confundido com o cabotinismo de quem exagera ou se delicia em demasia com o próprio papel. Nada me amofinaria mais que isso, pois uma tal interpretação da minha trajetória e do meu papel não passa pela minha cabeça. Por convicção até (político-)filosófica, bem sei que o indivíduo, tomado isoladamente, tem pouco ou nenhum significado real. Cada um de nós só existe, com tais e quais virtudes, e com tais e quais misérias, em um ambiente social determinado, que nos define e nos imprime as marcas de uma socialização condicionante. À luz disso, forçoso é, a começar por mim mesmo, ao lançar um olhar retrospectivo sobre como construí e o que fiz de minha vida profissional, constatar que, para cada obstáculo, para cada vicissitude, sempre ou quase sempre apareceu, em minha vida, um fator atenuante ou neutralizador: da minha mãe, que tudo fez e tudo suportou para me propiciar um lar, até os meus principais mestres e mentores na universidade, contei com apoios fundamentais. Por isso, deixando de lado todos os outros fatores e todas as outras escalas, de uma coisa tenho certeza: eu não poderia, agora, ao olhar para trás, ter a mesma sensação de ter trilhado um caminho profissional de que me orgulho, se não tivesse tido o privilégio de conviver com Orlando Valverde, Mauricio de Almeida Abreu, Roberto Lobato Corrêa e Lia Osório Machado. Quaisquer que sejam as minhas qualidades na suposição de que de fato existam e não sejam mero autoengano elas se apequenam ou, pelo menos, se relativizam ao serem considerados os ombros dos gigantes sobre os quais eu me apoiei e continuo a me apoiar. INTRODUÇÃO: CIÊNCIAS E FILOSOFIA, TEORIA E EMPIRIA O presente balanço cobre um período de quase três décadas. Não começo pelo ano de 1986 pela mera formalidade de ser ele o meu primeiro ano depois de concluído o curso de graduação, mas sim por ser o ano em que iniciei a minha pesquisa de dissertação de mestrado a qual foi a minha primeira empreitada científica de fôlego, tendo deitado raízes cujas pontas até hoje podem ser vistas em meu trabalho. Antes de passar em revista e avaliar criticamente o que fiz ao longo de quase três décadas, cumpre explicitar alguns pressupostos interpretativos subjacentes ao presente memorial. Na realidade, essas premissas me guiaram desde a juventude, e colaboraram para a formação de minha estratégia de trabalho e carreira. As ciências se distinguem da Filosofia porque, enquanto as primeiras são escravas de um esforço de exame sistemático da realidade empírica (ainda que, nem seria preciso dizer, sempre com um lastro teórico e a preocupação de retroalimentar a teoria!), a segunda está em seu elemento natural ao especular, mais ou menos livremente, sobre as “razões últimas” de ações e decisões “razões últimas” de natureza ética ou política, por exemplo, e que usualmente não se prestam ao jogo de “demonstrações” e exibição de “evidências” que a ciência tem como apanágio. É claro que a interrogação filosófica não pode, simplesmente, ignorar a empiria, o mundo da experiência sensível, tendo, inclusive, muito frequentemente, de levar em conta os resultados da ciência. Sua tarefa, porém, é, por assim dizer, mais abstrata que a da ciência: trata-se de propor as questões que deveriam orientar os próprios cientistas enquanto homens e mulheres de pensamento, nos planos ontológico, epistemológico, ético e político. As ciências nos auxiliam, de diferentes maneiras, a explicar e compreender como as coisas “são” e como “vieram a ser o que são” (ainda que, como sabemos, trate-se de um “ser” que é largamente “construído”, interpretado); nos ajudam, ademais, nas tarefas de desafiar e mudar o que “é”, tornando-o em algo diferente. A Filosofia, de sua parte, propõe as perguntas a propósito do sentido profundo das coisas, e, nesse sentido e dessa forma, também é, por excelência e quase que por definição, desafiadora. No que concerne especificamente à produção teórica por parte dos cientistas sociais, entre os quais grande parcela dos geógrafos almeja se ver incluída a despeito da inconfundível singularidade da Geografia (3) pode-se dizer que há três níveis de elaboração: 1) O nível das “macroteorias”. São elas grandes construções, referentes a fenômenos macrossociais, grandes escalas geográficas (global ou, de todo modo, internacional) e longa duração. São vastos edifícios interpretativos da dinâmica social ou sócio-espacial, possuindo, ao mesmo tempo, fortíssimas e diretas implicações metodológicas, do materialismo histórico marxista à “teoria da estruturação” giddensiana. Em parte com muita razão, mas em grande parte com exagero e niilismo, “macroteorias” (em particular aquelas denominadas “grandes relatos emancipatórios”, como o materialismo histórico e a psicanálise) foram postas sob suspeição no auge da “onda pós-moderna” nas ciências sociais e na Filosofia, em nome de um “minimalismo teórico” vulnerável ao empirismo e pouco afeito a dar atenção aos condicionamentos estruturais de alcance mais geral ou mesmo global. Na realidade, as “macroteorias” são, geralmente, criaturas intelectuais nitidamente “híbridas”, verdadeiras construções-ponte entre o plano teórico científico e o plano metateórico, situado este último na esfera da Filosofia. É comum que uma “macroteoria” seja, ao mesmo tempo, uma espécie de bússola para a pesquisa, um resultado do acúmulo de discussões teóricas, uma visão de mundo e uma elaboração filosófica (nos terrenos político-filosófico, ético, ontológico ou epistemológico, e não raro em todos eles). Não é à toa que “macroteorias” representam, por excelência, o casamento das ciências com a Filosofia. 2) O nível das “teorias de alcance médio”, ou “mesoteorias”. São teorias menos ambiciosas, que procuram dar conta de fenômenos mais circunscritos no tempo e no espaço como, por exemplo, a Teoria das Localidades Centrais, de Walter Christaller, ou a orientação teórica referente às transformações no “modo de regulação” e no “regime de acumulação” no transcurso da transição do “fordismo” para o “pós-fordismo”, desenvolvida pelos economistas críticos vinculados à chamada “Teoria da Regulação”. (4) 3) O nível das teorias bastante específicas, ou “microteorias”. São teorias que, sem jamais esquecer do geral como contexto de referência, buscam dar conta pormenorizadamente de fenômenos particulares. Elas procuram dar conta de processos específicos observáveis no interior de um tipo bem delimitado de formação sócio-espacial, como por exemplo as peculiaridades da “(hiper)precarização do mundo do trabalho” nos países capitalistas semiperiféricos contemporâneos. Os três níveis deveriam dialogar com a Filosofia, embora isso seja mais evidente, como eu postulei acima, naquele das “macroteorias” ou macroexplicações sobre a sociedade e o espaço. É comum que os dois outros níveis incorporem e reverberem questões metateóricas, tendo uma “macroteoria” como plano de mediação. Os três níveis também precisam, decerto, alimentar-se empiricamente, embora isso seja tão mais nítido quanto menor for o grau de generalidade explicativa e interpretativa. “Macroteorias”, em geral, se valem da empiria já digerida no âmbito de “teorias de alcance médio” e “microteorias”.(5) Em meu trabalho como pesquisador, tenho buscado, dentro de minhas limitações, oferecer algumas contribuições, por acanhadas que sejam, concernentes aos três níveis supramencionados. No entanto, é uma questão de sabedoria e prudência reconhecer que, quanto mais abstrato e abrangente é o esforço teórico, mais experiência se exige do pesquisador (para dizer o mínimo), de sorte que, no que diz respeito ao nível das “macroteorias”, minha intenção tem sido, no fundo, não mais que a de “desdobrar” e complementar um determinado arcabouço metateórico já existente (a abordagem filosófica da “autonomia”, conforme explicarei bem mais à frente). Tal “desdobramento” e tal complementação se traduzem em uma colaboração para tornar o dito arcabouço mais “operacional”, de acordo com as necessidades da pesquisa científica, e com base em uma decidida valorização da espacialidade, dele ausente em sua formulação inicial. O tipo de contribuição que tenciono e penso ter condições de oferecer, por conseguinte, não corresponde esclareça-se, para evitar mal-entendidos, a qualquer pretensão de pioneirismo no plano das macroexplicações sociais; na verdade, qualquer eventual traço de originalidade, se isso se puder conceder, será uma decorrência da tentativa de entrecruzar esforços preexistentes com um esforço analítico de longo prazo, fundamentado em investigações empíricas que, ao mesmo tempo em que nutrem minha reflexão teórica, servem de “campo de provas” para conceitos e formas de interpretação. Tenho, não posso e nem quero negar, uma paixão pela Filosofia que vem da adolescência. Se isso não me autoriza a ver-me como um “filósofo” e muito menos, evidentemente, a reivindicar qualquer contribuição original nesse terreno! , ao menos tem garantido que, no meu caso, investigação científica e interrogação filosófica caminhem sempre de mãos dadas, união cuja importância foi muito persuasivamente ressaltada por Cornelius Castoriadis (CASTORIADIS, 1978). Meus caminhos me têm levado a transgredir, decidida e convictamente, vários tipos de fronteiras, em alguns casos para questioná-las frontalmente (as fronteiras entre as diversas ciências sociais, que reputo como extremamente artificiais), em outros para tentar relativizá-las e torná-las mais porosas (a fronteira entre o labor científico e a interrogação filosófica e a fronteira entre o conhecimento científico e o “local knowledge” dos atores sociais imersos em seus “mundos da vida” [Lebenswelten]). No que se refere à dicotomia Geografia Física/Geografia Humana, nem sei se a palavra a ser usada seria “fronteira”; a mim me parece que se está diante, há tempos, isso sim, de um deplorável abismo, em face do qual tenho me empenhado pela (re)construção de pontes algo que a uns tantos soa como um exercício quixotescamente inútil. Advogar essas transgressões constitui, ao mesmo tempo, uma das principais trincheiras que, desde cedo, mediante a minha própria prática e o meu estilo de trabalho, tentei ajudar a cavar. O PAPEL E A DIMENSÃO ESPACIAL DOS ATIVISMOS URBANOS: MEUS PRIMEIROS PASSOS Realizei, na segunda metade dos anos 80, estudos empíricos e reflexões teóricas sobre ativismos urbanos, ao mesmo tempo em que aprofundava o meu contato com as contribuições de numerosos geógrafos e correntes do pensamento geográfico (Élisée Reclus, Paul Vidal de La Blache, Jean Brunhes, Leo Waibel, Carl Sauer, Richard Hartshorne, Max. Sorre e outros geógrafos “clássicos”; alguns escritos representativos da Geografia quantitativa; David Harvey, Edward Soja, Milton Santos e outros representantes da radical geography; Yi-Fu Tuan e Edward Relph como principais expoentes da humanistic geography; e assim sucessivamente), consolidava e ampliava a minha cultura filosófica e ampliava o universo de minhas leituras sobre a teoria das ciências sociais em geral. No tocante à Filosofia, se minhas leituras de antes dessa época já haviam incluído Platão e Aristóteles, Maquiavel, Thomas Morus, Campanella, Descartes, Kant, Bacon, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx e boa parte dos clássicos do marxismo, Nietzsche e Schopenhauer, além de bastante coisa especificamente sobre Filosofia da Ciência (por exemplo, diversos livros do epistemólogo brasileiro Hilton Japiassu, que foi meu professor na graduação), na segunda metade da década de 80 estenderam-se, sobretudo, na direção de uma complementação das minhas leituras sobre o marxismo (Lukács, Althusser, Escola de Frankfurt, K. Korsch, João Bernardo e outros), de um contato sistemático com os principais autores anarquistas do século XIX e seus escritos filosóficos e políticos (Proudhon, Bakunin, Kropotkin e Reclus, entre outros), de um envolvimento com as obras de Hannah Arendt, Michel Foucault e Félix Guattari e, finalmente, de um estudo sistemático da obra de Cornelius Castoriadis (autor que, mais que qualquer outro, viria a me influenciar duradouramente, e com cujas ideias eu começara a me envolver em meados de 1984). No que concerne à teoria das ciências sociais, dediquei-me, no período em questão, a estudar sistematicamente Sociologia (o que me levou, inclusive, a realizar um curso de especialização em Sociologia Urbana entre 1986 e 1987) e, secundariamente, a complementar as minhas leituras no terreno da Economia, já iniciadas durante a graduação. Para além de algumas propostas terminológicas e conceituais que depois, nos anos 90 e mais tarde, eu procurei refinar (como a diferença conceitual entre ativismo social e movimento social), o principal produto desse período foi a reflexão em torno da reificação do urbano, pedra angular de minha interpretação da força e da fraqueza dos ativismos urbanos contemporâneos (vide a minha dissertação de mestrado, intitulada O que pode o ativismo de bairro? Reflexões sobre as limitações e potencialidades do ativismo de bairro à luz de um pensamento autonomista). Em que consiste essa reificação? Como explorei melhor posteriormente (vide A6) (6), a reificação do urbano constitui, a meu ver, a chave para a compreensão da dificuldade primária de tantos e tantos ativismos urbanos das últimas décadas. Essa dificuldade assume algumas vezes (não muitas), perante os próprios ativistas, as características de um enigma a ser decifrado: o que ocasiona e porque é tão difícil vencer a persistente separação de frentes de combate como infraestrutura urbana e habitação, trabalho e renda, ecologia, gênero, etnia e outras mais? O ensimesmamento dessas frentes de combate não é apenas um fator de enfraquecimento “estático”, pela rarefação das chances de fecundação recíproca. No fundo, trata-se de ter de lidar com o problema do constante (res)surgimento de contradições: o militante ambientalista que, diante de uma favela, revela pouca sensibilidade social e reprocha aos posseiros urbanos por desmatarem uma encosta, culpabilizando-os simplisticamente; a intelectual feminista de classe média que oprime sua empregada fenotipicamente afrodescendente e favelada; o rapper de periferia que denuncia o racismo e a violência policial, mas que reproduz o machismo e a homofobia em suas letras e em seu comportamento; o trabalhador “de esquerda” que espanca a mulher e abusa da filha. Ao que parece, tudo conspira para que o espaço geográfico socialmente produzido seja, pelos atores, captado apenas em sua imediatez material, como um “dado”, como “coisa”. Em vez de ser apreendido holisticamente pelos sujeitos históricos, em vez de ser percebido na integralidade e na riquíssima dinâmica da sua produção, o espaço é apreendido parcelarizadamente. Atores diferentes, desempenhando papéis distintos, gravitam em torno de identidades propensas à compartimentação: da esfera do consumo e da reprodução da força de trabalho extraem-se o “consumidor” e o morador; da esfera da produção retira-se o trabalhador assalariado; na arena político-ideológico da proteção ambiental, tem-se o ambientalista; a problemática de gênero suscita as feministas; a seara da etnia compete ao militante afrodescendente ou indígena, e a seus equivalentes em outros países. Ora, uma tal apreensão parcelarizada do espaço e da problemática engendrada pela instituição total da sociedade antes embaraça que propicia o diálogo, o entrosamento e a sinergia de numerosos esforços específicos. A reificação do urbano converte a maneira de apropriação cognitiva do espaço em uma formidável barreira para a tomada de consciência e para a práxis emancipatória. Ao caducar a centralidade de uma identidade “proletária”, substituída, no transcorrer do século XX e em decorrência da derrota histórica do movimento operário e das transformações paralelas e subsequentes do capitalismo, por identidades e protagonismos múltiplos, seriíssimas implicações tiveram lugar. Percebido fenomenicamente antes como um produto, sem que a essência de seu multifacetado processo de produção seja apreendida, o espaço urbano é “coisificado”, e a própria totalidade concreta do social (relações sociais e espaço) é reificada. Grupos distintos estabelecem com o espaço laços não apenas distintos, mas amplamente desconectados entre si no plano político, dando ensejo à aparição de conflitos entre atores que, “objetivamente”, teriam interesse em ajudar-se mutuamente e unir forças. Os esforços de compreensão contidos em minha dissertação de mestrado foram, por assim dizer, o início de minha busca de contribuição para uma “teoria de alcance médio”, ou para aquilo que os alemães chamam de Theorieansatz (vide nota 4 e, adicionalmente, também a nota 5), referente ao papel e à dimensão espacial dos ativismos sociais urbanos no mundo contemporâneo. Foi, portanto, já nos anos 80, graças à minha dissertação de mestrado, que despertou-se em mim o interesse pela “geograficidade” (para usar uma expressão que, de maneiras diferentes, fora já empregada pelos geógrafos Éric DARDEL [1990] e Yves LACOSTE [1988]) dos ativismos sociais, assunto que eu iria continuar explorando pelas décadas seguintes, e até hoje (vide, por exemplo, B14, B16, C18 e C23). Na sua essência, perceber e valorizar essa dimensão espacial (ou “geograficidade”) se refere à capacidade de discernir e investigar diversas coisas, notadamente: as relações entre os espaços enquanto espaços vividos e percebidos, dotados de carga simbólica (“lugares”), e as identidades das “pessoas comuns” (isto é, não-ativistas de qualquer organização), muitas vezes “identidades espaciais” em sentido forte; a identidade dos ativistas e ativismos enquanto tais (muitas vezes um ativismo tem sua identidade, e portanto o perfil de sua agenda, condicionada por uma referência forte e direta ao espaço); a maneira como o espaço é decodificado e instrumentalizado de modo a servir de referencial organizacional (territórios, redes, politics of scale etc.); a maneira como o substrato espacial (ou seja, o espaço em sua materialidade) e seus problemas sintetizam ou referenciam as demandas e a agenda de cada ativismo (carências e deficiências de infra-estrutura técnica e social, “déficit habitacional”, dificuldades de acesso a equipamentos de consumo coletivo, degradação ambiental, conflitos de uso do solo, especulação imobiliária etc.). Infelizmente, a maior parte dos não-geógrafos de formação (sociólogos e cientistas políticos) envolvidos com a temática dos ativismos sociais sempre deu pouca ou nula importância ao espaço geográfico. Se considerarmos três “níveis de acuidade analítica” no tocante ao papel do espaço nível 1: o espaço é reduzido a um mero quadro de referência; nível 2: dá-se atenção à “lógica” locacional e à organização espacial em sua vinculação com as relações sociais (ou seja, às causas e ao sentido de determinados processos/práticas terem lugar em determinados espaços e não em outros); nível 3: examinam-se os condicionamentos e as influências do espaço sobre as práticas sociais , pode-se dizer, tranquilamente, que os estudos assinados por esses não-geógrafos geralmente transitaram, via de regra, pelo nível 1, às vezes tocando o nível 2, como ressaltei em B14. O nível 3 tem permanecido quase que inexplorado, e é aí que entra ou pode entrar a contribuição específica de uma perspectiva que assume um compromisso claro de valorização da dimensão espacial da sociedade, que é o papel que se espera dos geógrafos de formação. (7) ESTICANDO UM POUCO MAIS O PESCOÇO: REFLEXÕES SOBRE A DIMENSÃO ESPACIAL DA SOCIEDADE Na mesma época, na segunda metade dos anos 80, dei um passo que, como avalio hoje, foi temerário. Sempre entusiasmado pela reflexão teórica e sem medo do pensamento abstrato (palavra que praticamente nunca tomei em seu sentido pejorativo), achei que, para o bem da minha própria formação, deveria empreender leituras e estudos sistemáticos sobre o papel do espaço social (em geral), isto é, sobre a relevância, para as relações sociais, do espaço geográfico socialmente incorporado e produzido. Meu esforço nessa direção deixou-se fertilizar, a exemplo daquela teorização “de alcance médio” acima referida, pelo pensamento “autonomista”, especialmente pela obra filosófica de Cornelius Castoriadis (ver CASTORIADIS, 1975, 1983, 1985, 1986, 1990 e 1996, entre outros trabalhos) obra essa que constitui, na minha interpretação, uma complexa, sofisticada e erudita (e, não raro, incômoda) atualização do pensamento libertário. O resultado disso foi a minha primeira incursão no plano das “macroteorizações”, tendo como produto o ensaio “Espaciologia”: Uma objeção (C1), publicado na revista Terra Livre. Grosso modo, eu insistia, nesse ensaio, indiretamente inspirado em autores como Cornelius Castoriadis e Maurice Merleau-Ponty, e mais diretamente por Henri Lefebvre, que o espaço social é, entendido como o espaço geográfico produzido pelas relações sociais, é, sem dúvida, expressão dessas relações, mas sendo também, em contrapartida, as próprias relações sociais (e, nesses marcos, o processo de socialização dos indivíduos) condicionadas pela espacialidade mesma. Na verdade, como é sabido, algo semelhante já vinha sendo sugerido, em um nível às vezes bastante sofisticado, por vários outros geógrafos, decerto que infinitamente mais importantes que um jovem mestrando, tais como Edward Soja (assumidamente inspirado por Lefebvre) e Milton Santos (em cuja obra Lefebvre aparece, ao olhar do leitor atento, e no que tange ao plano teórico mais geral, como uma referência mais que essencial). De minha parte, eu insisti em sublinhar que as relações sociais nunca operam fora do espaço e sem se referenciar pelo espaço (mesmo quando não o transformam materialmente), de modo que, mesmo sendo possível falar de práticas espaciais (no sentido de práticas diretamente espaciais ou espacializadas, em que o espaço possui forte e direta relevância simbólico-identitária e/ou como referencial direto de organização política e/ou como conjunto de recursos elencados em uma agenda de demandas), os processos sociais jamais são “anespaciais”, tanto quanto não são anistóricos. Da mesma maneira, ao condicionar as relações sociais, alguns condicionamentos, mesmo que mediados pelas próprias relações sociais, vistas historicamente (ou seja, não se trata de nenhum “fetichismo espacial”), podem ser muito mais fortes, diretos e evidentes que outros, o que não elimina o fato de que a influência do espaço é, no mínimo em seu nível mais elementar, onipresente. Nesse ponto, eu me afastava, por exemplo, de David Harvey, que havia colaborado para restringir demasiadamente o alcance das influências da espacialidade sobre as relações sociais. Contudo, eu me afastava, também, de autores como Edward Soja e Milton Santos, os quais, no meu entendimento, ao buscarem prestigiar o espaço e a Geografia nos marcos de um certo marxismo estruturalista (mais explícito no caso de Soja que no de Santos), por meio da defesa de uma “instância” (ou “estrutura”) própria e de “leis próprias” para o espaço, ao lado das “instâncias” econômica, política e ideológica, ou ainda por meio de um paralelismo (que Soja buscou dialetizar) entre uma “esfera social” e uma “esfera espacial”, acabavam concorrendo para justificar, se não um “fetichismo espacial”, ao menos uma separação demasiado cartesiana entre espaço e relações sociais no meu entendimento, um traço positivista que “dialetização” alguma poderia corrigir plenamente. Muito embora Lefebvre tivesse sido alvo de fortes reservas por parte de David Harvey (já em Social Justice and the City, de 1973), o qual sempre viu o filósofo francês como alguém que teria exagerado desmesuradamente a importância da espacialidade, eu me arrisquei a dizer, em “Espaciologia”: Uma objeção, que o tipo de formalização de sabor estruturalista presente em Soja e Santos em fins dos anos 70 e nos anos 80 (vide SANTOS, 1978 e SOJA, 1980) não estava, na realidade, presente em Lefebvre (consulte-se, sobretudo, LEFEBVRE, 1981 [1974]), constituindo, na verdade, uma certa deformação. Dessa forma, em “Espaciologia”: Uma objeção eu levantava ressalvas, simultaneamente, a propósito de Harvey, por haver restringido excessivamente o alcance do poder de condicionamento da espacialidade, e a propósito de Soja e Santos, por terem, no meu entendimento, tornado insuportavelmente rígido o insight de Lefebvre acerca do papel do espaço. Hoje, tendo chegado aos 47 anos, ao lançar um olhar retrospectivo sobre as intenções e ambições daquele jovem mestrando, chego a achar que minha ousadia, por si só, beirou a insolência. No entanto, a despeito de arrojado e um tanto presunçoso em suas críticas, o tom do mencionado texto não feriu a etiqueta acadêmica. Acima de tudo, creio que as ressalvas e os reparos que ali fiz foram, bem ou mal, fundamentados; nenhuma ideia é ali gratuita, e tampouco foi vazada em uma prosa descortês. (8) Seja lá como for, o fato é que ter escrito aquele texto constituiu um episódio marcante na minha trajetória, pois me treinei, de maneira mais sistemática, para meditar sobre questões de natureza teórico-conceitual, sempre cultivando uma saudável contextualização filosófica. O curioso (ou, pelo menos, é assim que vejo, atualmente), é que, apesar da ousadia do empreendimento, as ideias que esposo no artigo e os insights básicos ali contidos, ainda sustento-os todos: o espaço social é afirmado, ali, como uma dimensão da sociedade (e não como uma “estrutura”, um “[sub]sistema” ou uma “instância”, à moda estruturalista e funcionalista em voga nos anos 70 e ainda na década de 80); a sociedade concreta é compreendida como uma totalidade indivisível formada pelo espaço e pelas relações sociais que produzem aquele e lhe dão vida, sendo que a influência do espaço sobre os processos sociais se dá o tempo todo, ainda que com intensidades e mediações variáveis (não sendo, por isso, razoável restringir os condicionamentos do espaço a somente um tipo especial de práticas, as “práticas espaciais”, nas quais a espacialidade é, simplesmente, mais imediata, forte e visivelmente presente ou seja, as “práticas espaciais” possuem, sim, uma especificidade, mas não deixam de ser práticas sociais); a compreensão plena dos vínculos entre espaço e relações sociais exige um olhar multidimensional e não-positivista sobre as últimas, de modo a se considerar com a devida riqueza e sem separações formalistas e hierarquizações apriorísticas as dimensões do poder, da economia e da cultura. Hoje em dia, talvez tudo isso ou parte disso já seja aceito sem restrições por muitos geógrafos. Não era bem assim nos anos 80, e, apesar dos riscos que assumi e dos dissabores que a publicação do artigo me trouxe mal-entendidos, reações corporativistas, e por aí vai... não me arrependi, ao fim e ao cabo, de ter esticado o pescoço tanto assim, mesmo sem ter currículo suficiente para fazer certos comentários e levantar certas objeções com uma autoridade reconhecida como tal pelos pares. Só lamento que o artigo quase não tenha sido debatido na época, e talvez tenha sido punido antes por suas qualidades que por seus defeitos, tendo pago o preço de ser assinado por um iniciante em um país em que o debate científico, claudicante, ainda sofre, em certas áreas de conhecimento, sob o peso esmagador da “cultura da oralidade” (sem contar com o coronelismo acadêmico, fator de obscurantismo), o que dificulta, não raro, que até as obras de profissionais já consagrados sejam devidamente lidas, para não dizer apreciadas. Para a minha felicidade, porém, um punhado de leitores qualificados me deu, com o passar dos anos, estímulo e apoio, a começar pelo colega (e grande incentivador) Carlos Walter Porto Gonçalves, que, conforme tomei conhecimento, costuma, ainda hoje, usar o texto com seus alunos de pós-graduação. Se escrever o texto foi uma coisa muito positiva para mim (publicá-lo, não necessariamente...), o manto de silêncio que cobriu “Espaciologia”: Uma objeção acabou tendo, também ele, um certo efeito benéfico. Aos vinte e poucos anos de idade, eu era um geógrafo com um apetite pantagruelicamente insaciável para a leitura, mas com uma restrita experiência de campo e, mais amplamente falando, de vida, como seria natural e esperável. Do ponto de vista da “extensão” da minha experiência de campo, talvez ela nem fosse tão desprezível assim, pois era, pelo menos, proporcional à minha idade. Tanto a minha monografia de bacharelado envolveu bastante trabalho de campo quanto mesmo a minha dissertação de mestrado, fundamentalmente teórica, não deixou de se alimentar de alguns trabalhos de campo “ancilares” e do meu papel como (aprendiz de) ativista de bairro. (E a isso se somaram os conselhos que recebi de Orlando Valverde acerca de como observar a paisagem para explicá-la, decodificá-la, em vez de lançar sobre ela um olhar “bovino” e resvalar para uma descrição banal.) Mas o ponto crucial é que eu não sabia trabalhar direito em campo; mesmo já formado e em meio ao mestrado, eu não tinha ainda muito traquejo em se tratando de estudo empírico. Não se tratava de desprezo, de jeito nenhum, mas sim de puro e simples despreparo, decorrente da escassez de boas oportunidades. E foi assim que, ao sofrer um certo revés, mais psicológico que real, como “prototeórico”, o rapaz que eu era decidiu que estava mais que na hora de aprender direitinho o que até então não havia aprendido. Seguindo o conselho de Orlando Valverde, optei por doutorar-me na Alemanha, onde poderia conjugar meu interesse pela teoria e pela Filosofia (e qual melhor lugar para beber nas boas fontes filosóficas que a Alemanha?, pensava eu então) com a minha necessidade de iniciar o meu tirocínio como alguém que sabe bem o que fazer também fora das bibliotecas e dos gabinetes de leitura. De certa forma, Gerd Kohlhepp, meu orientador no doutorado, salvou-me da sina de virar um autor “barroco” e hermético, incapaz de compreender e viver os vínculos entre teoria e empiria como uma dialética. Às vezes, confesso, eu titubeei, hesitei e até praguejei, tendo dificuldades, no início de meu doutoramento, de conviver com ensinamentos que, aos meus olhos, não passavam de empirismo. Estando eu certo ou errado, contudo, pelo menos eu soube assimilar tudo o que pude absorver sobre métodos e técnicas de observação e inquérito, amostragem, análise de discurso e coisas que tais. Espremido entre uma “tese” e a sua “antítese”, busquei extrair uma “síntese” que me satisfizesse. Mesmo sem ter sido muito influenciado, em outros terrenos, por meu orientador no doutorado, devo a Gerd Kohlhepp a orientação básica para que eu pudesse adquirir a capacidade de valorizar em profundidade e lidar operacionalmente com o trabalho de campo. (9) Voltando, agora, ao Espaciologia”: Uma objeção, cabe ainda dizer que as incompletudes e imperfeições do texto (por exemplo, o fato de que eu ainda amarrava excessivamente o conceito de espaço social à sua materialidade) não me impedem, mais de vinte anos depois, de vislumbrar ali um conjunto de intuições e interpretações basicamente corretas (em parte datadas, mas em parte ainda atuais), em que pese a necessidade de correções, ampliações e, claro, aprofundamentos. Procedi, em trabalhos posteriores (textos da revista Território, capítulos do livro A prisão e a ágora [A6], e assim segue), a diversas revisões e retificações de minhas ideias de meados dos anos 80 acerca da natureza e do papel da dimensão espacial da sociedade. Uma retomada de fôlego e sistemática desse tema, sob a forma de um livro inteiramente dedicado ao assunto, é algo que ainda estou devendo a mim mesmo. Devo encarregar-me disso em uma obra que, se tudo correr como esperado, deverá vir à luz ainda nesta década, ou, quem sabe, no começo da próxima. O que importa é que não é sensato ter qualquer pressa. Disse certa vez Verdi ao jovem Carlos Gomes, com carinho mas em suave tom de censura, que o grande operista brasileiro estava “começando por onde a maioria termina” (cito de memória, mas garanto o sentido). Da minha parte, e trocando em miúdos, dada a magnitude da tarefa, é conveniente robustecer determinadas linhas de raciocínio e lapidar mais certas formulações. Terão se passado, então, mais de trinta anos desde a publicação de “Espaciologia”: uma objeção – o que parece ser um momento bastante propício para se analisar, com a experiência da maturidade, o quão bem certos insights de juventude resistiram (ou não) ao implacável teste do tempo. Enquanto o momento de um balanço mais ambicioso não chega, contento-me com investimentos limitados (em certos conceitos derivados, como território, “lugar” e paisagem, e na reavaliação sistemática da produção científica e filosófica publicada por outros, desde os anos 80, sobre a importância e o papel da espacialidade) e com refinamentos e mais refinamentos parciais, como os contidos em trabalhos como A6, A11, B1, B10, B15, B16, C10 e C20, além do livro que, no momento, estou elaborando (O espaço no pensamento e na práxis libertários), e sobre o qual discorrei, muito brevemente, mais para o final deste memorial. OS ATIVISMOS URBANOS (E SUA “GEOGRAFICIDADE”) NO MOMENTO DE SUA CRISE A minha dissertação de mestrado versou sobre o ativismo de bairro em um momento (segunda metade da década de 1980) em que, no Rio de Janeiro e em muitas outras cidades brasileiras, eles já haviam iniciado uma trajetória descendente em matéria de capacidade de mobilização, prestígio sociopolítico e visibilidade pública. Isso eu já havia percebido perfeitamente na época, mas essa “decadência” ou “crise” viria a se tornar verdadeiramente patente mais para os fins da década, quando a minha dissertação estava sendo concluída ou já havia sido defendida. Não obstante, tais problemas jamais me sugeriram a conveniência de deixar de lado o tema; pelo contrário: era e ainda é minha convicção que, justamente nos momentos de “crise”, é essencial nos debruçarmos sobre o objeto, para nos interrogarmos sobre as razões dos insucessos e das dificuldades. Essa convicção não derivava somente de um posicionamento de natureza ética (desprezo por um certo oportunismo ou “vampirismo” que leva a que o interesse por um grupo, espaço ou movimento social se restrinja aos “momentos de glória” e de maior exposição midiática), mas também da consciência de que, cientificamente, é ao analisarmos os fracassos e os gargalos que podemos extrair algumas das lições teóricas e políticas mais importantes. À luz disso, minha tese de doutorado (Armut, sozialräumliche Segregation und sozialer Konflikt in der Metropolitanregion von Rio de Janeiro. Ein Beitrag zur Analyse der „Stadtfrage” in Brasilien = Pobreza, segregação sócio-espacial e conflito social na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Uma contribuição para o estudo da “questão urbana” no Brasil [A1]) refletiu um interesse em perscrutar, sistematicamente, os fatores da perda de importância e das dificuldades do ativismo de bairro (ativismo favelado aí incluído) no Brasil. Fi-lo, contudo, dentro de um contexto bem abrangente, que foi o de uma preocupação com a análise da “questão urbana” no Brasil o que me fez, aliás, envolver-me com uma reflexão a respeito do próprio conceito de “questão urbana”, envolto em ambiguidades e marcado por contribuições teoricamente datadas, como o marxismo estruturalista em voga no início dos anos 70 (vide, para começar, o célebre livro de Manuel Castells, La question urbaine). Entendida por mim, em um plano bastante geral e abstrato, como o cadinho de tensões decorrente de uma percepção de certos “problemas urbanos objetivos” (déficit habitacional, segregação residencial, pobreza etc.) não de maneira fatalista ou mística, mas sim como expressões de injustiça social, daí derivando diferentes tipos de conflitos sociais, restava compreender como a “questão urbana” se realizava, concretamente, no Brasil do início da década de 90. Foi nesse momento que percebi que entender vários aspectos da dinâmica da produção do espaço urbano em metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo exigia, muito mais que levar em conta o papel dos ativismos sociais como agentes modeladores do espaço, considerar adequadamente o papel da criminalidade e da criminalidade violenta em especial os efeitos sócio-espaciais do tráfico de drogas de varejo. O prosseguimento desse interesse após o retorno ao Brasil, ao lado de uma retomada da reflexão a propósito dos fatores do ocaso do ativismo de bairro, desembocaram no livro O desafio metropolitano: Um estudo sobre a problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiras (A2), publicado em 2000 e agraciado, no ano seguinte, com o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira no Livro, na categoria Ciências Humanas e Educação. Em O desafio metropolitano, bem como em outros trabalhos, discuti detalhadamente as causas dessa crise, análises essas que tentarei sintetizar nos parágrafos seguintes. Resumindo os argumentos expostos e desenvolvidos por mim em ocasiões anteriores (A2, Cap. 3 da Parte I; A6, Subcapítulo 4.2. da Parte II), há, por trás da crise, alguns fatores que são comuns aos bairros formais e às favelas, e outros que são peculiares às favelas; e há, ademais, alguns fatores que são nitidamente “datados”, ao passo que outros são mais constantes. Comece-se com os fatores da crise do ativismo de bairro da segunda metade da década de 80 que podem ser tidos como mais “datados”. São eles: a crise econômica, a migração de ativistas para partidos políticos de esquerda, a adaptação insuficiente e inadequada à conjuntura pós-regime militar e a decepção com os rumos da conjuntura política nacional após o fim do regime militar. A crise econômica dos anos 80 obrigou muitos trabalhadores a terem mais de um emprego e a fazerem “bicos” para complementar a renda familiar, reduzindo ainda mais o tempo disponível para dedicar-se a atividades não-remuneradas como uma função na diretoria de uma associação de moradores. (Sobre a crise econômica dos anos 80, deve-se ainda dizer que ela, a partir da década seguinte, se transformou, mas não desapareceu: em vez de altas taxas de inflação como o principal fardo para os trabalhadores, altas taxas de desemprego na esteira da “reestruturação produtiva” e da adesão do país às políticas macroeconômicas de inspiração neoliberal.) Quanto à migração de ativistas para partidos políticos de esquerda, a referência é aos militantes que, após a legalização ou criação de partidos de esquerda, nos anos 80, passaram a dedicar-se mais aos partidos e menos aos ativismos, nos quais, em parte por falta de opção, buscaram abrigo e um espaço de atuação durante os anos da “distensão” e “abertura” do regime de 64. O fator adaptação insuficiente e inadequada à conjuntura pós-regime militar remete à circunstância de que a multiplicação de canais participativos formais, a partir da segunda metade dos anos 80, exigiu uma capacidade, que muitas organizações de ativistas não conseguiram desenvolver, de combinar criativamente ações de protesto e auto-organização com diálogo institucional com o Estado. Por fim, a decepção com os rumos da conjuntura política nacional após o fim do regime militar teve a ver com a frustração derivada da morte de Tancredo Neves antes mesmo de sua posse na Presidência da República, e com a mediocridade do regime iniciado em 1985 sob José Sarney. É bem verdade que, se a segunda metade dos anos 80 trouxe o debilitamento do ativismo de bairro, o desemprego e a escassez de moradia, nos anos 90, engendraram, sobretudo nas metrópoles, novos ativismos sociais, às vezes com fôlego de genuínos movimentos, com destaque para o ainda incipiente movimento dos sem-teto. Entretanto, alguns velhos estorvos estão ainda aí, atravancando o caminho. Fatores que, embora tenham tido um peso na crise da “primeira geração” dos “novos ativismos (urbanos)”, representam um risco permanente e uma advertência também para a “segunda geração” que desponta no século XXI. Apenas para destacar alguns: burocratização das organizações; “caciquismo” e personalismo; autoritarismo das administrações municipais e, muitas vezes, os seus esforços de cooptação; a indiferença e o “comodismo” da base social; o “paroquialismo” e o “corporativismo territorial”, a “politofobia”. A burocratização das organizações esteve associada, na virada dos anos 80 para os anos 90, ao problema da adaptação inadequada à conjuntura pós-regime militar, com a tentativa de algumas entidades, normalmente federações, de adotarem um “figurino ONG”, abandonando esforços de mobilização de massas em favor de um papel de discussão e co-implementação de políticas públicas estatais. A burocratização se estabelece quando uma organização de ativistas começa a funcionar como uma “repartição pública”, um apêndice do Estado, e, internamente, seus líderes se comportam como “funcionários” personalistas e “caciques”, afastando-se mais e mais da base social e comprometendo a força social do ativismo. Por falar em “caciques”: “caciquismo” e personalismo dizem respeito ao comportamento autoritário e egocêntrico de não poucos líderes de associações de moradores. Isso, aliás, ajuda a evidenciar as contradições de um ativismo que, mesmo tendo agasalhado práticas genuinamente democráticas, não esteve imune à reprodução, especialmente nas associações de base, da heteronomia predominante na sociedade e simbolizada pelo aparelho de Estado. Com autoritarismo das administrações municipais, de outra parte, se faz referência aos estragos provocados pela postura de não poucas administrações de ignorar os ativismos mais “espontâneos” e buscar esvaziá-los, seja reconhecendo legitimidade apenas nos políticos eleitos e em canais “participativos” oficiais, recusando interlocução com os ativismos, seja buscando “aparelhar” e controlar as entidades associativas. A cooptação de líderes e organizações, de sua parte, é uma postura muitas vezes ainda mais nociva que o autoritarismo, pois, se este pode, às vezes, suscitar resistência, a cooptação desmobiliza e desarma, e até mesmo desmoraliza, com consequências nefastas de longo prazo para a auto-organização da sociedade. Indiferença e “comodismo” da base social são outro problema, muitas vezes bastante relacionado com os anteriores: quando os ativistas “orgânicos” permanecem, durante um período de tempo excessivo, circunscritos a uma pequena minoria, que se renova muito pouco ou nada, dois riscos existem: o de uma “fadiga dos ativistas”, que se cansam de “carregar a organização nas costas”, e o de um estímulo adicional a fenômenos como “caciquismo”, burocratização e cooptação. Quanto ao “paroquialismo” e o “corporativismo territorial”, deve-se dizer, antes de mais nada, que o corporativismo e a mentalidade que o ampara possuem, no Brasil e em outros países do mundo ibérico, uma longa tradição, para além do ambiente sindical. Essa mentalidade incentiva e nutre o “paroquialismo”, ou seja, os horizontes estreitos de exame de um problema e das condições de sua superação (reclamar do “desinteresse” do Estado pela rua, pelo loteamento ou pela favela em que se mora sem enxergar os determinantes mais profundos da tal da “falta de vontade política” e sem perceber a necessidade de articulações de luta em escala que vá além da microlocal), suscitando atitudes de aversão ou desconfiança à participação de indivíduos “estranhos” ao bairro (“bairrismo”) e dificultando parcerias. O espaço, que, como fator de aglutinação, como referência para a mobilização e a organização sociais, não necessariamente atrapalha, acaba, dependendo da predominância de formas ideológicas de se lidar com a territorialidade, sendo um embaraço para que se transcenda a luta de bairro rumo a uma luta a partir do bairro (o tema foi bastante explorado em minha dissertação de mestrado e, em seguida, tangenciado em C2; voltei a ele em A1 e A2, em meio a uma discussão sobre as causas da crise do ativismo de bairro, e, mais tarde, em um contexto bem mais amplo, em A6). Por fim, a “politofobia”, que anda de mãos dadas com o paroquialismo e o corporativismo territorial, não se confunde com o apartidarismo, muitas vezes mais declarado que respeitado pelas associações de moradores ao longo das últimas décadas. Ela tem a ver, isso sim, com uma profunda “despolitização”, passando-se facilmente de uma desconfiança em relação aos políticos profissionais à rejeição pura e simples de temas tidos como “políticos”. No que tange à crise dos ativismos urbanos, porém, o seu lado mais dramático não se encontra ou encontrou nos bairros comuns, da “cidade formal”, mas sim nas favelas. Sobre isso, discorrerei mais à frente, pois, muito embora se trate de tema que comecei a focalizar durante a pesquisa de minha tese de doutorado, e que foi sistematicamente focalizado em O desafio metropolitano. A “MACROTEORIA ABERTA” DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ESPACIAL: PRIMEIROS ESBOÇOS Talvez o título desta seção soe pomposo, mas espero poder tranquilizar o leitor. Retomando o esclarecimento que fiz na Introdução, cabe grifar e repisar o seguinte ponto: não me proponho e jamais me propus a “criar” uma nova macroexplicação para a dinâmica social, “produção do espaço” aí incluída. Como pretendo mostrar, já encontrei os alicerces metateóricos (e também vários elementos propriamente teóricos) em larga medida lançados; e, a bem da verdade, nem mesmo com relação ao restante do edifício tenciono fornecer mais do que alguns tijolos. Para ser franco, vejo o meu papel basicamente como o de alguém que, a partir das necessidades de um pesquisador, “traduz” as contribuições (meta)teóricas mais gerais, que mencionarei a seguir, para o ambiente e as circunstâncias da investigação concreta e sistemática. Não obstante, também não abro mão de propor uma certa retificação do próprio material que encontrei, e precisamente graças à minha dupla condição de geógrafo e de brasileiro: é que o enfoque (meta)teórico que me tem servido de base e inspiração, a despeito de sua extraordinária potência, padece, em sua origem, de dois vícios, a negligência para com o espaço e um indisfarçável eurocentrismo. Porém, antes de entrar nesses assuntos, é conveniente situar o leitor em relação a como tudo isso se foi inserir em minha biografia acadêmica. De um ângulo metateórico (político-filosófico e ético), iniciei o meu processo de afastamento do marxismo com o qual havia travado algum contato antes mesmo de entrar para a universidade já em 1984. Posso dizer que, em 1982, 1983 e boa parte de 1984, eu me considerava um marxista de algum tipo, ainda que heterodoxo: no plano intelectual, me identificava sobretudo com os autores menos dogmáticos do chamado “marxismo ocidental”, como Henri Lefebvre e a Escola de Frankfurt (só vim a descobrir os “renegados” Georg Lukács e Karel Kosik, assim como Edward Thompson e outros tantos, um pouco mais tarde, em meados dos anos 80); no plano prático-político, no entanto, ainda admirava Lenin, e cheguei a ter uma aproximação com o trotskismo e tinha uma boa interlocução com alguns militantes, muito embora não tenha propriamente militado em nenhuma organização. Além disso, “devorei”, durante dois anos e meio ou um pouco mais, boa parte dos clássicos do marxismo, a começar por Marx e Engels. Todavia, uma insatisfação crescente, tanto com aspectos propriamente intelectuais do materialismo histórico, tal como tipicamente entendido (economicismo, teleologismo etc.), quanto com aspectos da prática política do marxismo militante (o stalinismo, esse eu rejeitei de partida, mas também o trotskismo já me parecia, então, problemático), me levaram a ir redefinindo paulatinamente a minha identidade. A leitura sistemática da vida e obra de personagens do anarquismo clássico, iniciada por volta de 1984, não chegou a me empolgar, devido às insuficiências e à falta de densidade teórica da maior parte dos escritos; certos insights, como a denúncia, por Bakunin, do “autoritarismo” marxista, causaram-me, porém, duradoura impressão. Em algum momento de 1984 a ruptura estava completa, mas eu ainda não sabia exatamente o que colocar no lugar. Intuitivamente, eu sabia que, para mim, romper com o marxismo só poderia significar romper com ele “pela esquerda”, e jamais “pela direita”. Onde estava, contudo, a alternativa?... Ficar em uma espécie de “limbo” político-filosófico era uma possibilidade que me atormentava. Conquanto eu tivesse comprado o livro A instituição imaginária da sociedade ainda em fins de 1983, posso dizer que só travei verdadeiramente contato com a obra filosófica de Cornelius Castoriadis cerca de um ano depois. Não tanto por ter achado o livro “difícil”: não foi bem esse o caso, ao menos não com respeito à primeira parte, em que o autor submete o marxismo a uma crítica implacável, e que li sem dificuldades. Para ser sincero, o que houve foi que hesitei em aceitar, de pronto, a rejeição do marxismo ali contida. Uma rejeição fundamentada, mas inquietante; semelhante, em tom, às denúncias e objeções trazidas pelo anarquismo clássico, mas expressa de modo muito mais profundo, complexo e erudito. O efeito inicial da leitura foi atordoante. Por isso, o livro nem chegou a ser lido por inteiro: após o primeiro contato, ficou ele descansando, por muito tempo, em minha estante, não tendo sido novamente tocado por muitos meses. No segundo semestre de 1984, porém, meu espírito estava preparado para apreciar uma mensagem tão desconcertante. A partir daí, todas as contribuições críticas de outros autores relativamente ao marxismo, ou pareceram-me superficiais (quanto aos ataques conservadores, nem sequer os menciono, embora nunca tenha me recusado a ler seus principais autores, como um Raymond Aron ou um Karl Popper, que reputo como leituras obrigatórias), ou, então, se me afiguravam como parciais ou meramente complementares em comparação com a monumental e original obra de Castoriadis (é o caso de autores que, a despeito disso, admiro muitíssimo e se tornaram muito importantes para mim, como E. Thompson, J. Bernardo, M. Foucault, C. Lefort, F. Guattari e outros mais). O projeto de autonomia, tal como discutido por Castoriadis, foi a chave com a qual passei a abrir ou tentar abrir várias portas, por minha conta e risco. O “abrir portas” operou-se, contudo, de modo muito gradual. Hoje, olhando retrospectivamente, penso que o meu trabalho, no que nele há de mais característico, pode ser definido, inicialmente, como a incorporação do legado filosófico de Castoriadis, de acordo as minhas próprias necessidades e as minhas particularidades profissionais e histórico-espaciais (um cientista interessado na dimensão espacial da sociedade, nascido no Brasil em 1963). Por outro lado, desde o começo as minhas pretensões não se restringiam a algo tão passivo como uma pura “incorporação” daquele legado − e não somente porque eu sempre considerei contraditório com uma postura autonomista qualquer tipo de “veneração” acrítica ou “idolatria”, cabendo-me, portanto, usar do direito de discordar ou levantar ressalvas relativamente a Castoriadis sempre que achasse necessário. A questão é que, além disso, por mais que a obra filosófica de Castoriadis iluminasse o meu próprio trabalho, os meus interesses imediatos enquanto geógrafo de formação e pesquisador eram, forçosamente, distintos dos dele. Meu “projeto intelectual” (a expressão soa afetada, eu sei, mas com isso quero referir-me simplesmente aos objetivos de longo prazo de meu trabalho), assim, passava pelo desenvolvimento de uma abordagem não-marxista da mudança sócio-espacial (apesar de dialogar intensamente com autores marxistas fundamentais, como H. Lefebvre, M. Castells, D. Harvey e E. Soja, alguns deles bastante admirados por mim até hoje) (10), refletindo de uma maneira alternativa sobre os vínculos entre relações sociais e espaço. Uma tal empreitada, ainda que buscasse inspiração filosófica em Castoriadis, não poderia com ele dialogar diretamente: uma das principais lacunas da obra do autor greco-francês, como pude constatar desde cedo, é justamente a marginalíssima atenção dada por ele à dimensão espacial da sociedade. Essa tarefa se me apresentava sob medida para um geógrafo. Um diálogo mais maduro com as ideias de Castoriadis, mais exigente e menos restrito a um mero “beber na fonte”, só começou para valer, em todo o caso, na década de 90. No Cap. 3 da Parte I de meu livro A prisão e a ágora: Reflexões sobre a democratização do planejamento e da gestão das cidades (A6) ofereci, pela primeira vez, quase um “inventário” daquilo que, a meu ver, são certas lacunas e deficiências da obra de Castoriadis (sem que isso, no entanto, implicasse ou implique negar a minha enorme dívida e a permanência de minha afinidade essencial com essa obra); refletir sobre essas lacunas e deficiências foi, de toda sorte, algo que foi sendo amadurecido ao longo da década de 90 e do começo da década seguinte. Antes disso, nos anos 80 e até o começo dos 90, eu não estava maduro para nem sequer para começar a enfrentar tais questões. Data também desse período o início da “internalização teórica” da consciência de que as peculiaridades das circunstâncias histórico-geográficas em que um determinado autor escreve (sua língua, sua cultura, as vicissitudes e as potencialidades sociopolíticas de sua época...) não devem ser escamoteadas ou negadas; precisam, na verdade, ser assumidas e refletidas, caso não se queira que a busca de um significado “universal” para o próprio trabalho no campo das ciências sociais se circunscreva, no fundo, a uma imitação ou reprodução servil de ideias elaboradas em outros lugares e tempos, por autores embebidos em culturas e preocupações às vezes muito diferentes. Mas não foi ainda por essa época, e sim somente no decênio seguinte, que descobri e comecei a dar maior atenção a certos autores latino-americanos que iriam me instigar e inspirar, como o brasileiro Darcy Ribeiro (RIBEIRO, 1987 e 1995) no caso deste, uma “redescoberta”, pois já o havia estudado na década anterior , o argentino (radicado nos EUA) Walter Mignolo (MIGNOLO, 2003) e o uruguaio Raúl Zibechi (ZIBECHI, 1999, 2003, 2007 e 2008), profundamente empenhados em refletir sobre as potencialidades, sobre a complexidade e sobre os problemas cultural-identitários (Ribeiro e Mignolo) e sociopolíticos (Zibechi) das sociedades de nosso continente. Não por qualquer espécie de “nacionalismo”, e sempre evitando cometer qualquer tipo de provincianismo teórico-conceitual, posso dizer, de todo modo, que, a partir desse instante, a consciência teórico-metodológica das particularidades de minha situação como pesquisador brasileiro e latino-americano, habitante de um país semiperiférico com características culturais específicas e em parte fascinantes, passou a estar muito mais presente em meu trabalho do que havia estado até então. É esse o momento, pode-se dizer, em que, no que tange à minha formação, sempre exposta a tensões entre vivências locais fortes e indeléveis (especialmente a minha infância e adolescência no Rio de Janeiro) e a experiência de “respirar os ares do mundo” (que começara, na minha imaginação, já com os livros, na década de 70, indo se concretizar com o meu doutorado na Alemanha, entre 1989 e 1993, e depois com experiências variadas em diversos países, na qualidade de pesquisador, professor, conferencista e expositor em congressos), a relação entre o “particular” e o “geral” se torna mais “equilibrada”, com um alimentando e fustigando intensamente o outro para provocar, no frigir dos ovos, a reposição constante da interrogação: “qual é, afinal, o meu papel como cientista?...”. Essa questão, devidamente contextualizada biográfica e histórico-culturalmente, está longe de ser trivial. Para mim, na verdade, ela tem sido motivo de angústia. Ao mesmo tempo em que somos socializados academicamente com base em uma exposição intensa a ideias europeias (e estadunidenses), seja no campo propriamente científico, seja no terreno filosófico, as achegas trazidas por intelectuais não-europeus costumam ser, com raras exceções, e pelo menos no que diz respeito à produção teórica, tacitamente subestimadas, secundarizadas. Mesmo em um país como o Brasil, e mesmo no âmbito do pensamento crítico, o mais comum é acabarmos acreditando que, de fato, o nosso papel é o de consumidores de reflexões de fôlego trazidas de fora, as quais possam nos ajudar a entender melhor a nossa própria realidade e a conduzir as nossas investigações empíricas. Os limites e os riscos de um exagero, quanto a isso, poucas vezes são seriamente discutidos, e até parece que problematizar essa situação teria, necessariamente, algo a ver com provincianismo ou desinteresse pelo diálogo com o Outro (Outro que, diga-se de passagem, quase nunca é um Outro mexicano, sul-africano ou peruano...). No longo prazo, introjeta-se uma imagem que, ao mesmo tempo que conserva uma certa divisão internacional do trabalho acadêmico “naturalizada” pela maioria dos pesquisadores europeus e estadunidenses, solapa a autoestima e aprisiona as potencialidades do pesquisador brasileiro (ou colombiano, chileno etc.). Não é acidental que “teoria” e “teórico” estejam, entre nós, quase que em vias de se consolidar como termos pejorativos ou suspeitos: ou são tomados como expressões de distanciamento da realidade ou, então, são vistos como dizendo respeito a coisas muito pretensiosas, além do nosso alcance. Quanto à tarefa de contribuir um pouco para desenvolver uma abordagem libertária da mudança sócio-espacial, foi também apenas na década de 90 que, perseguindo a trilha entrevista em “Espaciologia”: Uma objeção, comecei a dar corpo a uma abordagem alternativa mais consistente. Essa abordagem, denominei-a “macroteoria aberta” do desenvolvimento sócio-espacial, designando por isso um enfoque basicamente procedural da mudança sócio-espacial, fundado metateoricamente sobre o princípio de autonomia (que constitui, no fundo, quase que o único conteúdo substantivo, histórica e culturalmente falando, desse arcabouço teórico). A rigor, essa “macroteoria aberta” é uma ferramenta para escavar e explorar as possibilidades de pensar os vínculos entre espaço geográfico e relações sociais, dentro de uma perspectiva de mudança para melhor (superação de obstáculos e gargalos), sem recorrer às usuais “muletas” das diversas teorias do desenvolvimento, mormente nos marcos da ideologia capitalista do desenvolvimento econômico: etnocentrismo (eurocentrismo), teleologismo e economicismo. Em vez de buscar definir um conteúdo específico para o “desenvolvimento”, como sói acontecer, a minha intenção tem sido a de propor, discutir e testar princípios e critérios tão abertos (mas também tão coerentes) quanto possível, de maneira que a definição do conteúdo da “mudança para melhor” seja deliberadamente reservado como um direito e uma tarefa dos próprios agentes sociais, e não do analista. Por dizer respeito à complementação de um enfoque metateórico já existente, a abordagem do desenvolvimento sócio-espacial inspirada na Filosofia castoriadiana da autonomia constitui, também ela, uma “macroteoria”, ou, pelo menos, um esboço de “macroteoria”; e, por ser basicamente procedural e não substantiva, pareceu-me merecer o adjetivo “aberta”. Essa opção por um enfoque procedural, sublinhe-se, é, na minha compreensão, a melhor saída para se livrar o debate em torno da mudança social (sócio-espacial) de seu usual ranço etnocêntrico, e, por tabela, igualmente de seus não muito menos usuais vícios do etapismo e do economicismo, que geralmente derivam do olhar eurocêntrico. Esclareça-se, a esta altura, um pouco melhor: de que trata, afinal, o “desenvolvimento sócio-espacial”? Vou me permitir resumir algumas considerações que teci em meu livro A prisão e a ágora (A6). Se se tomar o termo “desenvolvimento”, simplesmente, como um cômodo substituto da fórmula transformação social para melhor, propiciadora de melhor qualidade de vida e maior justiça social, sem presumir ser ela incapaz de ser redefinida em termos não-etnocêntricos, não-teleológicos e não-economicistas, abre-se a seguinte perspectiva diante dos nossos olhos: enquanto houver heteronomia, enquanto houver iniquidades, pobreza e injustiça, enquanto houver relações de rapina ambiental em larga escala (em detrimento de interesses difusos, mas particularmente em detrimento de determinados grupos e em benefício imediato de outros), fará sentido falar em implementar uma mudança para melhor na sociedade, rumo a mais autonomia individual (capacidade individual de decidir com conhecimento de causa e lucidamente, de perseguir a própria felicidade livre de opressão) e coletiva (existência de instituições garantidoras de um acesso realmente igualitário aos processos de tomada de decisão sobre os assuntos de interesse coletivo e autoinstituição lúcida da sociedade, em que o fundamento das “leis” não é metafísico, mas sim a vontade consciente dos homens e mulheres). O projeto de autonomia, tal como descortinado por Cornelius Castoriadis, é, porém, um lastro metateórico, filosófico. Para ser tornado operacional, do ponto de vista da pesquisa e das necessidades de cientistas, e especialmente de geógrafos de formação, a interrogação filosófica que está aí embutida (o que é uma sociedade justa?) precisa ser desdobrada em parâmetros e em indicadores que lastreiem as análises de detalhe e o estudo de situações e processos concretos (de políticas públicas promovidas pelo Estado a dinâmicas de movimentos sociais). (11) O projeto de autonomia consiste em uma “refundação”/reinterpretação radical, por assim dizer, do projeto democrático, buscando inspiração na democracia direta da pólis grega clássica, ainda que sem ignorar-lhe os defeitos (notadamente a ausência de um elemento universalista, evidente diante da escravidão e da não-extensão às mulheres dos direitos de cidadania) e sem clamar, ingenuamente, por uma simples transposição de instituições da Antiguidade para um contexto sócio-espacial contemporâneo. Ao mesmo tempo, no meu entendimento, a discussão sobre a autonomia, no sentido castoriadiano, se inscreve, como eu já disse, na tradição mais ampla do pensamento libertário, atualizando-a. O pensamento autonomista castoriadiano foi edificado no bojo de uma poderosa reflexão crítica tanto sobre o capitalismo e os limites da “democracia” representativa quanto sobre a pseudoalternativa do “socialismo” burocrático, visto como autoritário e, mesmo, tributário do imaginário capitalista em alguns aspectos essenciais. Ainda que a abordagem autonomista possa ser vista, em parte, como uma espécie de “herdeira moral” do anarquismo clássico (essa é a minha interpretação), em sua dupla oposição ao capitalismo e ao “comunismo autoritário”, seria, no entanto, incorreto tê-la na conta de uma simples variante anarquista: divergindo da tradição do anarquismo, redutora contumaz do poder e da política ao Estado, isto é, ao poder e à política estatais, compreende-se que uma sociedade sem poder algum não passa, conforme Castoriadis lembrou (CASTORIADIS, 1983), de uma “ficção incoerente”. Faz-se mister esclarecer que não se trata de erigir a autonomia (que nada tem a ver com “autarquia” ou ensimesmamento econômico, político ou cultural, mas sim com as condições efetivas de exercício da liberdade, em diferentes escalas) em uma nova utopia em estilo racionalista. Não se trata de buscar um “paraíso terreno”, e muito menos de imaginar que a ultrapassagem da heteronomia seja um processo historicamente predeterminado ou inevitável. A autonomia, entendida muito simplificadamente como uma democracia autêntica e radical, é, ao mesmo tempo, um princípio ético-político e um critério de julgamento, e é essa segunda característica que lhe confere um sentido operacional: ou seja, os ganhos efetivos de autonomia são o critério que tenho utilizado no exame da utilidade social de situações e processos concretos, em substituição a critérios implícitos ou explícitos de corte liberal (que tendem a superestimar a liberdade individual, sendo muito fracos ou lenientes a propósito das condições de exercício da liberdade coletiva) ou marxista (que, em certa medida, fazem o inverso, além de serem complacentes, em significativa medida, com o poder heterônomo). Na qualidade de princípio e, principalmente, de critério de julgamento, a “geograficização” da autonomia remete, de imediato, a uma questão de escala: aumentos de autonomia em pequena escala (na esteira, por exemplo, de autossegregação), beneficiando grupos que, economicamente, existem às custas do trabalho e da opressão de outros, é, no fundo, uma autonomia que se alimenta de uma flagrante heteronomia em uma escala mais abrangente constituindo, portanto, uma pseudoautonomia, do ângulo da justiça social. Por fim: a autonomia, mesmo sendo, logicamente, uma meta (que é ou pode vir a ser assumida por vários grupos e movimentos e, hipoteticamente, por sociedades inteiras, dependendo de suas características culturais), não corresponde a um “estágio” alcançável de uma hora para outra. A superação da heteronomia é um processo longo, penoso, aberto à contingência e multifacetado (ganhos de autonomia aqui podem ser neutralizados com retrocessos heterônomos acolá) e não há promessa historicista alguma a assegurar a sua concretização. Como sempre, a história é criação e um processo aberto. E quanto ao “desenvolvimento”? Mesmo sem pressupor ser razoável ou justo impor a “mudança para melhor”, como um valor, às mais diferentes culturas, o fato é que, nas sociedades ocidentais ou fortemente ocidentalizadas, esse valor (assim como a própria autonomia, ao menos como um valor latente) está, indubitavelmente, presente. (12). Hoje, praticamente o mundo todo situado fora das fronteiras do Ocidente (fronteiras essas não inteiramente consensuais), se acha ocidentalizado em alguma medida. A inocência foi perdida, quem sabe até mesmo para os ianomâmis ou pigmeus africanos remanescentes. Porém, a despeito do que induz a pensar a expressão, falar em “(sub)desenvolvimento” não deveria implicar achar que os países ditos “desenvolvidos” são perfeitos ou modelos a serem imitados. Para quase todos os efeitos, a heteronomia verificada em um país central e em um país semiperiférico ou periférico é mais uma questão de grau que de qualidade, por maior e mais chocante que seja a diferença, e o grau de heteronomia interno se correlaciona mal com o poderio econômico e militar. O que mais se assemelha a uma ruptura qualitativa se refere à posição geoeconômica e geopolítica dos países no cenário internacional: a oposição fundamental entre países centrais, de um lado capazes de, historicamente, exportar capital e drenar recursos dos demais países e até protagonizar intervenções militares para defender seus interesses, além de, mais recentemente, externalizar impactos ambientais “exportando entropia” (exportação de lixo químico, biológico ou nuclear, transferência de indústrias altamente poluidoras etc.) países periféricos, de outro. Os países semiperiféricos, a despeito das suas características intermediárias (“potências regionais”, já chamados países “subdesenvolvidos industrializados”), são, a exemplo dos periféricos, e em última análise, entidades subalternas no plano geopolítico e geoeconômico internacional. É bem verdade que, na base de uma mescla de fatores como a pressão de movimentos sociais internos (movimento operário) e, em muitos casos, os benefícios do “imperialismo”, os países centrais criaram condições para mitigar consideravelmente as desigualdades e a heteronomia internas. Contudo, se se entender o desenvolvimento sócio-espacial como um processo de superação de injustiças e conquista de autonomia, processo esse sem fim (término) delimitável, e se, além do mais, e empiricamente, não forem esquecidas as significativas (e, amiúde, crescentes) desigualdades que podem ser atualmente constatadas em muitos países centrais, a começar pelos EUA, então a distinção entre países “subdesenvolvidos” e “desenvolvidos” é, ainda que útil para caracterizar um certo tipo de contraste, muitíssimo pouco rigorosa, e pode acabar prestando um desserviço. Contemplando-se a questão de um modo alternativo em relação às teorizações dos anos 50, 60 e 70 e, em grande medida, também diferentemente do ambíguo terreno do “desenvolvimento sustentável”, muito mais um slogan ideologicamente manipulável que um referencial teórico sólido, “desenvolvimento” não é conquistar “mais do mesmo” no interior do modelo social capitalista, isto é, mais crescimento e modernização tecnológica, mas sim, acima de tudo, enfrentar a heteronomia e conquistar mais e mais autonomia. E isso não pode ser feito sem a consideração complexa e densa da dimensão espacial, em suas várias facetas: como “natureza primeira” (processos naturais); como “natureza segunda” material, transformada pela sociedade em campo de cultivo, estrada, represa hidrelétrica, cidade...; como território, espaço delimitado por e partir de relações de poder; como “lugar” (place) dotado de significado e carga simbólica, espaço vivido em relação ao qual se desenvolvem identidades sócio-espaciais; e assim segue. Por conseguinte, cumpre reescrever a fórmula anteriormente empregada: o que importa não é, sendo rigoroso, uma “transformação social para melhor, propiciadora de melhor qualidade de vida e maior justiça social”, mas sim uma transformação para melhor das relações sociais e do espaço, propiciadora de melhor qualidade de vida e maior justiça social. No passado, as teorias e abordagens do “desenvolvimento”, por vício disciplinar de origem (pois não eram oriundas da Geografia), ou negligenciavam o espaço geográfico, ou valorizavam-no muito parcelarmente, mutilando-o. O espaço era, o mais das vezes, reduzido a um espaço econômico ou, então, visto como “recursos naturais” e “meio ambiente”. (13) A reflexão geográfica sobre a mudança sócio-espacial (isto é, sobre o desenvolvimento) tem como apanágio, portanto, não apenas buscar evitar o economicismo, o etnocentrismo e o teleologismo (etapismo, historicismo), mas, obviamente, também o empenho na afirmação da espacialidade como um aspecto essencial do problema. De maneira mais indireta que direta, a Geografia vem dando, desde o século XIX, contribuições fantásticas para essa empreitada, e tenho procurado recuperar e valorizar essas contribuições. Uma delas, aliás, gostaria de ressaltar, por seu pioneirismo e sua afinidade ética e político-filosófica com o meu próprio trabalho: o projeto de Élisée Reclus, e especialmente do Reclus de L’Homme et la Terre (RECLUS, 1905-1908), de investigar a dialética entre uma natureza que condiciona a sociedade e uma sociedade que se apropria da natureza (material e simbolicamente: na verdade, a própria “natureza” é sempre uma ideia culturalmente mediada) e, para o bem e para o mal, a transforma. Esse projeto possui, acredito, um brilho ímpar e duradouro. É certo que a crença no “progresso” e o otimismo em relação ao avanço tecnológico, típicos de um autor do século XIX e nele compreensíveis, precisam, hoje, ser temperados, sem que necessariamente nos convertamos em pessimistas; e é lógico que, conceitual, teórica e metodologicamente, não faz mais sentido reproduzir o caminho trilhado por Reclus (o qual, ele próprio, estava sempre em movimento). Mas a ideia do homem como “a natureza tomando consciência de si mesma” (uma de suas muitas frases lapidares), reconsiderada à luz de uma época em que um modo de produção essencialmente antiecológico parece conduzir a humanidade à beira de uma catástrofe sem precedentes, na esteira de processos cada vez mais entrópicos em escala global, é a “deixa” para que os geógrafos refinem e otimizem a colaboração que podem prestar a um repensamento do mundo e suas perspectivas. Sem embargo, a Geografia, apesar de privilegiadamente “vocacionada” para afirmar a importância do espaço como algo que não se restringe a um epifenômeno, e isso nos marcos de um tratamento holístico da espacialidade, se acha enredada em dúvidas que, até certo ponto, a minam e, se não a paralisam, pelo menos a tolhem. Compreender o espaço em suas múltiplas facetas, na esteira de uma concepção da apropriação e produção (econômica, simbólica e política) do espaço geográfico que faça justiça à imensa complexidade que reside na diversidade de fatores, relações e ambientes do espaço da “natureza primeira” (não no sentido de um espaço “intocado”, mas sim de processos geoecológicos), nos vínculos entre as facetas do espaço socialmente produzido (enquanto materialidade social, território, “lugar” etc.) e nos condicionamentos recíprocos entre natureza e sociedade, contudo, exige que se medite sobre o “contrato epistemológico” (por analogia à ideia de “contrato social”) que é inerente à Geografia, em suas relações internas. O “contrato epistemológico” que vigorou na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX, indiscutivelmente envelheceu. Submetidas a pressões por especialização e verticalização do conhecimento, e em uma época em que belas descrições de conjunto já não satisfaziam ao paladar científico, “Geografia Física” e “Geografia Humana” terminaram por, gradativamente, ter dificuldades para investir nos costuramentos horizontais. A isso acresce que, desejosa de ser aceita como um Saber Maior, ao lado de disciplinas nitidamente “nomotéticas” como a Economia ou a Sociologia, a Geografia Humana passou a recusar o hibridismo físico-humano de “ciência da Terra” em favor de um status como ciência social. Em tais circunstâncias, dois processos se foram desenrolando. De um lado, a velha “Geografia Física” no estilo de um Emmanuel de Martonne foi sendo, aos poucos, eclipsada por um conjunto de especialidades cada vez mais autônomas (Geomorfologia, Climatologia...); de outro, a “Geografia Humana”, que de Reclus e Ratzel a Orlando Valverde havia tido como uma de suas características a de estar solidamente assentada sobre uma base de informações trazida pela “Geografia Física”, passou a substituir a valorização do conhecimento de processos naturais pela construção e pelo aprimoramento de uma visão da natureza como algo cultural-simbolicamente construído e socialmente apropriado e, com isso, ganhou-se em senso crítico e visão humanística de conjunto, mas perdeu-se alguma coisa em matéria operacional, o que é uma pena. O potencial do discurso geográfico (e da sinergia teórica, conceitual e metodológica que se pode operar no interior do campo) o convida, o impele e quase que o predestina a jogar luz sobre temas espinhosos, na interface da sociedade com a “natureza”: das escorregadias noções de “sustentabilidade” e “desenvolvimento sustentável” à discussão dos processos de “externalização de custos ambientais” (e “exportação de entropia”) em várias escalas, passando pela “fabricação social” de “desastres naturais”. Faz-se mister, ou mesmo urgente, portanto, reconstruir, em bases novas, o “contrato epistemológico” que dá um rosto próprio à Geografia (conforme está implícito na nota 3), sob pena de, caso se fracasse, vir a Geografia a se tornar um saber cada vez mais apequenado, amesquinhado. Um saber que muitos julgarão supérfluo. Apesar das várias exposições teórico-gerais da abordagem do desenvolvimento sócio-espacial (A3, A6, A11, B1, B5, B15, C8, C10, C11, C12, C13, C18, C19, C20 e C23, entre outros), bem como dos diversos projetos e muitos trabalhos empíricos e análises de temas específicos em que busquei tanto testá-la quanto retroalimentá-la e refiná-la (A2, A6, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B26, B27, C4, C5, C6, C7, C14, C15, C16, C17, C21, C22, C23, C24, C25, C27, C35, C36, C37, C38, D2, D3 e D4, entre outros), muito, muito mesmo ainda resta por fazer. De certo modo, acredito, há anos, que esse é quase que um “projeto de vida”... Socraticamente, quanto mais prossigo investigando, melhor percebo as lacunas que subsistem e a imensidão de coisas para ler, de autores com os quais dialogar, de abordagens para mencionar e de exemplos concretos para tomar contato e estudar. Posso, talvez, repetir as palavras de Riobaldo em Grande sertão: veredas: “[e]u quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa.” Só espero viver o suficiente (e ter energia suficiente) para poder avançar mais, convertendo desconfianças em conhecimento convincente. PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PLANEJAMENTO E NA GESTÃO URBANOS PROMOVIDOS PELO ESTADO: CONHECENDO POR DENTRO E... EXTRAINDO LIÇÕES Pode-se dizer que, durante os anos 80, o meu interesse por “planejamento urbano” e “gestão urbana” era mínimo, quase nulo, e restringia-se a uma crítica e a 34 uma denúncia deles, vistos como expressões de práticas conservadoras ou mesmo reacionárias promovidas pelo Estado capitalista. Muito embora eu viesse acompanhando um pouco as discussões a respeito da “reforma urbana” desde meados daquela década, as quais culminaram com a elaboração da “Emenda Popular da Reforma Urbana”, submetida em 1987 ao Congresso Constituinte, minha mente ainda se achava por demais prisioneira de certos reducionismos e preconceitos, de modo que eu tendia a só valorizar, em matéria de contribuição para mudanças sócio-espaciais na direção de uma redução da heteronomia, as práticas dos movimentos sociais (ainda que elas de maneira alguma fossem encaradas sem um alto grau de exigência e mesmo uma certa dose de ceticismo, conquanto não no estilo em última análise desqualificador do “primeiro Castells”, aquele do La question urbaine). As práticas estatais, por outro lado, eram olhadas, quaisquer que fossem, com absoluta suspeição. Pode-se talvez dizer, a meu favor, que a conjuntura política do período, anterior ao momento que, em 1989, viu nascer experiências muito interessantes (ainda que limitadas e ardilosas...) como o orçamento participativo de Porto Alegre, de fato não era nada estimulante. Seja como for, minha trajetória dos anos 80 me facultou uma poderosa “vacina” contra o “vírus” do reformismo complacente, “imunizando-me” contra a degenerescência um tanto quanto tecnocrática (“tecnocratismo de esquerda”, como venho provocando desde os anos 90) que passou a caracterizar o mainstream do pensamento sobre a “reforma urbana” no Brasil já a partir de fins dos anos 80. Sem embargo, o refluxo e o enfraquecimento dos ativismos urbanos no Brasil, e mais amplamente a mediocridade política e o neoconservadorismo que, em escala global, tornaram-se hegemônicos ao longo da década de 80, me foram estimulando, juntamente com a “redemocratização” no Brasil e as possibilidades institucionais que isso permitiu (criação e multiplicação de instâncias participativas, de políticas públicas de caráter [re]distributivo etc.), a uma reflexão mais ponderada, embora de forma alguma complacente, a propósito do que se poderia (ou deveria) esperar (ou não esperar) do aparelho de Estado. Algo me dizia que, para além das leituras estruturais (planejamento urbano = Estado capitalista = exploração e opressão), em si mesmas um balizamento essencial, havia toda uma complexidade de situações e margens de manobra a explorar. Foi nessa época que “redescobri” a obra tardia de Nicos Poulantzas e sua reflexão sobre o Estado como uma “condensação de uma relação de forças” (POULANTZAS, 1985). Muito embora eu já tivesse rejeitado, desde meados da década de 80, a concepção de Estado do marxismo ortodoxo (que o reduzia a um “comitê executivo da burguesia”), a obra de Castoriadis, que se havia revelado decisivamente útil para mim em tantos outros aspectos, mostrou-se pouco útil no que se refere à tarefa de abraçar uma alternativa simultânea à concepção de Estado do liberalismo (“juiz neutro”, “árbitro pairando acima dos conflitos de classe”) e à visão marxista-leninista tradicional. Com Poulantzas isso foi possível, e uma “integração” do insight de Poulantzas ao arcabouço autonomista me permitiu, desde então, compreender melhor e tirar as devidas consequências, em um plano operacional, que o Estado, embora seja estruturalmente heterônomo (e, portanto tendencialmente sempre conservador), não é um “monólito”, um bloco sem fissuras ou contradições; conjunturas específicas, sob a forma de governos concretos, podem trazer consigo não somente uma potencialidade no que tange a ações diretamente desempenhadas pelo aparelho de Estado e que possam, dialeticamente (ou seja, contraditoriamente), apresentar uma positividade emancipatória, mas também oferecer para os movimentos sociais emancipatórios uma margem de manobra legal e institucional a ser inteligente e convenientemente explorada. Ao mesmo tempo, todavia, não me escapou que, em última análise, o Estado permaneceria sendo, sempre, uma instância de poder heterônoma e perigosa (risco de cooptação, por exemplo)... Explorar as possibilidades oferecidas por políticas públicas, pela legislação formal e por instrumentos com forte potencial (re)distributivo e por esquemas de participação popular o chamado domínio da luta institucional (não-partidária) ao mesmo tempo em que não se deixava de lado a contribuição que os movimentos sociais poderiam oferecer e tinham já oferecido diretamente domínio da ação direta, foi a tarefa que me propus a enfrentar entre fins da década de 90 e meados do decênio seguinte. Esse período teve, por assim dizer, duas “fases”, que refletiram não somente meu maior amadurecimento analítico mas, também, uma estratégia de publicação. Em uma primeira “fase” (que tem como “precursor” um texto por mim publicado já em 1993 nas Actas Latinoamericanas de Varsóvia, sobre as perspectivas e limitações da “reforma urbana” [C3]), o principal produto, o livro Mudar a cidade: Uma introdução crítica ao planejamento e gestão urbanos (A3), publicado em 2002, representou o meu esforço para submeter a escrutínio toda uma experiência acumulada de crítica do planejamento e da gestão promovidos pelo Estado e de desenho e implementação de instrumentos e políticas públicas de tipo “alternativo”, “progressista” e “participativo”. Experiências e instrumentos de planejamento e gestão urbanos participativos de diversos países, mas sobretudo do Brasil (com uma ênfase especial sobre tudo o que se discutira, desde os anos 80 e 90, sob as rubricas “reforma urbana”, “orçamentos participativos” e “novos planos diretores”), foram, nesse livro (mas também em inúmeros artigos, publicados mais ou menos na mesma época: p.ex. B11, B12, C12, C13, C14, C15, D3 e E4), identificados, esquadrinhados e avaliados. Em contraste com o período representado por minha dissertação de mestrado, o livro Mudar a cidade simboliza uma clara valorização, se bem que decididamente cautelosa e antiestadocêntrica, da luta institucional não-partidária (isto é, das possibilidades de aproveitamento de canais participativos institucionais por parte das organizações de ativistas), sob influência da conjuntura favorável que se estendeu da década de 90 (ou já desde fins da década anterior) até o começo da década seguinte. Durante vários anos, do finzinho da década de 90 até meados do decênio seguinte, estudei, sistematicamente, nos marcos de projetos de pesquisa que incluíram trabalhos de campo em cidades tão distintas quanto Porto Alegre e Recife, as potencialidades, limitações e contradições de vários instrumentos de planejamento geralmente tidos como progressistas e de diversas institucionalidades participativas (conselhos gestores, orçamentos participativos etc.), com o fito de formar um juízo mais sólido sobre o assunto. Em uma segunda “fase”, cuja principal expressão é o livro A prisão e a agora (A6), aprofundou-se a discussão dos limites do esquemas de planejamento e gestão urbanos participativos patrocinados pelo aparelho de Estado, ao mesmo tempo em que o papel dos movimentos sociais teve sua análise complementada e refinada em alguns pontos importantes (voltarei a isso mais adiante). Fica mais nítido, nessa segunda “fase”, aquilo que, desde o começo, era a minha principal motivação para submeter a escrutínio os instrumentos, estratégias e rotinas de planejamento e gestão urbanos: explorar a questão das potencialidades, das limitações e dos riscos (por exemplo, dos riscos de cooptação), para os movimentos sociais, do envolvimento com a luta institucional (negociações com e pressões sobre o aparelho de Estado, apoio a canais e instâncias participativos oficiais, acesso a fundos públicos, acompanhamento ativo de processos legislativos e geração de expectativas concernentes ao potencial distributivo de instrumentos e políticas públicas), compreendida como um complemento taticamente conveniente ou necessário (em certas circunstâncias) da ação direta. Devido à grande atenção dedicada, no livro Mudar a cidade, a instrumentos de planejamento e rotinas de gestão a serem implementados pelo Estado (ainda que sob pressão e influência da sociedade civil, bem entendido), esse livro padece de um certo “desequilíbrio”, coisa que já não ocorre com A prisão e a ágora. A CRIMINALIDADE VIOLENTA COMO DESAFIO PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ESPACIAL NAS CIDADES Conforme eu já expliquei anteriormente, meu interesse pela criminalidade violenta, como uma forma de compreender certos aspectos fundamentais da produção do espaço urbano do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras, começou durante a pesquisa de minha tese de doutorado. Esse interesse, conforme também já tive oportunidade de mencionar, teve continuidade logo após o meu retorno ao Brasil. Formalmente, dediquei um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq ao estudo dos efeitos sócio-espacialmente desestruturadores/reestruturadores do tráfico de drogas nas cidades brasileiras, sendo o produto principal dessa atividade de pesquisa o livro O desafio metropolitano. Ao longo da década de 90 investi em uma abordagem e propus um conceito, a que denominei fragmentação do tecido sociopolítico-espacial da cidade, que reunia, em um todo analítico e explicativo integrado, o exame da formação de enclaves territoriais ilegais controlados pelo tráfico de drogas de varejo, a autossegregação em “condomínios exclusivos” e a “decadência” dos espaços públicos. Não se tratava, aí, de atualizar ou renovar as reflexões sobre a segregação residencial no Rio de Janeiro que eu realizara no início dos anos 90, mas de ir além da segregação enquanto conceito e realidade sócio-espacial. Com efeito, a referida fragmentação do tecido sociopolítico-espacial, conquanto se assente sobre a segregação residencial (e sobre vários outros problemas, que exigem, inclusive, a consideração de processos operando em escala global), a ela não se restringe e com ela não se confunde, como venho argumentando em artigos publicados em periódicos, coletâneas e anais de congressos desde os anos 90 e, também, em vários livros. A segregação residencial existe e existiu desde sempre, em qualquer cidade inscrita em uma sociedade de classes, na qual existam assimetrias e desigualdades estruturais. A fragmentação do tecido sociopolítico-espacial, de sua parte, é um fenômeno mais específico, que, por assim dizer, se superpõe a uma segregação já existente e a agrava (ou agrava alguns de seus aspectos, como a estigmatização sócio-espacial). No que toca aos livros relacionados com a temática, a O desafio metropolitano seguiu-se, em 2006, A prisão e a ágora: Reflexões sobre a democratização do planejamento e da gestão das cidades. Este trabalho foi concebido como o primeiro de uma espécie de “trilogia” uma “trilogia” curiosa, não apenas por estar somente na minha cabeça e não ter sido explicitada para o público leitor como intenção do autor, mas também porque, nela, a “síntese” precede a “análise”. Explicando este último ponto: ao mesmo tempo em que A prisão e a ágora deveria retomar, de maneira articulada, minhas preocupações, meu envolvimento profissional e meu engajamento com o planejamento urbano crítico e os movimentos sociais (aquilo que, em grande parte metaforicamente, é representado pela “ágora” do título), o livro também deveria sintetizar os resultados de mais de uma década de pesquisas sobre a violência urbana, a fragmentação do tecido sociopolítico-espacial e a “militarização da questão urbana” (a “prisão” do título, em grande parte, embora não inteiramente, a ser interpretada enquanto metáfora) sendo os dois componentes, a “prisão” e a “ágora”, examinados e discutidos integradamente, um em relação com o outro. Por outro lado, era minha intenção, desde o começo, desdobrar esse livro em dois outros: um que retomasse e aprofundasse algumas questões relativas à “prisão”, isto é, à violência, heteronomia, à fragmentação, à “militarização da questão urbana”; e outro que retomasse e aprofundasse a análise da “ágora”, em particular da espacialidade e do papel dos movimentos sociais urbanos. Fobópole: O medo generalizado e a militarização da questão urbana (A7) foi publicado em 2008 tendo sido um dos dez finalistas do Prêmio Jabuti em 2009, na categoria ciências sociais e constituiu a exploração aprofundada disso que estou chamando de a dimensão da “prisão”, desdobrando e esmiuçando alguns assuntos que já haviam sido focalizadas no A prisão e a ágora. O aprofundamento da reflexão sobre a dimensão da “ágora” (as espacialidades de insurgência e luta por direitos e liberdade, com destaque para aquelas efetivamente caracterizadas por uma dinâmica autogestionária), de sua parte, ficará a cargo de um livro que, no momento, está sendo elaborado (vide a seção “O espaço no pensamento e na práxis libertários”, um pouco mais à frente). Depois da publicação de A prisão e a ágora e Fobópole, passei a concentrar-me, no que respeita ao interesse pela temática da violência e da criminalidade, exclusivamente à interseção desse assunto com o tema da dinâmica e dos desafios dos movimentos sociais (problema já focalizado no Cap. 3 de Fobópole e em vários 38 artigos), do que derivou, sobretudo, o longo artigo Social movements in the face of criminal power, publicado em 2009 na revista City (C21). A crise do ativismo favelado possui as suas especificidades em comparação com a dos bairros formais. Uma das causas da crise dos ativismos favelados no Rio de Janeiro já a partir dos anos 80 e, desde os anos 90, cada vez mais em várias outras cidades, foram e têm sido, ao lado dos efeitos de longo prazo do clientelismo tradicional (o qual é indissociável de um quadro de pobreza, desigualdade e dependência), certos impactos da presença crescente do tráfico de drogas de varejo nas favelas, conforme o autor já fizera notar em trabalho anterior (A2, págs. 167-8; ver, também, A6, A7, B2, B13, B25, B26, C4, C5, C6, C7, C17, C21, C32, C37). Embora seja difícil ter acesso a dados confiáveis, tudo indica que o número de líderes de associações de moradores de favelas mortos ou expulsos por traficantes, por se recusarem a submeter-se, tem sido, no Rio de Janeiro, desde os anos 80, muito grande, e igualmente muito grande parece ser o número daqueles que, diversamente, aceitaram submeter-se ou foram mesmo “fabricados” por traficantes. E o Rio de Janeiro é apenas um exemplo particularmente didático; casos de líderes favelados intimidados ou mortos por traficantes e de (tentativas de) interferência de criminosos em associações de moradores têm sido também reportados a propósito de várias outras cidades brasileiras. A isso se vêm acrescentando, cada vez mais, as intimidações por parte de grupos de extermínio (“milícias”), formados por (ex-)policiais, envolvidos em diferentes tipos de atividades ilegais, a começar pela extorsão de moradores. O problema das interferências dos traficantes de drogas e “milícias” (sem falar na tradicional brutalidade policial) já começou a colocar-se também para a “segunda geração” dos “novos ativismos urbanos”, como o movimento dos sem-teto (vide A7 e C21). Cite-se, a título de exemplo, a expulsão dos militantes da organização Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) da ocupação Anita Garibaldi (uma grande ocupação na periferia de São Paulo, em Guarulhos, iniciada em 2001), em 2004. De nada adiantou os ativistas buscarem “argumentar” com os traficantes e, depois, tentarem enfrentá-los. Até que ponto a ação de criminosos tem o potencial de dificultar o crescimento e a atuação dos movimentos sociais no meio urbano? (14) Para os traficantes de drogas operando no varejo, uma favela e uma ocupação de sem-teto representam possíveis pontos de apoio logístico. (15) É possível imaginar que os movimentos conseguirão, em algumas situações, evitar, com base na astúcia, ser expulsos e desterritorializados (vide A6, a propósito de uma situação desse tipo envolvendo uma ocupação de sem-teto do Rio de Janeiro). É lícito conjecturar, porém, uma tendência de fricções e conflitos. O tráfico de varejo de drogas ilícitas é uma atividade capitalista, embora informal, e os seus agentes são, muitas vezes, oprimidos que oprimem outros oprimidos (A6, pág. 510; A7; C17, pág. 7; C19). Todavia, imaginá-los como “potencialmente revolucionários” (e, por isso, potencialmente aliados das organizações de movimentos sociais) pelo fato de serem, de algum modo, explorados e consumidos pelo sistema como peças descartáveis, seria um caso extremo e quase delirante de raciocínio simplista e mecanicista e de wishful thinking (A7). Por outro lado, os traficantes de varejo são, sim, os “primos pobres” do tráfico de drogas; têm origem quase invariavelmente pobre e em espaços segregados, e são instrumentalizados por todo um conjunto de agentes sociais que engloba de empresários a policiais. Em vez de analisá-los apenas como categoria genérica (“os traficantes de varejo”), cabe lembrar que, no que se refere a essas pessoas, há muitas situações, dos garotos de onze ou doze anos de idade (ou até menos) que geralmente atuam como “olheiros” e “aviõezinhos” até os “donos” que operam a partir de presídios, passando pelos “soldados” (muitas vezes simples adolescentes) e “gerentes”. Diversos cenários podem ser construídos a propósito de como as relações entre ativistas e criminosos podem evoluir nos próximos anos, mas toda cautela é pouca a esse respeito. É bastante realista aceitar que o quadro atual dá margem a vários tipos de pessimismo, mais que a qualquer otimismo significativo. No limite, é possível especular igualmente sobre outra coisa: a militarização da questão urbana, decorrente das respostas estatais à problemática da insegurança pública, não é, também, uma ameaça para qualquer movimento emancipatório?... Medidas legais restritivas e estratégias repressivas adotadas para (e a pretexto de) coibir a ação de criminosos não poderão ser utilizadas para constranger e abafar também movimentos sociais? Não se trata de pura dedução: a história da relação dos movimentos com o aparato policial e penal do Estado sempre mostrou exatamente isso, com intensidade variável ao longo do tempo. No momento, a luta contra o terrorismo a partir dos EUA e da Europa já traz evidências suficientes de uma nova fase do problema. No Brasil, onde a criminalidade ordinária desempenha o papel que, nos países centrais, é cumprido pelo espectro do terrorismo, a fragilidade da “democracia” representativa torna-se evidente em face do caráter “estrutural” e quase ubiquitário da corrupção estatal e o papel ainda largamente tutelar desempenhado pelas Forças Armadas (ZAVERUCHA, 1994:Cap. 3 e 2005) não pode ser ignorado, deve-se ter atenção para com os desdobramentos de longo prazo. A preocupação, no caso, é menos com golpes militares explícitos e clássicos que com um recrudescimento da militarização da questão urbana, que, aliás, já vem se manifestando desde os anos 90 (A2, pág. 98; A6, pág. 491; A7). AUTOGESTÃO E “AUTOPLANEJAMENTO”: UM OLHAR DIFERENTE SOBRE O PLANEJAMENTO E A GESTÃO URBANOS... E SOBRE OS PRÓPRIOS MOVIMENTOS SOCIAIS A dimensão da “ágora”, porém, tal como tratada por mim em diversos capítulos de livros, artigos em periódicos e anais de congressos (como em B19, B21, B26, C12, C18, C23, C24, C25, C27, C33, C34,C35, C36, E16, E17, E18, E19, E20, E33) e, em particular, no livro A prisão e a ágora, merece algumas considerações adicionais. Afinal, se no Mudar a cidade eu havia focalizado mais detidamente a margem de manobra oferecida por um planejamento e uma gestão críticos promovidos pelo próprio Estado (ainda que sem deixar de lado as contribuições oferecidas pelos movimentos sociais diretamente), e se no livro O desafio metropolitano a preocupação com os movimentos sociais aparece sobretudo em seu aspecto “negativo” (vale dizer, análise de uma “crise” e de seus fatores), A prisão e a ágora e outros trabalhos de meados da década refletiram as minhas pesquisas sistemáticas sobre as potencialidades e as conquistas dos movimentos sociais incluindo-se, aí, uma defesa, muito mais aprofundada que aquela oferecida em algumas passagens do Mudar a cidade (como o Cap. 11 da Parte II), da possibilidade de analisar os movimentos sociais e suas organizações também como agentes de planejamento e gestão urbanos. A ideia de que os movimentos sociais e suas organizações podem e devem ser enxergados também como agentes de planejamento e gestão urbanos é, para muitos, simplesmente contraintuitiva, devido ao arraigado preconceito (cujas razões teóricas e causas ideológicas tenho me esforçado para desvendar e explicitar) segundo o qual “planejamento urbano” e “gestão urbana” são atividades desempenhadas exclusivamente pelo aparelho de Estado. Opondo-me a isso, propus, com base em argumentos teórico-conceituais e evidências empíricas, uma expansão do entendimento do que seriam “planejamento urbano” e “gestão urbana”, de modo a englobar também diferentes aspectos das ações de vários movimentos sociais e suas organizações (movimento dos sem-teto no Brasil, piqueteros, asambleas barriales e fábricas recuperadas na Argentina, entre outros). É claro que me preocupei em esclarecer as muitas diferenças entre as práticas de planejamento e gestão realizadas pelos movimentos, de um lado, em comparação com as atividades do Estado, de outro, à luz das óbvias diferenças em matéria de prerrogativas legais (por exemplo, desapropriação de imóveis), de capacidade econômica etc. Entretanto, examinar os movimentos a partir desse ângulo permitiu não só elucidar melhor certas coisas, mas também situar melhor, conceitual e classificatoriamente, o universo do que eu venho chamando, há muitos anos, de planejamento e gestão urbanos críticos: se, em circunstâncias favoráveis, que tendem a ser antes a exceção que a regra, o próprio aparelho de Estado, na qualidade de governos específicos em conjunturas bastante particulares, pode, conforme já argumentei, bancar e promover a implementação de estratégias, políticas públicas, instâncias participativas e instrumentos que representam um avanço em matéria (re)distributiva e, às vezes, até mesmo político-pedagógicas (ampliação de consciência de direitos, “escolas de participação direta” etc.), somente os movimentos sociais podem protagonizar práticas espaciais insurgentes, que questionem a instituição global da sociedade e apontem para a sua superação radical. Com isso, um “planejamento urbano” e uma “gestão urbana” insurgentes, protagonizados pelos próprios movimentos sociais em diversas escalas da gestão dos seus “territórios dissidentes” em escala “nanoterritorial” ou microlocal até suas articulações em rede e ações arquitetadas em escalas supralocais, passaram a ser conceitualmente tratados por mim como um subconjunto do planejamento e da gestão urbanos críticos e, na verdade, como um subconjunto particularmente ousado, o único potencialmente radical. Algumas de minhas contribuições a esse respeito têm obtido repercussão, inclusive, em âmbito internacional: prova disso é que, em 2014, saiu publicada uma tradução para o francês de um texto originalmente publicado em inglês na revista City, da Inglaterra. Providenciada pelos próprios colegas em que saiu publicado o capítulo (intitulado “Ensemble avec l’État, malgré l’État, contre l’État. Les mouvements sociaux, agents d’un urbanisme critique” [B27]) (16), Matthieu Giroud, um dos organizadores da coletânea (ao lado de Cécile Gintrac), não se limitou a fazer uma breve apresentação de meu texto: escreveu uma apresentação de sete páginas sobre o que tem sido o meu trabalho, sob o título “Marcelo Lopes de Souza, l’oeil libertaire d’Amérique latine”. Um reconhecimento desse naipe e desse calibre não pode deixar de ser visto por mim como uma certa compensação por trabalhar, como os demais pesquisadores brasileiros, em condições geralmente subótimas quando não hostis em matéria de infraestrutura e quadro institucional. (Mal sabe a maioria dos colegas europeus e estadunidenses aquilo que, no dia a dia, com frequência enfrentamos...) Voltando às práticas de “planejamento urbano” e “gestão urbana” insurgentes, por fim, havia igualmente que distinguir entre situações distintas do ponto de vista político. Mais especificamente, se tornava necessário explicitar, da maneira mais criteriosa possível, as diferenças entre formas de organização mais “horizontais” e anti-hierárquicas, mais distantes de práticas heterônomas e centralistas, e, de outro lado, formas de organização significativamente “verticais”, embora insurgentes e críticas em face da ordem sócio-espacial capitalista. Tratava-se, mais concretamente, de admitir que, em matéria de “planejamento urbano” e “gestão urbana” insurgentes, nem tudo era (projeto de) autogestão e, por analogia, tampouco “autoplanejamento”. Essas diferenças têm sido sistematicamente estudadas por mim desde meados da década; embora tenham alcançado uma condensação inicial bastante explícita em A prisão e a ágora e em outros trabalhos, somente em um próximo livro, planejado para vir à luz daqui a alguns anos, é que será possível o aprofundamento que julgo ser necessário. Com esse outro livro encerrar-se-á, também, a “trilogia” que mencionei. Antes disso, porém, decidi fazer uma pausa de vários anos, para desincumbir-me de um projeto que acalentava, em segredo, desde os anos 1980: refletir, sistematicamente, sobre as concepções de espaço e as abordagens espaciais ao longo da história do pensamento libertário. É justamente essa a principal temática que me ocupou e ocupa no período que vem desde 2008, e sobre a qual discorrerei, ainda que forçosamente de modo muito sucinto, a seguir. O ESPAÇO NO PENSAMENTO E NA PRÁXIS LIBERTÁRIOS Logo após entregar à editora Bertrand Brasil o meu livro Fobópole, que foi publicado em maio de 2008, passei a dedicar-me ao levantamento sistemático e à leitura ou releitura de material para o meu próximo livro, juntamente com as atividades concernentes ao principal projeto de pesquisa por mim coordenado, o projeto CNPq intitulado Territórios dissidentes: Precarização socioeconômica, movimentos sociais e práticas espaciais insurgentes nas cidades do capitalismo (semi)periférico, conduzido por mim desde 2007. Começava a tomar forma, naquele momento, a obra O espaço no pensamento e na práxis libertários, que se encontra, atualmente, em estágio de redação. A preparação desse livro, porém, foi interrompida em 2011, para que eu pudesse me dedicar à elaboração de um outro, que considerei mais prioritário em termos imediatos, ainda que não tivesse a ver tão diretamente com os meus projetos de pesquisa: trata-se da obra Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial (A11 destinada a estudantes de graduação. Trata-se, como o nome sugere, de uma obra de discussão de conceitos básicos; a motivação para escrevê-la foi a constatação de que vários conceitos importantíssimos ainda não haviam sido sistematicamente explorados em língua portuguesa, ou, então, no caso de outros tantos conceitos, os melhores artigos disponíveis já tinham, em grande parte, dez, quinze ou mais anos desde que foram publicados. Escrita de modo a valer como uma introdução, a obra não deixou, porém, de trazer também muitos resultados de quase três décadas de pesquisas e reflexões pessoais, muito embora a variedade de conceitos ali tratados levasse a que, no caso de alguns deles (como região), a minha contribuição original individual seja diminuta. Como todo manual voltado para iniciantes, a liberdade do autor acaba sendo muito menor que no momento de redigir um ensaio ou artigo que reflita os resultados de suas pesquisas específicas: em uma obra como o livro em questão, somos obrigados a tratar não apenas do que nos agrada ou daquilo com que temos mais afinidade (ou a respeito do que temos mais acúmulo direto), mas sim daquilo que de fato é relevante para os estudantes, de modo a não gerar muitas lacunas ou assimetrias. Uma vez entregue na editora Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial, pude, então, debruçar-me de novo sobre O espaço no pensamento e na práxis libertários. Vem de longa data o meu interesse em refletir sobre a “linhagem libertária” na Geografia, sem restringi-la ao anarquismo clássico e buscando, com efeito, levar em conta as reflexões de neoanarquistas, autonomistas e outros intelectuais antiautoritários, tanto europeus (de Bookchin e Castoriadis a Foucault, Deleuze & Guattari) quanto latino-americanos (como Raúl Zibechi), que, mesmo sem serem geógrafos de formação, refletiram profunda e/ou criativamente sobre o espaço e a espacialidade. Foi somente em 2008, todavia, paralelamente ao projeto Territórios dissidentes (e, até certo ponto, em articulação com ele), que comecei a me organizar para fazer uma longa e minuciosa pesquisa sistemática, que incluísse a leitura (e, em vários casos, releitura) das obras de Élisée Reclus (em que só La Terre, a Nouvelle Gégraphie Universelle e L’Homme et la Terre, juntas, totalizam cerca de vinte e três mil páginas!) e Piotr Kropotkin, assim como de vários outros autores. De lá para cá, transformou-se em convicção a minha intuição de que do exame sistemático e generoso das contribuições teórico-conceituais explícitas e implícitas da “linhagem libertária” poderia resultar uma contribuição à renovação da pesquisa sócio-espacial, bastante em conformidade com as necessidades e urgências de nossa época. Diversos artigos em periódicos e anais de congressos ou divulgados na Internet têm já se beneficiado dos resultados preliminares dessa empreitada (por exemplo, B19, C22, C23, C24, C25, C26, C35, C36, C37, C38, C41, E16, E17, E18, E19 e E20). Um outro marco da publicização de resultados preliminares sobre o tema foi a (co-)organização, em 2013 (juntamente com Richard White, da Sheffield Hallam University; Simon Springer, da University of Victoria; de Collin Wlilliams, da University of Sheffield; de Federico Ferretti, da Universidade de Genebra; de Alexandre Gillet, da Universidade de Genebra; e de Philippe Pelletier, da Universidade de Lyon) do panel (compreendendo três sessões ao longo de um dia inteiro de atividades) Demanding the impossible: transgressing the frontiers of geography through anarchism, parte das atividades da Annual International Conference 2013 da Royal Geographical Society (em parceria com o Institute of British Geographers), realizado em Londres. No momento (dezembro de 2014), posso dizer que, após ter finalizado a parte principal do levantamento de material já no começo de 2010, estão também concluídas a fase das análises básicas a respeito das obras de alguns autores (como Élisée Reclus, Piotr Kropotkin, Murray Bookchin e Cornelius Castoriadis) e uma grande parte da primeira versão do trabalho. Contudo, não tenho tido pressa em terminar a redação: venho me permitindo verdadeiramente degustar as coisas que leio (muitas delas deliciosas, como é o caso de praticamente toda a prosa de um Reclus ou de um Kropotkin ora, como sabiam escrever os antigos!), checando e rechecando fontes, cotejando versões em diferentes línguas, polindo e tornando a polir o estilo, verificando os últimos detalhes. Também tenho aproveitado as estadias de ensino e pesquisa no exterior (como, recentemente, em Madri, entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014) para levantar material adicional em bibliotecas, arquivos e livrarias, e até para realizar entrevistas. Por maior que seja a minha paixão por meu trabalho como um todo, poucas vezes uma tarefa me cativou tanto quanto a longa pesquisa que está na base da redação desse livro. No entanto, decidi não formalizar a pesquisa que está na base de O espaço no pensamento e na práxis libertários, submetendo um projeto a algum órgão de fomento. Isso por várias razões. Em primeiro lugar, porque Territórios dissidentes, que tem como um de seus objetivos propiciar alguns cotejos entre situações nacionais distintas (Brasil, África do Sul e Argentina, principalmente), já é um projeto que exige grande fôlego. E a isso se acrescenta o fato de que, recentemente, estive envolvido (ou passei a estar envolvido) com dois projetos internacionais: de 2011 a 2013 fui o coordenador latino-americano do projeto Solidarity Economy North and South: Energy, Livelihood and the Transition to a Low-Carbon Society, financiado pela British Academy; e desde 2012 (e até 2016) tenho sido membro do Steering Committee do projeto Contested_Cities Contested Spatialities of Urban Neoliberalism. Dialogues between Emerging Spaces of Citizenship in Europe and Latin America, financiado pela União Europeia, que reúne dez universidades de seis países diferentes (Inglaterra, Espanha, Brasil, México, Argentina e Chile), sendo eu o coordenador da equipe brasileira. Em segundo lugar, porque foram exatamente certas observações e constatações que fiz no decorrer da condução do projeto Territórios dissidentes, inclusive com base em trabalhos de campo no Brasil e fora do Brasil, que me levaram a, finalmente, dar início ao sempre protelado esforço de reflexão sistemática sobre o lugar do espaço e da espacialidade na história do pensamento e dos movimentos libertários: mormente a constatação, ou antes confirmação, de que vários movimentos sociais emancipatórios da atualidade possuem tanto uma inequívoca dimensão libertária (autogestionária, “horizontal” etc.) quanto um denso conteúdo de “geograficidade” (organizacional, estratégica e identitariamente). Resolvi, então, que o mais razoável seria cultivar O espaço no pensamento e na práxis libertários como uma espécie de “projeto paralelo”, mas de modo algum menor. A rigor, ainda que Territórios dissidentes implique uma discussão teórica específica e que O espaço no pensamento e na práxis libertários se alimente de muito material empírico, há, entre esses dois esforços, uma relação de complementaridade: Territórios dissidentes se nutre, em grande parte, das reflexões teórico-conceituais que associo mais diretamente a O espaço no pensamento e na práxis libertários, enquanto que este bebe, a todo momento, na fonte de material empírico que é o ambiente mais imediato de Territórios dissidentes. E há, também, diferenças outras, por conta dessas já citadas: a pesquisa que embasa a maior parte de O espaço no pensamento e na práxis libertários é um pouco solitária e artesanal, dependente de uma imensa carga de leitura com a qual eu mesmo preciso lidar (e que prazer tem sido lidar com ela!), ao passo que Territórios dissidentes se beneficia grandemente dos esforços somados de toda uma equipe sob a minha orientação. Aliás, é chegada a hora de fazer um agradecimento dos mais necessários: aos meus colaboradores, sejam orientandos de graduação ou pós-graduação. Eles, juntamente com os muitos parceiros fora da universidade (nos movimentos sociais, sobretudo, mas também em outros ambientes), além de alguns bons amigos e colegas pesquisadores espalhados por quase meia dúzia de países, têm sido o esteio indispensável à realização de pesquisas tão dependentes de trabalho de campo e levantamentos bibliográficos extensos e diversificados. Sem a ajuda desses pesquisadores, bastante jovens na sua quase totalidade, eu certamente não teria obtido muitos dos resultados que logrei obter, desde meados dos anos 1990. Sem a ajuda deles eu seria, seguramente, apenas um pesquisador solitário, (auto)confinado a certas tarefas, e provavelmente mais rabugento do que sou. OS “PRÓXIMOS CAPÍTULOS”: PROVÁVEIS FUTUROS PASSOS EM MINHA TRAJETÓRIA COMO PESQUISADOR Como já mencionei parágrafos atrás, coordeno, desde 2007, o projeto CNPq intitulado Territórios dissidentes: Precarização socioeconômica, movimentos sociais e práticas espaciais insurgentes nas cidades do capitalismo (semi)periférico; e, desde 2012, sou um dos coordenadores do projeto internacional Contested_Cities. É minha intenção publicar, após o término deles, e notadamente do projeto Territórios dissidentes, um livro que dê divulgação aos seus principais resultados. Entretanto, como o referido projeto só termina em 2018, esse livro, que já comecei a projetar, deverá ainda esperar vários anos para vir à luz, muito embora a redação de alguns de seus capítulos já tenha sido esboçada. Diversos artigos em periódicos e anais de congressos, além de alguns capítulos de livros, já têm trazido para o debate acadêmico alguns resultados parciais do que é um projeto ainda em andamento (vide, especialmente, B15, B16, C23, C24, C25, C32, C38, C40, D4, E7, E8, E11, E12, E14, E16, E17, E21, E22, E23; ver, também, o livro que co-organizei, sobre segregação residencial: A8). Provavelmente, contudo, nada será comparável a um livro que forneça uma visão de conjunto e aprofundada. De toda sorte, aquilo que imagino como os meus interesses prioritários pelos próximos cinco ou mesmo dez anos continuará tendo a ver com uma espécie de sinergia derivada da condução simultânea desses dois eixos de pesquisa; um, mais formal, representado pelo projeto CNPq (e pelo projeto da União Europeia); outro, mais informal, simbolizado pelo livro O espaço no pensamento e na práxis libertários. O acúmulo de material empírico e reflexões teóricas, com uma coisa continuamente fertilizando a outra, ainda irá render vários anos de trabalho, com diversos tipos de produtos específicos: livros, capítulos e artigos, cursos e palestras, textos de divulgação, atividades de extensão, e assim sucessivamente. Em sua essência, o que pretendo realizar, durante os próximos anos, tem a ver com o aprofundamento e o refinamento, por meio tanto da consolidação de análises já feitas quanto da incorporação de novos temas e novos exemplos empíricos, da abordagem do desenvolvimento sócio-espacial que venho tentando construir. Em especial, um eixo de discussões referente aos aspectos ecogeográficos da problemática deverá ser, na medida do possível, implementado, para além do nível preliminar até agora alcançado. Não, evidentemente, para tornar-me, a esta altura da vida, especialista na matéria, mas sim para incorporar, de modo mais profundo e sistemático, os resultados do conhecimento gerado por colegas que têm dedicado suas carreiras ao estudo das dinâmicas e vulnerabilidades dos ecossistemas, de maneira a robustecer a contextualização (e problematização) de questões concernentes, por exemplo, às vinculações entre segregação residencial e “risco ambiental”, e entre proteção ambiental (e a instrumentalização do discurso a esse respeito) e conflitos pelo uso do solo. Em um patamar de maior abrangência e abstração, cumpre também devotar crescente atenção aos vínculos dos diferentes modos de produção e “estilos de desenvolvimento”, de um lado, com as intensidades de “estresse ambiental” e resiliência ambiental”, por outro, ou ainda às maneiras de integrar TEK (= Traditional Ecological Knowledge) e SEK (= Scientific Ecological Knowledge). (17) Interessantemente, uma das mais importantes fontes de inspiração para esse tipo de ampliação de meus interesses não precisa ser buscada em nenhum lugar remoto: basta recordar o exemplo de Orlando Valverde, “geógrafo clássico” e completo cujo figurino intelectual me parece, quanto a esse tipo de preocupação, cada vez mais atual. Cenários de mais longo prazo que os próximos cinco ou, já um pouco temerariamente, dez anos são demasiado arriscados e, portanto, desaconselháveis. Tenho, todavia, a firme intenção, como já expus antes, de prosseguir burilando e lapidando as reflexões sobre a espacialidade das lutas contra a heteronomia e sobre os vínculos entre mudança social e transformação espacial, nos marcos do enfoque que tenho chamado, desde meados dos anos 1990, de “desenvolvimento sócio-espacial”. No fundo, esse tem sido o fulcro de meu trabalho acadêmico desde os anos 1980, e contra cujo pano de fundo todos os demais esforços podem ser encarados como esforços parciais, de “teste” ou de exemplificação. Tanto quanto posso enxergar (e esperar) agora, esse é o caminho que, se o destino e as circunstâncias assim permitirem, continuarei a trilhar. MARCELO LOPES DE SOUZA, PROFESSOR Dediquei-me, nas seções precedentes, a esquadrinhar e refletir sobre a minha atuação como pesquisador. É bem verdade que o meu trabalho propriamente como professor universitário, isto é, como educador, teve e tem a ver, na sua maior parte, com os resultados de meus esforços como pesquisador: sobretudo em nível de pós-graduação, mas também na graduação, muito do que eu tenho feito tem sido decorrência do conhecimento que amealhei em virtude e ao longo de minha experiência de pesquisa. Não obstante, duas razões se colocam para que um tratamento específico seja dado ao meu papel estritamente como docente: 1) um professor não é, ou pelo menos não deve ser, meramente um “pesquisador que ministra aulas”, mas sim alguém intrinsecamente preocupado com a comunicação de conteúdos aos mais jovens, aos futuros professores e pesquisadores (ou, no caso da pós-graduação, aos pesquisadores em início de carreira); 2) nem tudo o que lecionei teve relação direta com os meus temas preferenciais, muito menos com os temas de meus projetos de pesquisa. De partida, faço a confissão de que, na qualidade de professor, tenho sido constantemente assaltado pela angústia de quem regularmente se interroga sobre a eficácia e o efeito de suas palavras. Não que esse tipo de preocupação esteja ausente de minha labuta como pesquisador; se assim fosse, decerto não seria eu um cientista. Ocorre, porém, que há uma diferença entre, de um lado, fazer trabalho de campo, revirar papéis em um arquivo, coordenar e treinar uma equipe e escrever livros e artigos, e, de outro lado, conviver com um grupo (às vezes bem numeroso) de jovens em uma sala de aula, no contexto formal de uma disciplina. Por quê? Enquanto pesquisador, tenho, evidentemente, sempre que medir as minhas palavras e buscar o rigor; no campo, ao entrevistar pessoas que geralmente não conheço (embora, às vezes, já conheça, o que apresenta dificuldades adicionais), preciso adequar a minha forma de falar e, mesmo sem mentir, não posso me esquecer de ser cuidadoso e diplomático (dependendo do assunto da pesquisa, muitíssimo cuidadoso e diplomático, inclusive por razões de segurança, minha, da equipe e do entrevistado); e, ao lidar com os meus assistentes de pesquisa, não posso me esquecer de que são jovens em busca de orientação, não de sermões, muito menos de reprimendas que podem magoar e desestimular, em vez de estimular. (Uma autocrítica: algumas vezes me esqueci disso, ou me deixei guiar mais por emoções que pela razão. Lembro-me bem e com pesar de várias dessas ocasiões, e tento fazer com que a lembrança sirva de vacina.) Entretanto, ao conviver com orientandos e assistentes, tenho, via de regra, a chance de, após uma palavra inapropriada, um tom de voz desnecessariamente áspero ou uma pequena injustiça de julgamento, corrigir a falha, evitando maior prejuízo. (Felizmente, aliás, naqueles casos em que eu mesmo não me perdoei, tive a impressão de ser perdoado...) Um orientando ou um assistente, por conviver com o pesquisador que o guia por meses e anos, acaba por conhecer, em uma “escala humana”, as virtudes e as falhas deste, comumente aprendendo, por isso, a relevar os pequenos senões do quotidiano. O aluno, em uma sala de aula, não goza, normalmente, do mesmo privilégio. Por mais que se diminua a distância entre docente e discente, e por mais que o professor tenha a consciência de recusar uma “educação bancária” (como diria Paulo Freire, aquela que apenas “deposita conteúdos” nas cabeças dos alunos) e buscar um diálogo mesmo com tudo isso não deixará de existir uma relação menos ou mais formal, em que alguém ministra conteúdos, aconselha, auxilia e... avalia. Ah, as notas! E a função de avaliador permeia, sempre, em maior ou menor grau, a relação professor-aluno. Quem assiste a uma palestra ou conferência tem a plena liberdade de se retirar do recinto, se o conteúdo ou a forma (ou ambos) não lhe agradar; pode, inclusive, sem maiores sobressaltos (embora, na prática, não seja bem assim), desafiar o expositor para um duelo intelectual. No máximo, o expositor pode discordar, até mesmo com ironia ou (lamentavelmente) com grosseria ao que o desafiante pode retrucar no mesmo diapasão, em se apresentando a oportunidade. Quanto ao leitor real ou potencial de um livro ou artigo, ele pode decidir não ler a obra, ou, já tendo lido, vociferar contra a mesma, praguejar contra o autor, jogá-la fora ou (mais produtivo) escrever um competente comentário bibliográfico, para alimentar o debate científico. Já o aluno, na sala de aula, é, em princípio, alguém que, sabendo-se destinado a uma avaliação, terá de conviver com o medo, latente ou manifesto, de não tirar uma boa nota, ou mesmo de ser reprovado. Ao menos em nossas instituições formais, o que se tem é uma relação menos ou mais vertical, menos ou mais hierárquica. Nessas circunstâncias, a margem de manobra para a “parrésia” dos antigos gregos a plena e plenamente corajosa liberdade de expressão face a face tende a ser modesta. Dependendo da “fama de mau” do professor, modestíssima. Minha “fama”, pelo que me consta, não é de “mau”, mas, mais que propriamente ambígua, ela é ambivalente. Isso porque, por um lado, acho que sou conhecido entre os estudantes como exigente e, na opinião de alguns, de “durão” (especialmente, creio, daqueles que não sabem muito bem por que cargas d’água estão matriculados em um curso de Geografia, mesmo já tendo chegado ao último ano). Por outro lado, me permito acreditar, depois de duas décadas de magistério na UFRJ (ao que se acrescenta o ano e meio em que, durante o mestrado, lecionei na PUC-RJ, como professor auxiliar), que os alunos dedicados e sérios, por saberem que nada têm a recear e, imagino, também por desconfiarem que, a despeito do elevado grau de exigência, me esforço ao máximo para não ser injusto, comumente guardam boas lembranças do convívio comigo, inclusive no plano pessoal. Lembro-me bem de que, em algum momento no final dos anos 1990, desabafei com Roberto Lobato Corrêa, com quem na época eu dividia sala, queixando-me de que tinha chegado ao meu conhecimento que uma parte dos alunos me tinha como “muito exigente”, o que era motivo mais de temor do que propriamente de alegria por parte deles. Para mim, sempre tentando viver de acordo com os princípios que animam os meus projetos e escritos, essa imagem incomodava, pois eu desejava ser valorizado, exatamente, por ser exigente, ao mesmo tempo em que fazia de tudo para não exagerar. Recordo-me que Lobato me dirigiu mais ou menos as seguintes palavras: “quer saber de uma coisa? Essa é uma boa fama!” Partindo de quem partiu, essa observação serviu para reduzir enormemente as minhas inquietações. Porém, não as eliminou de todo: continuo, até hoje, me empenhando para que o “muito exigente” de alguns seja, em última instância, nada mais que um “exigente na justa medida”. De toda sorte, nada nos pode servir de álibi para fugir à constante reflexão sobre a postura em sala de aula, nos quesitos comunicabilidade, didática e justiça. Não é por acaso que, com frequência, peço a monitores e estagiários em docência algum tipo de feedback, após uma aula em que não estive seguro de ser plenamente compreendido: “e então, o que você acha? Por que será que fizeram tão poucas perguntas, hoje?! A aula foi chata? Eu peguei muito pesado?” É comum, nessas horas, que meu jovem interlocutor faça críticas à sua própria geração. Independentemente de ele ter razão ou não (e deixando de lado a hipótese de simples bajulação ou falta de sinceridade), diante disso costumo insistir, pois, certamente, há sempre ou quase sempre algo que um professor possa fazer para melhorar seu desempenho. E, à medida que a diferença etária me afasta mais e mais da geração de meus alunos de graduação, esse tipo de preocupação só faz aumentar. “Será que posso usar uma ou outra gíria, ou contar uma anedota, para quebrar o gelo e facilitar a comunicação? Mas, será que essa ainda é uma gíria usada pelos jovens de hoje?”; “será que estou abusando das metáforas?”; “devo forçar um pouco mais a barra?”. Eis perguntas que, a cada semestre e quase a cada aula, me faço. Quanto a isso, aliás, houve época em que eu buscava “a” forma ideal de lecionar. Sem perceber, eu estava sendo positivista, formalista. Hoje sei que podem existir princípios e dicas, mas que, como “cada turma é uma turma”, cabe a mim ser flexível. O geral só é geral porque existe o particular, com todas as suas particularidades. Além de tudo isso, preciso dizer que, com os meus alunos e graças a eles, fui me aprimorando, tornando-me menos rígido, ao mesmo tempo em que busco nunca virar leniente ou “bonzinho” (eu nunca respeitei professores apenas “bonzinhos”, e desconfio de que nenhum aluno, bom ou mesmo não muito bom, respeita). Mas, mais do que isso: várias vezes lucrei muito, também como pesquisador, quando alguém me fazia uma pergunta (ou uma crítica) que me obrigava a refinar um argumento, a atualizar meus dados e minhas informações, a preencher alguma lacuna, a encontrar uma forma de exposição mais persuasiva ou a ser mais claro. Sem querer ser apelativo, posso, honestamente, dizer que, com o passar dos anos, fui constatando o acerto das palavras de Sêneca, “docendo discǐmus”, “ensinando aprendemos”. Não é por acaso que, nos Agradecimentos de meus livros, várias vezes disse “obrigado” não apenas a assistentes, orientados e colegas, mas também aos alunos das turmas que tive os quais, com suas dúvidas, me despertaram novas dúvidas, ajudando a erodir algumas certezas provisórias. Propus e vi serem aprovadas, desde os anos 1990, diversas disciplinas eletivas de graduação. Inicialmente, vieram “Planejamento urbano para geógrafos” e “Tópicos especiais em planejamento urbano”, disciplinas que costumam surpreender aqueles que esperam cursos puramente “técnicos”, e acabam topando com estímulos à reflexão sobre as potencialidades, mas também sobre o contexto econômico, político e cultural, sobre os limites, sobre as contradições e sobre os riscos de instrumentos e leis formais sem contar com o fato de que se espantam por eu inserir discussões sobre um assunto que parece estranho de ali comparecer: o papel dos movimentos sociais. Mais tarde, chegaram “Urbanização brasileira” e “Teoria da urbanização”. Contudo, durante quatorze anos ministrei uma disciplina muito abrangente, obrigatória, que apenas em limitada medida tinha a ver com os meus interesses imediatos como pesquisador: “Geografia Humana do Brasil”. Cobrindo, com um enfoque temático que sempre implicava uma seleção criteriosa, temas que iam das estruturas agrárias e da “questão agrária” ao debate sobre a “reforma urbana”, passando pela espacialidade da industrialização, a (auto[s])segregação residencial nas cidades e a dialética entre problemas sócio-espaciais e “desastres naturais”, entre outros assuntos, essa disciplina representou um certo fardo mas, acima de tudo, quase uma benção. Reforcei, graças a ela, o hábito de estabelecer conexões variadas entre os meus assuntos específicos prediletos (ou temas de pesquisa) e várias outras questões relevantes, cujas interconexões se impunham a um olhar não viciado pelos excessos da especialização. Preciso admitir que levei alguns anos até me achar à altura de uma disciplina tão ampla coisa um tanto amedrontadora quando se tem, como eu tinha ao começar a ministrá-la, pouco mais de trinta anos de idade e não muita experiência de vida. Para falar do Brasil, da “geografia” de um país, conhecimentos advindos da leitura são, para dizer o óbvio, insuficientes. Com o tempo, acho que me tornei um professor algo melhor que sofrível de “Geografia Humana do Brasil”, e terminava uma aula bem satisfeito ao ver que os exemplos, as fotos ou os mapas que obtive em campo ou dando cursos e assessorias pelo Brasil afora surtiam um efeito didático que uma descrição ou uma explicação “de segunda mão” não teriam surtido. Ultimamente, de 2008 (quando deixei, por “fadiga específica” e temendo ficar muito repetitivo, de ministrar a “Geografia Humana do Brasil”) a esta parte, tenho acrescentado à minha experiência docente algumas disciplinas eletivas (que não foram criadas por proposta minha), no estilo “valise” ou “guarda-chuva”, em cujo âmbito trabalho, em cada semestre, com um tema central diferente: “Tópicos especiais em teoria e métodos da Geografia” e “Tópicos especiais em Geografia Política”. “Cidades, guerras e criminalidade”, “Os conceitos básicos da pesquisa sócio-espacial”, “Geografia dos movimentos sociais”, “Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial” e “A Geografia e o pensamento libertário” estão entre os assuntos que já focalizei, na qualidade de temas centrais dessas disciplinas. Na pós-graduação (tanto no mestrado quanto no doutorado), cheguei a ministrar (como, aliás, também na graduação) a disciplina “Metodologia científica”, mas já muito cedo propus a criação de uma disciplina, “Desenvolvimento sócio-espacial”. Esta tem sido ministrada por mim anualmente, mas sempre com um tema central diferente: da análise crítica das “teorias do desenvolvimento” dos anos 1950, 1960, 1970 e 1980 ao pensamento geopolítico a respeito da urbanização (e seus pressupostos e implicações), vários são os temas que abordei desde meados da década de 1990. Um núcleo básico, no entanto, está sempre presente: a reflexão crítica sobre os processos de mudança sócio-espacial e sobre os conceitos e teorias que podem nos ajudar a compreendê-los ou elucidá-los. Ainda na pós-graduação, tenho sistematicamente colaborado, desde a década de 1990, com os Seminários de Doutorado, seja coordenando-os eu mesmo (o que já ocorreu diversas vezes), seja oferecendo alguma palestra a convite algum colega (o que também já aconteceu em várias ocasiões). Também os cursos que ministrei no exterior (em Berlim, em Frankfurt/Oder, na Cidade do México e em Madri), sem contar as minhas experiências de interação direta com alunos de graduação e pós-graduação como conferencista no âmbito de atividades paradidáticas (em Tübingen, Londres, Edimburgo, Buenos Aires, Cidade do México, Joanesburgo e Madri, entre outros lugares), foram extremamente gratificantes. Serviram eles não somente para divulgar a ciência brasileira tentando, no caso de alguns países, colaborar para desafiar a formação eurocêntrica incutida desde cedo nos pesquisadores, mas também para aprender com o comportamento e a mentalidade dos estudantes de outros países e continentes. Não propriamente com satisfação, mas decerto que com interesse pude repetidamente constatar que, ao menos em matéria de motivação, meus alunos brasileiros não estavam atrás dos estudantes de países com uma vida universitária mais consolidada e um nível educacional formal mais elevado. No fundo, perceber (e, até certo ponto, compartilhar) as angústias de moças e rapazes de lugares e culturas tão diferentes tem sido algo que me impele ainda mais a refletir sobre o desafio generalizado que se coloca para as jovens gerações, atualmente amedrontadas, em todos os lugares, pelos fantasmas do desemprego, da precarização no mundo do trabalho, da erosão do welfare state (ou de seus arremedos, como no Brasil) e das medidas de controle sócio-espacial tomadas pelos Estados a pretexto do combate à criminalidade ordinária ou ao terrorismo. ARRISCANDO-ME COMO “ADMINISTRADOR” Independentemente de meus méritos e deméritos enquanto educador, abri mão de pôr a palavra “professor”, no meu caso, entre aspas. Não apenas por eu ser, formalmente, o tempo todo também professor, e não somente pesquisador; mas, igualmente, por me permitir pensar que minha atuação docente corresponde a uma de minhas vocações ou, quando menos, a uma de minhas paixões: a de transmitir conhecimento, comunicar descobertas e participar ativamente da formação dos futuros profissionais. Já o meu papel como administrador universitário, além de humilde e esporádico, provavelmente não corresponde, muito honestamente, a uma das coisas que faço na vida com maior competência. Mas há, aí, uma gradação a ser estabelecida. Se, por um lado, navegar em meio à burocracia (e lidar com as idiossincrasias dos burocratas) não está, definitivamente, entre os meus talentos, participar da formulação de políticas e diretrizes acadêmicas é uma das atividades que desempenho com mais gosto, e sobre a qual venho tentando, há bastante tempo, refletir. Não por acaso, a reforma do atual currículo do curso de bacharelado da UFRJ começou em fins dos anos 1990, quando eu era coordenador da graduação; e, no momento, após ter assumido em outubro de 2014 novamente a coordenação do curso de bacharelado (fui coordenador entre 1997 e 1998), integro e presido o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Departamento de Geografia, que tem como uma de suas missões, justamente, a discussão do currículo. A restrição acima, portanto, não significa que eu descure a atividade administrativa. Em parte, muito pelo contrário. Os problemas e os destinos das universidades e a formulação de políticas e diretrizes (curriculares, por exemplo) são temas que sempre me interessaram e motivaram. Não é à toa que, em meados de 2010, divulguei, para um amplo público, por meio de um sítio na Internet (PassaPalavra), uma série de reflexões intitulada “Universidades: burocratização, mercantilização e mediocridade” (vide E9 e E10). Outro exemplo é que, quando fui coordenador de graduação, em fins dos anos 1990, ajudei a deflagrar um processo de reforma curricular, desafio que sempre me motivou muito, por envolver a discussão do espírito e do futuro da disciplina. (E, no momento, me encontro, novamente, em uma comissão de reforma curricular, composta pelos membros do Núcleo Docente Estruturante.) No entanto, o dia a dia da gestão universitária, em um ambiente nem sempre caracterizado por lhaneza e urbanidade, além de amiúde padecer com a ausência de critérios claros (e, às vezes, com o desinteresse justamente pelo estabelecimento de critério claros) e com o absenteísmo e a desmotivação de alguns agentes fundamentais, exige uma flexibilidade, um sangue-frio e uma capacidade de não se irritar que, confesso, ainda estou procurando conquistar mais completamente. É necessário, mas não é fácil. Em que pese a minha dificuldade em lidar com os problemas supramencionados, não tenho, por obrigação institucional e por dever moral, me furtado a tentar cooperar também nessa seara. Sou e fui, como já mencionei, coordenador do curso de graduação em Geografia (bacharelado), e fui também, em duas ocasiões (1995 a 1996 e 2003 a 2004), vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ (sem contar a participação em comissões diversas). Espero ter acertado mais do que errado. Só posso dizer que cada nova experiência representou um aprendizado adicional, às vezes parcialmente doloroso. E percebi que, diante de circunstâncias muitas vezes bastante adversas (e quem dera que as dificuldades fossem meramente materiais...), tornar-se mais realista sem perder o entusiasmo e sem tornar-se cínico é um constante e magno desafio. ESFORÇOS COMO ORGANIZADOR DE EVENTOS E EDITOR DE PERIÓDICOS Tenho buscado colaborar com a organização de eventos científicos e, como se poderá depreender pelo exame de meu currículo, principalmente com a preparação de eventos temáticos (para algumas dúzias ou, no máximo, algumas poucas centenas de participantes), como o Primeiro Colóquio Território Autônomo (outubro de 2010) Os grandes eventos (muitas centenas ou alguns milhares de participantes) desempenham um papel relevante; por exemplo, na socialização acadêmica de estudantes e no início da carreira de jovens pesquisadores. Cada vez mais, porém, a massificação dos eventos, agravada pelo espírito “produtivista” (multiplicar os papers, às vezes bem repetitivos e pouco ou nada inovadores, com a finalidade de acumular pontos), exige que, se quisermos o aprofundamento de certos debates, teremos de lançar mão de eventos menores, que propiciem uma interação maior entre todos os participantes e invistam no adensamento de discussões específicas. Na verdade, eventos grandes e pequenos se complementam; não se trata de ter de optar por um ou por outro. Em matéria de participações como editor, minhas atividades começaram, de maneira bem artesanal e rudimentar, já com os meus primeiros ensaios na época da graduação, época em que, juntamente com alguns colegas, ajudei a criar duas revistas de vida muitíssimo curta: Geografia & Crítica e Práxis. Constato, com pesar, que não me restou nem sequer um único exemplar dos poucos que chegaram a ser publicados, na primeira metade dos anos 1980. Se os menciono, aqui, é, acima de tudo, por razões sentimentais. Minha primeira incursão “séria” no terreno da editoria de revistas científicas se deu nos anos 1990, já como professor da UFRJ. Foi em meados dos anos 1990 que, juntamente com alguns colegas vinculados ao Laboratório de gestão do Território/LAGET do Departamento de Geografia da UFRJ (inicialmente, Roberto Lobato Corrêa, Bertha Becker e Claudio Egler, aos quais se acrescentaram, mais tarde, dois outros editores, Maurício de Almeida Abreu e Gisela Aquino Pires do Rio), ajudei a criar a revista Território. Essa revista rapidamente se afirmou como uma das melhores da Geografia brasileira na década de 90, tanto pela qualidade dos textos (cuidadosamente avaliados) quanto pela qualidade de impressão e excelência estética. A partir do início da década passada, multiplicaram-se os convites para atuar como consultor científico de diversas revistas brasileiras. Uma, em particular, muito me alegrou: em 2003 tornei-me membro do Conselho Científico da revista Cidades, seguramente um dos mais importantes periódicos no campo dos estudos urbanos no Brasil e na América Latina. Exerci essa função até 2007, quando tornei-me, aí sim, membro da Comissão Editorial da referida revista. Organizei, inclusive, dois números especiais de Cidades (vide A9 e A10). Entre o final da década passada e o início da presente década foi a vez de, após publicar uma apreciável quantidade de artigos e capítulos de livros no exterior (em países tão diversos como Inglaterra, Alemanha, Polônia, Portugal, África do Sul, México, Venezuela e Equador), ser convidado para atuar como consultor permanente (já havia atuado como parecerista esporádico) e, depois, como editor de periódicos também no exterior, publicados em inglês. O primeiro desses convites veio em 2009, quando me tornei membro do International Advisory Board da revista City, publicada na Inglaterra pela editora Routledge, que vem se afirmando como um dos mais criativos e influentes veículos e fóruns de discussão de problemas urbanos no mundo. No ano seguinte recebi o honroso convite para tornar-me Associate Editor da mesma revista, incorporando-me a um rol que já incluía nomes como Manuel Castells e Leonie Sandercock trabalho que, para muito além da preparação de pareceres, inclui a participação na definição da própria linha editorial e do conteúdo temático da revista (temas de dossiês, alterações gráficas e de estrutura, reflexão sobre a “filosofia” e o papel do periódico, e assim segue). Desde 2011, aliás, coordeno, juntamente com Barbara Lipietz, a seção “Forum” daquela revista. Por fim, também em 2010, fui convidado para integrar o Editorial Board da revista Antipode, publicada nos Estados Unidos pela editora John Wiley & Sons (em associação, na Inglaterra, com a editora Blackwell). Muito embora o meu envolvimento quotidiano com a revista City seja bem maior, o convite para cooperar com o grupo que coordena e anima Antipode revestiu-se de um significado muito especial: afinal, trata-se de um periódico pioneiro no âmbito da Geografia crítica, com cujos artigos e debates muito aprendi desde os tempos de estudante de graduação e pós-graduação. APRESENTANDO E COMENTANDO OS TRABALHOS DE COLEGAS Uma das atividades para as quais fui já várias vezes convidado, e à qual não posso me furtar, consiste na difícil porém relevante tarefa de avaliar trabalhos de colegas pesquisadores. Refiro-me, aqui, não a pareceres sobre projetos de pesquisa (coisa que tenho feito regularmente, na qualidade de pesquisador do CNPq), e tampouco aos pareceres que (também regularmente) tenho dado sobre artigos enviados aos mais diferentes periódicos, no Brasil e no exterior. Refiro-me, isso sim, aos comentários que tenho sido convidado a fazer sobre livros de colegas, ora sob a forma de prefácios, ora sob a forma de comentários bibliográficos e resenhas críticas para periódicos nacionais e estrangeiros. Dentre os prefácios, gostaria de destacar três: o texto “Um ‘olhar afrodescendente’ sobre as cidades brasileiras”, escrito para o livro Do quilombo à favela: A produção do “espaço criminalizado” no Rio de Janeiro, de meu ex-orientando de mestrado e doutorado (e hoje professor da Faculdade de Formação de Professores da UERJ) Andrelino de Oliveira Campos (F1); o texto “Mapeando (e refletindo sobre) a criminalidade violenta”, escrito para o Atlas da criminalidade no Espírito Santo, de Cláudio Luiz Zanotelli et al. (F2); e o texto “Às leitoras e aos leitores desassombrados: Sobre o livro Espaço, gênero e masculinidades plurais”, preparado para o livro Espaço, gênero e masculinidades plurais, organizado por Joseli Maria Silva, Márcio José Ornat e Alides Batista Chimin Junior (F3). Os temas são bem diferentes entre si, mas nos três casos senti-me muito honrado por poder dizer algumas palavras sobre publicações que, cada uma ao seu modo, são relevantes científica e socialmente. No caso do livro de Andrelino, trata-se de um estudo sério, derivado de sua dissertação de mestrado, a respeito da origem e evolução das favelas e de sua estigmatização, tomando como exemplo o Rio de Janeiro; o atlas coordenado pelo colega Cláudio Zanotelli, da Universidade Federal do Espírito Santo, é uma contribuição importante para a discussão do tema da (in)segurança pública e, ao mesmo tempo, um marco no envolvimento dos geógrafos de formação com esse assunto, no Brasil; finalmente, o livro organizado pela professora Joseli Maria Silva, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (PR), com a colaboração de dois colegas, é uma das várias contribuições da colega paranaense a propósito das questões de gênero através do prisma da análise sócio-espacial, a que os anglo-saxônicos costumam referir-se como “feminist geography” (tema do qual estou longe de ser um especialista, mas cuja relevância reconheço e tenho volta e meia enfatizado, razão que, aos olhos da referida colega, justificou o convite para que eu apresentasse a obra). Quanto aos comentários bibliográficos e às resenhas, como se pode ver pelo meu c preparei já vários, no Brasil (em 1998, um comentário sobre o livro The Wealth and Poverty of Nations. Why Some are so Rich and Some so Poor, de David Landes, e em 2000 um comentário sobre o número temático da revista Plurimondi intitulado Insurgent Planning Practices, organizada por Leonie Sandercock) e no exterior (em 2010, uma análise, sob o título "The brave new (urban) world of fear and (real or presumed) wars", do livro Cities under Siege: The New Military Urbanism, de Stephen Graham, e em 2011, sob o título "The words and the things", um comentário sobre o livro Seeking Spatial Justice, de Edward Soja). Além de ser o mais recente, o que teve mais conseqüências, sob a forma de uma resposta do autor, foi o comentário bibliográfico “The words and the things”, que publiquei em 2011 na revista inglesa City (C26). E FORA DO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO?... Apesar das críticas e ressalvas que costumo endereçar à instituição universitária (especialmente no Brasil), por suas dificuldades em lidar com as demandas e os desafios que põem à prova a sua capacidade de resposta não raro um tanto emperrada pelas fronteiras disciplinares e pelas corporativismos, pelo burocratismo etc. devo ressalvar que não subestimo a importância que o mundo acadêmico tem e deveria ter ainda mais, como um dos poucos espaços em que é ainda possível o exercício de reflexões e pesquisas de fôlego e, geralmente, sem constrangimentos e interdições de natureza política à livre manifestação de opiniões (como ocorre em órgãos da administração estatal ou no âmbito das empresas privadas). Em tendo a academia como a minha “casa”, qualquer contribuição mais ampla que eu possa oferecer, tenho buscado sempre, acima de tudo, oferecê-la a partir da universidade, e não fora dela. Acho importante ressaltar isso, em um momento em que críticas niilistas e simplistas (às vezes um pouco ingênuas) são volta e meia dirigidas às universidades em geral, indistintamente, inclusive por pessoas ligadas a ela (fazendo cursos de graduação e pós-graduação). No entanto, muitas vezes é imperativo sair da universidade, e é óbvio que não me refiro apenas aos trabalhos de campo. É gratificante, conveniente e mesmo necessário interagir diretamente com os agentes que, explícita ou tacitamente, endereçam demandas à universidade; no meu caso, sem desprezar por completo a colaboração eventual com administrações municipais, o Ministério Público e outras instâncias do Estado (em que, seja dito com todas as letras, aprendi coisas que não aprenderia apenas no âmbito de trabalhos de campo, e muito menos somente sentado em alguma biblioteca), tenho privilegiado a interlocução e a colaboração com organizações da sociedade civil, notadamente de movimentos sociais. Em todos esses casos, trata-se de atingir novas audiências e de conversar com não geógrafos. Para atingir novas audiências e tratar de certos assuntos, vi-me compelido a adotar novas linguagens: a linguagem da divulgação científica, a linguagem do texto de circunstância, a linguagem daquele que concede uma entrevista a um jornalista, a linguagem de quem discute com ativistas, a linguagem de quem dialoga com “operadores do Direito” (promotores etc.), e assim segue. No currículo completo que complementa este memorial pode ser encontrada uma lista de minhas atividades nesse sentido, entre palestras, consultorias e escritos. Gostaria, entretanto, neste momento, de destacar uma delas: os meus livros de divulgação científica, sobretudo o ABC do desenvolvimento urbano (A4) e Planejamento urbano e ativismos sociais (em coautoria com Glauco B. Rodrigues) (A5), bem como os textos de divulgação e de circunstância que tenho, basicamente, disseminado por meio da Internet (ver de E1 a E33). De certa maneira, aqui entram também os textos introdutórios à seção de debates entre ativistas da revista City (seção essa chamada “Fórum”), escritos em coautoria com Barbara Lipietz (vide C29, C30 e C42). Tenho dedicado uma atenção especial à divulgação científica (a popular science dos anglo-saxônicos, a Populärwissenschaft dos alemães). A divulgação científica pode ser exercida, e bem, por jornalistas dotados de sólido embasamento científico, e temos vários exemples felizes disso. Entretanto, sempre acreditei que também cabe aos próprios pesquisadores concorrer para disseminar as suas ideias para além de um público especializado (os pares, os estudantes). Quando publiquei, em 2003, o ABC do desenvolvimento urbano, atualmente em sua quinta edição, preparei um prefácio intitulado “Por que livros de divulgação científica, nas ciências sociais, são tão raros?”. Me intrigava e incomodava que, com a principal exceção da História (ou uma ou outra coisa em outra área, como A era da incerteza, do economista J. K. Galbraith), os assuntos das ciências sociais não costumavam render livros escritos para um público leigo que fizessem um sucesso comparável ao Cosmos, do astrônomo Carl Sagan, ou Uma breve história do tempo, do físico Stephen Hawking. Quando adolescente, minha inclinação para a ciência foi despertada, precisamente, pela leitura dos livros de Sagan, de Isaac Asimov (não me refiro apenas aos de ficção científica, mas sobretudo a O universo), do físico George Gamow (que criou um simpático personagem fictício, com o qual explicava a Teoria da Relatividade para adolescentes!), do matemático Carl Boyer, do astrobiólogo Alexander Oparin, do filósofo e matemático Bertrand Russell, do astrônomo brasileiro Ronaldo Rogério de Freitas Mourão... Nas últimas duas décadas, livros de divulgação científica escritos por cientistas naturais, do biólogo britânico (nascido no Quênia) Richard Dawkins ao físico brasileiro Marcelo Gleiser, passando pelo paleontólogo estadunidense Stephen Jay Gould e o físico-químico russo (radicado na Bélgica) Ilya Prigogine, tornaram-se ainda mais populares do que jamais o foram. Em face disso, sempre me perguntei por que cargas d’água a Geografia, já com tão vasta experiência acumulada com a preparação de livros didáticos, não investia mais decididamente na produção de livros para leigos: afinal, o fascínio pela Geografia é latente entre o público em geral. (Seria o medo de parecer... banal? Um tal temor, quiçá não muito consciente, se existir, é até um pouco compreensível em uma ciência que aspira a um papel sofisticado. Compreensível, mas equivocado. Divulgar não significa trivializar, bagatelizar, hipersimplificar. A dificuldade que os leigos ainda têm de conceber a Geografia, para além de uma disciplina escolar, como uma ciência relevante, não advém do fato de ela fazer parte da experiência educacional de todos! Advém, isso sim, de sua imersão ainda insuficiente no trato autoconfiante e “integrador” de problemas e questões postos pela própria história humana e suas vicissitudes. Mas, para avançar nessa direção, os geógrafos precisarão se lamentar menos e aprender melhor a cooperar uns com os outros, nas condições desafiantes do século XXI.) O exemplo de Élisée Reclus, com a sua monumental Nouvelle Géographie Universelle (RECLUS, 1876-1894) em dezenove volumes (publicados, em fascículos, ao longo de dezoito anos) e repleta de mapas e belíssimas ilustrações, está aí para nos inspirar... Despertar o entusiasmo dos jovens pela Geografia é a forma mais direta de se cultivar as vocações autênticas e fortes das novas gerações de geógrafos. E de mostrar aos não-geógrafos o que a Geografia de fato é e pode ser. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (1): OBRAS DE OUTROS AUTORES CITADAS AO LONGO DO MEMORIAL CASTORIADIS, Cornelius (1975): L’institution imaginaire de la société. Paris: Seuil. ---------- (1978 [1970-1973]): Science moderne et interrogation philosophique. In: Les carrefours du labyrinthe. Paris: Seuil. ---------- (1983 [1979]): Introdução: socialismo e sociedade autônoma. In: Socialismo ou barbárie. O conteúdo do socialismo. São Paulo: Brasiliense. ---------- (1985 [1973]): A questão da história do movimento operário. In: A experiência do movimento operário. São Paulo: Brasiliense. ---------- (1986): La logique des magmas et la question de l’autonomie. In: Domaines de l’homme Les carrefours du labyrinthe II. Paris: Seuil. ---------- (1990): Pouvoir, politique, autonomie. In: Le monde morcelé Les carrefours du labyrinthe III. Paris: Seuil. ---------- (1996): La démocratie comme procédure et comme régime. In: La montée de l’insignifiance Les carrefours du labyrinthe IV. Paris: Seuil. 58 DARDEL, Eric (1990 [1952]): L’homme et la terre. Nature de la réalité géographique. Paris: Editions du CTHS. GONÇALVES, Carlos Walter Porto (1998): Nos varadouros do mundo: da territorialidade seringalista à territorialidade seringueira. Rio de Janeiro: mimeo. [Tese de doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ.] ---------- (2001): Outras Amazônias: As lutas por direitos e a emergência política de outros protagonistas. In: Amazônia, Amazônias. São Paulo: Contexto. LACOSTE, Yves (1988): A Geografia – Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Campinas: Papirus. LEFEBVRE, Henri (1981 [1974]): La production de l’espace. Paris: Anthropos. MIGNOLO, Walter D. (2003 [2000]): Histórias locais/projetos globais. Colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: Editora UFMG. NICHOLLS, Walter J. (2007): The Geographies of Social Movements. Geography Compass, 1(3), pp. 607-22 [Texto colhido na Internet em 9/5/2007: http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1749-8198.2007.00014 POULANTZAS, Nicos (1985 [1978]): O Estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro: Graal. RECLUS, Élisée (1876-1894): Nouvelle Géographie Universelle. La Terre et les Hommes. Paris: Hachette, 19 vols. Há uma reprodução fac-similar disponibilizada na Internet pela Librairie Nationale Française (http://gallica.bnf.fr; o endereço específico varia de acordo com o tomo), mas da qual estão ausentes três volumes (4, 11 e 14). [Uma versão em inglês, publicada em Nova Iorque em 1892 por D. Appleton and Company sob o título The Earth and its Inhabitants, pode ter sua reprodução fac-similar acessada por meio do sítio dos Anarchy Archives; faltam, porém, os dois últimos dos dezenove volumes, justamente os dedicados à América do Sul. Felizmente, entretanto, os três que estão ausentes do sítio da Librairie Nationale Française se acham ali presentes.] ---------- (1905-1908): L’Homme et la Terre. Paris: Librairie Universelle, 6 vols. Reprodução fac-similar disponibilizada na Internet pela Librairie Nationale Française (http://gallica.bnf.fr; o endereço específico varia de acordo com o tomo). 59 RIBEIRO, Darcy (1987 [1978]): Os brasileiros (Livro I: Teoria do Brasil). Petrópolis: Vozes, 9.ª ed. ---------- (1995): O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. SANTOS, Milton (1978): Por uma Geografia nova. São Paulo: HUCITEC. ---------- O espaço dividido. Os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos. Rio de Janeiro: Francisco Alves. SOJA, E. (1980): The Socio-Spatial Dialetic. Annals of the Association of American Geographers, 70 (2), pp. 207-225. VALVERDE, Orlando (1979 [1958]): Apresentação da 1.ª edição. In: WAIBEL, Leo: Capítulos de Geografia Tropical e do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE. ZAVERUCHA, Jorge (2005): FHC, Forças armadas e polícia: Entre o autoritarismo e a democracia (1999-2002). Rio de Janeiro, Record, 2005. ZIBECHI, Raúl (1999): La mirada horizontal. Movimientos sociales y emancipación. Montevidéu: Nordan-Comunidad. ---------- (2003): Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento. Buenos Aires e Montevidéu: Letra libre e Nordan-Comunidad. ---------- (2007): Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ---------- (2008) Territorios en resistencia: Cartografia política de las periferias urbanas latinoamericanas. Buenos Aires: Lavaca. NOTAS 1 A história é comprida, mas vou resumi-la. Atraído pela Geografia Agrária e pela Geopolítica (a ponto de eu, inclusive, buscar até mesmo mesclar conhecimentos desses dois campos, como quando de minhas incipientes reflexões de juventude sobre o papel das colônias agrícolas israelenses na estratégia defensiva do Estado de Israel), comecei, ainda durante o último ano do nível médio, em 1981, a frequentar regularmente a Biblioteca do IBGE, que funcionava por cima livraria da instituição, na Av. Franklin Roosevelt, no Centro do Rio de Janeiro. Lá trabalhava, como bibliotecário, um professor de Geografia, Sr. Nísio, o qual, em dada altura, depois de alguns meses, em face do talvez curioso interesse de um adolescente por aqueles temas (como logo lhe ficou claro, eu não estava indo até lá apenas por força de algum trabalho do colégio, mas sim para passar horas e horas me deliciando com livros de Geografia e outros assuntos, assim como também já fazia, desde alguns anos, na Biblioteca Nacional e na do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), me deu uma dica: o livro Capítulos de Geografia Tropical e do Brasil, de Leo Waibel. Devorei o livro, e fiquei tão tocado pelo prefácio de Orlando Valverde que, daí, para ler o primeiro volume (o único que chegou a ser publicado, por conta do golpe de 1964) do Geografia Agrária do Brasil, do próprio Orlando, além de outros textos dele, foi um pulo. Diante do meu interesse pelo autor, o amável Prof. Nísio me sugeriu que, com sorte, acabaria encontrando com o próprio Orlando por ali, já que ele costumava ir até a biblioteca. Infelizmente, meses se passaram, mas a feliz coincidência não se deu. Impaciente, o adolescente de dezessete anos fez, ao menos dessa vez, um uso construtivo da impetuosidade típica da idade: buscou o endereço no catálogo telefônico e escreveu uma cartinha para o grande geógrafo, expondo-lhe dúvidas e opiniões sobre assuntos diversos, como as distinções entre “Geografia Agrícola”, “Geografia Agrária” e “Geografia Rural”. E não é que Orlando, mesmo ocupadíssimo, respondeu à carta de um secundarista? Mandou-me uma detalhada resposta e, ainda por cima, anexou separatas de trabalhos seus, além de um livro. E ainda deixou uma portinha aberta, para caso eu desejasse voltar a fazer contato. E, obviamente fiz. A partir daí, e até o seu falecimento, em 2006, foi ele, para mim, a principal referência, se não teórica ou temática (como ele dizia, com seu jeito maroto: “você se bandeou para a Geografia Urbana...”), seguramente ética. 2 Uma dessas outras dívidas é para com alguém que, apesar de não ter influenciado diretamente as minhas opções profissionais (temáticas, teóricas ou metodológicas), desempenhou um papel que não poderia ser minimizado por mim, sob pena de incorrer em flagrante ingratidão. Trata-se do geógrafo Jorge Xavier da Silva, de quem fui assistente de pesquisa durante vários anos na UFRJ. Apesar das nossas diferenças de temperamento e inclinações profissionais, além de umas tantas discordâncias a propósito de questões referentes à Geografia, com Jorge Xavier aprendi muita coisa útil, da minha iniciação ao geoprocessamento a certos conteúdos próprios à pesquisa ambiental; talvez não a ponto de lidar com elas com o entusiasmo que ele teria desejado, mas, de todo modo, eu creio que sempre soube valorizar esses conhecimentos, ainda que à minha própria maneira. Para além disso, algumas de nossas polêmicas ou debates acalorados deram ensejo a algumas das conversas mais estimulantes que tive em minha fase de formação: por exemplo, sobre a presença e os efeitos da tecnologia na sociedade contemporânea e o papel do geógrafo quanto a isso. Confesso sentir uma grande saudade desses papos, mas, com o tempo, fui aprendendo que, a propósito das boas lembranças, o mais gostoso é deixá-las ser o que são: lembranças. E uma lembrança das mais essenciais é aquela referente ao apoio que ele várias vezes me deu, sendo que sem um deles, em um momento decisivo, eu provavelmente teria de ter adiado o meu doutorado. Por fim, mas não com menos ênfase, preciso ressaltar que Xavier esteve por perto em alguns dos momentos mais importantes da minha vida, fossem os inesquecivelmente bons (como o almoço com Paulo Freire, na casa deste, em São Paulo, em 1987), fossem os inesquecivelmente ruins (como a perda da minha mãe, em 1995) sendo que, com relação a estes últimos, ele esteve sempre entre os primeiros a oferecer um ombro amigo e palavras de conforto. Hoje em dia, e cada vez mais, percebo o quanto essa dimensão humana transcende qualquer outra coisa. 3 Eis que surge, então, quase inevitavelmente, a dilacerante questão: Geografia ou “Geografias”? Será legítimo falar da Geografia como uma ciência social, apenas? Ou será ela, como sempre insistiram os clássicos, uma “ciência de síntese”, “de contato”, na “charneira” das ciências naturais e humanas, sendo ambas estas coisas ao mesmo tempo? As ideias da “síntese” e da “ciência do concreto”, no sentido tradicional (tal como com quase arrogância e uma certa quase ingenuidade professadas, por exemplo, por Jean Brunhes, que implicitamente colocava a Geografia em um patamar diferente das disciplinas “abstratas”), se acham, há muito, bastante desacreditadas. Outras ciências também praticam sínteses, não apenas análise; e não há ciência que repudie, impunemente, o exercício da construção teórica, fazendo de uma (pseudo)concretude empirista profissão de fé. Em nossa época, com tantas necessidades de aprofundamento, a resposta dos clássicos, muito inspiradora decerto, mas um tanto datada, não mais satisfaz. Entretanto, não teria o legado que compreende o longo arco que vai de um Ritter ou um Reclus, em meados ou na segunda metade do século XIX, até um Orlando Valverde, na segunda metade do século XX, sido amplamente renegado em favor de uma compreensão da Geografia (por parte dos geógrafos humanos pós-radical turn) um pouco exclusivista, ainda que largamente correta e fecunda? Não pretendo “resolver” esse problema secular da “identidade da Geografia”, mas vou propor, aqui, duas analogias, que talvez soem estranhas. Milton Santos, com a sua teoria dos “dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos” (SANTOS, 1979), logrou superar as interpretações dualistas, no estilo “setor moderno”/“setor tradicional”, por meio de uma visão dialética da bipolarização entre dois “circuitos” (“inferior” e “superior”) que, apesar de distintos e volta e meia atritarem entre si, são, sem embargo, em última instância interdependentes. Me arrisco a pensar que seria produtivo ver a Geografia de modo semelhante: em vez de tratá-la dicotômica e dualisticamente (como se fosse realmente razoável “descolar” sociedade e natureza uma da outra, ou como se não se achassem dinâmica, processual e historicamente entrelaçadas de modo complexo), e também em vez de apenas decretar que a Geografia é “social” e que a Geografia Física é uma ilusão ou um anacronismo, não seria uma questão de sensatez, mais até do que se simples “tolerância”, reconhecer que a Geografia é, diferentemente da Sociologia, da Ciência Política ou da História, mas também da Física, da Astronomia ou da Química, epistemologicamente bipolarizada? Dois “polos epistemológicos” se abrigam no interior desse complexo, vasto e heterogêneo campo denominado Geografia: o “polo” do conhecimento sobre a natureza e o “polo” do conhecimento sobre a sociedade. Há geógrafos que fazem sua opção preferencial (identitária) pelo primeiro, o que terá consequências em matéria de formação e treinamento teórico, conceitual e metodológico; e há geógrafos que fazem sua opção preferencial (identitária) pelo segundo, o que também terá consequências em matéria de formação e treinamento teórico, conceitual e metodológico. E ambas as opções são legítimas, assim como legítimo e saudável será aceitar que as especificidades metodológicas, teóricas e conceituais exigem que, para que se possa falar em cooperação (ou, no mínimo, em respeito mútuo), os dois tipos de geógrafos uns, identitariamente herdeiros por excelência da tradição dos grandes geógrafos-naturalistas, e os outros basicamente identificados com a tradição de um estudo da construção do espaço geográfico como “morada do homem”, desembocando mais tarde na análise da produção do espaço pela sociedade possuem interesses e, por isso, treinamentos e olhares diferentes. Em havendo essa compreensão, base de uma convivência produtiva, pode-se chegar, e é desejável que se chegue, ao desenho de problemas (de pesquisa) e à construção de objetos de conhecimento (específicos) que promovam, sem subordinações e sem artificialismo, cooperação e diálogo. Que promovam, pode-se dizer, a unidade na diversidade, sem o sacrifício nem da primeira nem da segunda. Gerar-se-iam, com isso, sinergias extraordinárias, atualizando-se e modernizando-se, sobre os fundamentos de um esforço coletivo, o projeto intelectual de um Élisée Reclus (RECLUS, 1905-1908), e que era o espírito da Geografia clássica (século XIX e primeira metade do século XX) em geral. Para “integrarmos” esforços dessa forma não basta, entretanto, imaginarmos, abstratamente, que o “espaço” ou o “raciocínio espacial”, por si só, já uniria, pois a própria maneira como o “espaço” é construído como objeto há de ser diferente, daí derivando conceitos-chave preferenciais bem diferentes: em um caso, bioma, (geo)ecossistema, nicho ecológico, habitat (natural)... Em outro, território (como espaço político), “lugar” (espaço percebido/vivido), identidades sócio-espaciais, práticas espaciais... Partindo para a minha segunda analogia, poder-se-ia, à luz disso, dizer que a Geografia seria uma “confederação”, devendo abdicar da pretensa homogeneidade ideologicamente postulada pelos ideólogos de um “Estado-nação”. A Geografia é irremediavelmente e estonteantemente plural. Na medida em que os geógrafos “físicos” admitam que a própria ideia de “natureza” é histórica e culturalmente construída e que a “natureza” que lhes interessa não deveria, em diversos níveis, ser entendida em um sentido “laboratorial” e “desumanizado” (no máximo recorrendo a conceitos-obstáculo como “fator antrópico”), e na medida em que os geógrafos “humanos” reconheçam que os conceitos, raciocínios e resultados empíricos da pesquisa ambiental (em sentido estrito) pode lhes muito útil (articulando esses conhecimentos, sejam sobre ilhas de calor, poluição ou riscos de desmoronamentos/deslizamentos, aos seus estudos sobre segregação residencial ou problemas agrários), então deixar-se-á para trás o desconhecimento recíproco para se ingressar em um ciclo virtuoso. Se esse é o cenário mais provável? Tenho, infelizmente, muitas dúvidas. 4 Desenvolvida por uma variedade de autores, com diferenças às vezes sutis em matéria de enfoque, a “Teoria da Regulação” não é um corpo teórico uniforme e inteiriço. Corresponde, muito mais, àquilo que os alemães chamam de Theorieansatz (livremente traduzível como “esboço teórico”), uma construção teórica aberta, aproximativa e heterogênea, típica do universo das ciências sociais e humanas (e diferente dos padrões de “teoria” preconizados pelas ciências naturais). 5 No caso das ciências da natureza, as coisas se passam de modo parcialmente análogo, mas parcialmente bastante diverso. Em primeiro lugar, porque as construções teóricas mais universais (mecânica newtoniana, Teoria da Evolução darwiniana, Teoria da Relatividade etc.) podem até, muitas vezes, acarretar consequências filosóficas e deflagrar debates éticos (o que é muito bem exemplificado pelas querelas que acompanham o darwinismo), mas o peso dos valores, das visões de mundo e dos condicionamentos ideológicos que se amalgamam com as escolhas e se associam intestinamente às argumentações dos pesquisadores não é, de modo algum, comparável ao que se tem nos estudos sobre a sociedade. Em segundo lugar, porque as exigências para que algo seja considerado uma “teoria” costumam ser bem mais rígidas nas ciências naturais, particularmente naquelas mais abstratas, como a Física: uma teoria física deve, por exemplo, possuir grande poder preditivo, sendo capaz de abrir caminho para descobertas empíricas a partir de uma base muito abstrata (como a inferência sobre a existência de um novo planeta apenas pela consideração de peculiaridades nas órbitas de astros próximos, sobre os fundamentos da teoria da gravitação); ao mesmo tempo, o elevado nível de abstração implica que, não raro, uma construção matemática preceda de muitos anos as observações empíricas e os experimentos que possam validá-la em caráter definitivo (como aconteceu, inclusive, com a própria Teoria da Relatividade). No estudo da sociedade, em que o próprio objeto impõe a consideração muito mais séria da contingência e da criação inesperada de novas qualidades, predições tendem a ser muito mais flexíveis e modestas (pautadas em uma criação robusta de cenários tendenciais), caso não se queira correr o risco de sofrer a acusação de ser uma “profecia” ideologicamente embalada. Além das óbvias diferenças na relação sujeito/objeto, no estudo da sociedade praticamente nunca se pode recorrer a experimentos controlados, em contraste com aquilo que é corriqueiro nas ciências da natureza. De todas essas diferenças epistemológicas decorrem diferenças de ordem não apenas teórica (grau de formalização possível ou desejável das teorias), mas também metodológicas. 6 O leitor encontrará, ao final deste memorial, a relação dos meus trabalhos aqui citados, precedidos por uma bibliografia referente às obras dos outros autores que menciono. No caso dos outros autores, empreguei o padrão usual de referenciação bibliográfica, reservando para os meus trabalhos essa forma codificada (“A1”, “B3” etc.), em que o material aparece classificado de acordo com a sua natureza (livro [A], capítulo de livro [B], artigo em periódico [C], trabalho publicado na íntegra em anais de congressos [D] e artigo de divulgação científica [E]). 7 Apesar de terem produzido uma razoável quantidade de estudos empíricos sobre o tema desde os anos 80, os geógrafos de formação têm tido, no terreno da teoria acerca da dimensão espacial dos ativismos e movimentos, uma atuação modesta, o que tem dificultado a percepção de sua produção por parte dos outros cientistas sociais. Isso é, ainda por cima, agravado por certos fatores, como o fato de que, na Geografia Urbana, o interesse pelo assunto tem sido bastante irregular, tendo até mesmo declinado nos anos 90, para ressurgir timidamente na década seguinte (consulte-se, sobre isso, B14). (Interessantemente, no âmbito dos estudos rurais e na interface destes com a reflexão ecológica vários trabalhos dignos de nota têm sido elaborados e publicados no Brasil, com destaque, por sua criatividade, para os estudos de GONÇALVES [1998 e 2001].) Seja lá como for, as lacunas já vêm sendo tematizadas e problematizadas, como, por exemplo, por NICHOLLS (2007). 8 Apesar disso, tomei conhecimento, anos depois, de que um Personagem Influente, insatisfeito com as críticas que eu lhe havia endereçado, externara veemente protesto contra a publicação do trabalho, já que algumas ressalvas a propósito de aspectos de sua obra haviam sido feitas por mim. Felizmente para mim (e espero, que, também, ao menos para alguns leitores), os responsáveis pela revista souberam preservar a dignidade da mesma e rechaçar, diplomaticamente, a objeção, utilizando um argumento singelo: se o texto possuía qualidade acadêmica, então a resposta deveria ser acadêmica; que se permitisse e saudasse um debate público, em vez de interditá-lo, ao se vetar um trabalho cuja publicação havia sido aprovada. Entretanto, jamais houve uma réplica, um único comentário sequer − talvez para não atribuir demasiada importância ao trabalho de um novato petulante. 9 E a ele devo, ainda, mais uma coisa, no âmbito profissional: o gosto pela Cartografia Temática e, sobre essa base, o melhor domínio da linguagem cartográfica. 10 É o caso, em especial, de Edward P. Thompson, Henri Lefebvre, Nicos Poulantzas, Anton Pannekoek, Herbert Marcuse e Raymond Williams, com os quais nunca deixei de dialogar em meus trabalhos. 11 No que concerne ao desenvolvimento sócio-espacial, venho propondo, há muitos anos, o seguinte encadeamento de parâmetros: 1) parâmetro subordinador (escolha de natureza, evidentemente, basicamente metateórica): a própria autonomia, com as duas faces interdependentes da autonomia individual (grau de efetiva liberdade individual) e da autonomia coletiva (grau de autogoverno e de autodeterminação coletiva, na ausência de assimetrias de poder estruturais, e também com os dois níveis distintos da autonomia no plano interno (ausência de opressão no interior de uma dada sociedade) e no plano externo (autodeterminação de uma dada sociedade em face de outras); 2) parâmetros subordinados gerais: justiça social (questões da simetria, da equidade e da igualdade efetiva de oportunidades) e qualidade de vida (referente aos níveis histórica e culturalmente variáveis de satisfação de necessidades materiais e imateriais); 3) parâmetros subordinados particulares: derivados dos gerais, enquanto especificação deles, correspondem aos aspectos concretos (cuja escolha e seleção dependerá da construção de um objeto específico e das circunstâncias em que se der a análise ou julgamento) a serem levados em conta nas análises, tais como (apenas para exemplificar) o nível de segregação residencial, o grau de acessibilidade (acesso socialmente efetivo a recursos espaciais/ambientais) e a consistência participativa de um determinado canal ou instância institucional vinculada ao planejamento ou gestão sócio-espacial. Aproveitando o gancho, a tarefa de construção de indicadores é importante complemento dos esforços de seleção e integração de parâmetros; sobre isso, tenho buscado contribuir, por exemplo, precisamente no que se refere à construção de indicadores de consistência participativa (e, mais recentemente, colaborando para se pensar em indicadores de “horizontalidade”/“verticalidade” de organizações de movimentos sociais, levando-se em conta a dimensão espacial). 12 Falar em “desenvolvimento” (e em “subdesenvolvimento”), aliás, só faz sentido no contexto da ocidentalização que veio na esteira da multissecular expansão do capitalismo, dos séculos XV e XVI à atual globalização: as civilizações pré-colombianas, o Egito dos faraós, a Atenas de Péricles ou o Japão feudal não eram, evidentemente, “subdesenvolvidos”, nem tampouco “desenvolvidos” (“subdesenvolvidos” ou “desenvolvidos” em relação a quê?...). Essas categorias, simplesmente, tornam-se inteiramente desprovidas de toda e qualquer razoabilidade fora do contexto histórico da emergência e da expansão do moderno capitalismo. 13 Em A6 e, já antes disso, em B1, B5, C8 e C10, eu havia discorrido sobre a maneira como o espaço geográfico é tratado (quando é!) nas teorias sobre o desenvolvimento, da teorização mais clássicas sobre o desenvolvimento econômico (de Schumpeter a Rostow e a Hirschman) ao “desenvolvimento sustentável” dos anos 90 em diante, passando pelos enfoques da “redistribuição com crescimento”, da “satisfação de necessidades básicas”, da “dependência” (e do “sistema mundial capitalista” de I. Wallerstein), do “development from below”, do “desenvolvimento endógeno”, do “ecodesenvolvimento” e do “etnodesenvolvimento”. Também tive a oportunidade de considerar o que chamo de críticas “niilistas”, no estilo de um S. Latouche ou de um G. Esteva. Faz-se necessário salientar que, de modo algum, pretendo ou pretendi sugerir que aportes sumamente fecundos ou, pelo menos, interessantes sobre o espaço não tenham sido carreados por, pelo menos, algumas dessas vertentes. Das contribuições perrouxianas a propósitos da regionalização e do “polos de crescimento” à valorização operada por I. Sachs a propósito do ambiente natural (para além do economicismo mais estreito), passando pelos elementos inspiradores que podem ser encontrados nos trabalhos de um Wallerstein, bastante coisa foi e tem sido importante para mim mesmo. O grande problema é que, como expus no corpo do texto, a valorização do espaço, quando existe, é, ao menos aos olhos de um geógrafo, tímida e parcial. E a isso se deve acrescentar que, na minha avaliação, uma valorização realmente holística e plena da dimensão espacial não exige apenas uma formação profissional propiciadora das bases epistemológicas e teórico-conceituais para uma tal valorização, mas igualmente uma disposição filosófica para evitar a tentação de determinar de modo muito amarrado o que seja o conteúdo concreto da “mudança para melhor” (= desenvolvimento). Uma significativa abertura, nesse estilo, é, aliás, o que pode permitir que, para além dos próprios conceitos científicos usuais (espaço e seus derivados: território, “lugar”, paisagem, região...), termos nativos (“pedaço”, “cena” e outros tantos) possam ser peças-chave da análise, em meio a uma consideração séria das vivências espaciais e cosmovisões particulares de cada grupo ou cultura). 14 Não quero sugerir, com isso, de maneira nenhuma, que o problema é desconhecido no campo. De modo algum, e já há, inclusive alguma literatura a respeito. Não obstante, o fato é que ele não possui a mesma visibilidade e a mesma repercussão midiática que nas grandes cidades 15 Esses espaços oferecem-lhes vantagens tais como: 1) sua localização, muitas vezes próxima de bairros de classe média ou, em todo caso, acessível aos consumidores; 2) sua estrutura interna (malha viária labiríntica), em alguns casos também sua topografia (favelas localizadas em encostas), que são dois trunfos que facilitam a defesa do território; 3) o “escudo humano” e a abundância de mão-de-obra barata (e que pode ser facilmente reposta) proporcionados pelas pessoas ali residentes. Em face disso, a territorialidade dos militantes e a territorialidade dos criminosos vão, quase inevitavelmente, atritar entre si. Sobre essas questões, investigadas por mim no contexto de projetos coordenados nos anos 90, discorri em vários trabalhos e livros, entre eles n’O desafio metropolitano e no recente Fobópole (ver, também, B2, B4, B6, B7, B8, B9, C4, C5, C6, C7, C17 e C21). É fácil verificar que todos esses aspectos, além de outros tantos evidenciam a importância da consideração da espacialidade para se compreender os processos em curso e os desafios e dilemas deles derivados. 16 O artigo original é Together with the state, despite the state, against the state: Social movements as ‘critical urban planning’ agents". City, 10(3), pp. 327-342. (C18) 17 Sem embargo, trata-se mais de renovação (ampliada) de um antigo interesse que, propriamente, de um interesse completamente novo da minha parte. Com efeito, um texto de divulgação como o artigo “O lugar das pessoas nas agendas ‘verde’, ‘marrom’ e ‘azul’: Sobre a dimensão geopolítica da política ambiental urbana”, enviado para publicação no sítio Passa Palavra e que deve sair em breve, representa, no fundo, a retomada de um esforço que já havia sido exemplificado, entre outros trabalhos, pelo capítulo “Dos problemas sócio-espaciais à degradação ambiental e de volta aos primeiros”, de meu livro O desafio metropolitano (A2). 18 Estão incluídos somente os trabalhos que foram mencionados no texto. Não se trata de uma lista exaustiva de minhas publicações. Alguns livros e vários outros trabalhos deixaram de ser incluídos, mas constam do currículo completo que se segue a este memorial. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (2): OBRAS DO PRESENTE AUTOR MENCIONADAS AO LONGO DO MEMORIAL (18) A. LIVROS (INCLUI A ORGANIZAÇÃO DE LIVROS E DE NÚMEROS ESPECIAIS DE PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS) (A1) Armut, sozialräumliche segregation und sozialer Konflikt in der Metropolitanregion von Rio de Janeiro. Ein Beitrag zur Analyse der “Stadtfrage” in Brasilien (Pobreza, segregação sócio-espacial e conflito social na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Uma contribuição para a análise da “questão urbana” no Brasil). Tese de Doutorado publicada pelo Selbstverlag des Geographischen Instituts (Editora do Instituto de Geografia) da Universidade de Tübingen, Alemanha (= série Tübinger Geographische Studien, n.° 111), 1993. (A2) O desafio metropolitano. A problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiras. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2000 (2.ª ed.: 2005; 3.ª ed.: 2010; 4.ª ed.: 2012). (A3) Mudar a cidade. Uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, (2.ª ed.: 2003; 3.ª ed.: 2004; 4.ª ed.: 2006; 5.ª ed.: 2008; 6.ª ed.: 2010; 7.ª ed.: 2010; 8.ª ed.: 2011; 9.ª ed.: 2013). (A4) ABC do desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2003 (2.ª ed.: 2005; 3.ª ed.: 2007; 4.ª ed.: 2008; 5.ª ed.: 2010; 6.ª ed.: 2011; 7.ª ed.: 2013). (A5) Planejamento urbano e ativismos sociais (em coautoria com Glauco B. Rodrigues). São Paulo, Editora UNESP, 2004 (2.ª ed.: 2013). (A6) A prisão e a ágora. Reflexões sobre a democratização do planejamento e da gestão das cidades. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2006. (A7) Fobópole. O medo generalizado e a militarização da questão urbana. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2008. (A8) A produção do espaço urbano. Agentes e processos, escalas e desafios (livro organizado juntamente com Ana Fani Alessandri Carlos e Maria Encarnação Beltrão Sposito). São Paulo: Contexto, 2011. [ segundo organizador; ordem alfabética] (A9) Ativismos sociais e espaço urbano, número temático da revista Cidades (vol. 6, n. 9), 2009. [ organizador] (A10) O pensamento e a práxis libertários e a cidade, número temático da revista Cidades (vol. 9, n. 15), 2012. [organizador] (A11) Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. B. CAPÍTULOS DE LIVROS (B1) O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In: CASTRO, Iná E. et al. (orgs.): Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1995. (B2) O tráfico de drogas e a “questão urbana” no Brasil. A dinâmica sócio-espacial nas cidades brasileiras sob a influência do tráfico de tóxicos. In: CASTRO, Iná E. et al. (orgs.): Brasil: questões atuais da reorganização do território. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1996. (B3) Modernização tecnológica, “ordem” e “desordem” nas metrópoles brasileiras. Os desafios e suas escalas. In: CZERNY, M. & KOHLHEPP, G. (orgs.): Reestructuración económica y consecuencias regionales en América Latina. Tübingen, Selbstverlag des Geographischen Instituts (Editora do Instituto de Geografia) da Universidade de Tübingen: Alemanha (= série Tübinger Geographische Studien, n.° 117), 1996. (B4) Exclusão social, fragmentação do tecido sociopolítico-espacial da cidade e “ingovernabilidade urbana”. Ensaio a propósito do desafio de um “desenvolvimento sustentável” nas cidades brasileiras. In: SILVA, José Borzacchiello et al. (orgs.): A cidade e o urbano Temas para debates. Fortaleza, Edições UFC, 1997. (B5) A expulsão do paraíso. O “paradigma da complexidade” e o desenvolvimento sócio-espacial. In: CASTRO, Iná E. et al. (orgs.): Explorações geográficas. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1997. (B6) A “ingovernabilidade” do Rio de Janeiro – algumas páginas sobre conceitos, fatos e preconceitos". In: CASTRO, Iná E. et al. (orgs.): Redescobrindo o Brasil: 500 anos depois. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1999. (B7) Revisitando a crítica ao “mito da marginalidade”. A população favelada do Rio de Janeiro em face do tráfico de drogas. In: ACSELRAD, Gilberta (org.): Avessos do prazer. Drogas, AIDS e direitos humanos. Rio de Janeiro, Editora da Fundação Oswaldo Cruz, 2000. (B8) “Involução metropolitana” e “desmetropolização”: sobre a urbanização brasileira nas décadas de 80 e 90. In: KOHLHEPP, Gerd (org.): Brasil: modernização e globalização. Madri e Frankfurt, Bibliotheca Iberoamericana e Vervuert, 2001. (B9) Da “fragmentação do tecido sociopolítico-espacial” da metrópole à “desmetropolização relativa”: algumas facetas da urbanização brasileira nas décadas de 80 e 90. In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (org.): Urbanização e cidades: perspectivas geográficas. Presidente Prudente, GAsPERR/UNESP, 2001. (B10) Território do Outro, problemática do Mesmo? O princípio da autonomia e a superação da dicotomia universalismo ético versus relativismo cultural. In: ROSENDAHL, Zeny e CORRÊA, Roberto Lobato (orgs.): Religião, identidade e território. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2001. (B11) Alternative urban planning and management in Brazil: Instructive examples for other countries in the South?. In: HARRISON, Philip et al. (orgs.): Confronting Fragmentation. Housing and Urban Development in a Democratising Society. Cidade do Cabo, University of Cape Town Press, 2003. (B12) Problemas da regularização fundiária em favelas territorializadas por traficantes de drogas. In: ALFONSIN, Betânia e FERNANDES, Edésio (orgs.): Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade. Belo Horizonte, Editora Fórum, 2004. (B13) Sozialräumliche Dynamik in brasilianischen Städten unter dem Einfluss des Drogenhandels. Anmerkungen zum Fall Rio de Janeiro [Dinâmica sócio-espacial nas cidades brasileiras sob a influência do tráfico de drogas: Notas sobre o caso do Rio de Janeiro]. In: LANZ, Stephan (org.): City of COOP. Ersatzökonomien und städtische Bewegungen in Rio de Janeiro und Buenos Aires. Berlim, b-books Verlag, 2004. (B14) Ativismos sociais e espaço urbano: um panorama conciso da produção intelectual brasileira. In: OLIVEIRA, Márcio Piñon de et al. (orgs.): O Brasil, a América Latina e o mundo: espacialidades contemporâneas (II). Rio de Janeiro, Lamparina, ANPEGE, CLACSO e FAPERJ, 2008. (B15) “Território” da divergência (e da confusão): Em torno das imprecisas fronteiras de um conceito fundamental. In: SAQUET, Marcos Aurélio e SPOSITO, Eliseu Savério (orgs.): Territórios e territorialidades: Teorias, processos e conflitos. São Paulo e Presidente Prudente, Expressão Popular e Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNESP/Presidente Prudente, 2009. (B16) Práticas espaciais insurgentes em um mundo globalizado: Da “revolução molecular” à política de escalas. In: MENDONÇA, Francisco et al. (orgs.): Espaço e tempo: Complexidade e desafios do pensar e do fazer geográfico. Curitiba, ADEMADAN, 2009. (B17) A cidade, a palavra e o poder: Práticas, imaginários e discursos heterônomos e autônomos na produção do espaço urbano. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri et al. (orgs.): A produção do espaço urbano. Agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2011. (B18) As cidades brasileiras e os movimentos sociais no início do século XXI: sete questões para provocar o debate. In: PEREIRA, Élson Manoel e DIAS, Leila Christina Duarte (orgs.): As cidades e a urbanização no Brasil. Passado, presente e futuro. Florianópolis: Insular, 2011. (B19) Autogestión, ‘autoplaneación’, autonomia: Actualidad y dificultades de las prácticas espaciales libertarias de los movimientos urbanos. In: ARAGÓN, Georgina Calderón e HERNÁNDEZ, Efraín León (orgs.): Descubriendo La espacialidad social desde América Latina: Reflexiones desde La geografía sobre el campo, la ciudad y el medio ambiente (= Cómo pensar la geografía, n.° 3). Cidade do México: Itaca, 2011. (B20) Soziale Bewegungen in Brasilien im urbanen und ländlichen Kontext: Potenziale, Grenzen und Paradoxe. In: de la FONTAINE, Dana e STEHNKEN, Thomas (orgs.): Das politische System Brasiliens. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften (VS Verlag), 2012. (B21) Challenging Heteronomous Power in a Globalized World: Insurgent Spatial Practices, ‘Militant Particularism’, and Multiscalarity. In: KRÄTKE, Stefan et al. (orgs.): Transnationalism and Urbanism. Nova Iorque e Londres: Routledge, 2012. (B22) A geopolítica urbana da ‘guerra à criminalidade’: A militarização da questão urbana e suas várias possíveis implicações. In: RIBEIRO, Ana Clara Torres et al. (orgs.): Política governamental e ação social no espaço. Rio de Janeiro: ANPUR e Letra Capital, 2012. (B23) Semântica urbana e segregação: Disputa simbólica e embates políticos na cidade ‘empresarialista’. In: VASCONCELOS, Pedro de Almeida et al. (orgs.): A cidade contemporânea: Segregação espacial. São Paulo: Contexto, 2013. (B24) Panem et circenses versus o direito ao Centro da cidade no Rio de Janeiro. In: FERNANDES, José Alberto V. Rio e SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (orgs.): A nova vida do velho centro nas cidades portuguesas e brasileiras. Porto: Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) da Universidade do Porto, 2013. (B25) Phobopolis. Städtische Angst und die Militarisierung des Urbanen. In: HUFFSCHMID, Anne e WILDNER, Kathrin (orgs.): Stadtforschung aus Lateinamerika. Neue urbane Szenarien:Öffentlichkeit. Territorialität. Imaginarios. Bielefeld: transcript, 2013. (B26) Phobopolis: Violence, Fear and Sociopolitical Fragmentation of the Space in Rio de Janeiro, Brazil. In: KRAAS, Frauke et al. (orgs.): Megacities. Our Global Urban Future. Dordrecht e outros lugares: Springer. (B27) Ensemble avec l’État, malgré l’État, contre l’État. Les mouvements sociaux, agents d’un urbanisme critique. In: GINTRAC, Cécile e GIROUD, Matthieu (orgs.): Villes contestées. Pour une géographie critique de l’urbain. Paris : Les Prairies Ordinaires. C. ARTIGOS EM PERIÓDICOS (INCLUI COMENTÁRIOS BIBLIOGRÁFICOS) (C1) “Espaciologia”: uma objeção (Crítica aos prestigiamentos pseudocríticos do espaço social). Terra Livre, n.° 5, 1988. São Paulo e Rio de Janeiro, AGB/Marco Zero, pp. 21-45. (C2) O bairro contemporâneo: ensaio de abordagem política. Revista Brasileira de Geografia, 51(2), 1989. Rio de Janeiro, pp. 139-172. (C3) Reflexão sobre as limitações e potencialidades de uma reforma urbana no Brasil atual. Actas Latinoamericanas de Varsovia, tomo 15, 1993. Varsóvia, pp. 207-228. (C4) O narcotráfico no Rio de Janeiro, sua territorialidade e a dialética entre “ordem” e “desordem”. Cadernos de Geociências, n.° 13, 1995. Rio de Janeiro, IBGE, pp. 161-171. (C5) Die fragmentierte Metropole. Der Drogenhandel und seine Territorialität in Rio de Janeiro. Geographische Zeitschrift, vol. 83, números 3/4, 1995. Stuttgart, pp. 238-249. (C6) Efectos negativos del tráfico de drogas en el desarrollo socio-espacial de Rio de Janeiro. Revista Interamericana de Planificación, volume XXVIII, n.° 112, 1995. Cuenca (Equador), SIAP, pp. 142-159. (C7) O tráfico de drogas no Rio de Janeiro e seus efeitos negativos sobre o desenvolvimento sócio-espacial. Cadernos IPPUR/UFRJ, ano VIII, números 2/3, 1994 [publicado em 1996]. Rio de Janeiro, pp. 25-39. (C8) A teorização sobre o desenvolvimento em uma época de fadiga teórica, ou: sobre a necessidade de uma ‘teoria aberta’ do desenvolvimento sócio-espacial. Território, ano 1, n. 1, jul./dez. 1996. Rio de Janeiro, pp. 5-22. (C9) Urbanização e desenvolvimento. Rediscutindo o urbano e a urbanização como fatores e símbolos de desenvolvimento à luz da experiência brasileira recente. Revista Brasileira de Geografia, 56(1/4), jan./dez. 1994 (publicado em 1997). Rio de Janeiro, pp. 255-291. (C10) Algumas notas sobre a importância do espaço para o desenvolvimento social. Território, ano II, n. 3, jul./dez. 1997. Rio de Janeiro, pp. 13-35. (C11) Desenvolvimento urbano: a problemática renovação de um “conceito”-problema. Território, ano III, n. 5, jul./dez., 1998. Rio de Janeiro, pp. 5-29. (C12) Urban development on the basis of autonomy: a politico-philosophical and ethical framework for urban planning and management. Ethics, Place and Environment, vol. 3, No. 2, 2000, pp. 187-201. (C13) O planejamento e a gestão das cidades em uma perspectiva autonomista. Território, ano V, n. 8, jan./jun., 2000. Rio de Janeiro, pp. 67-99. (C14) Os orçamentos participativos e sua espacialidade: uma agenda de pesquisa. Terra Livre, n. 15, 2000. São Paulo, pp. 39-58. (C15) Para o que serve o orçamento participativo? Disparidade de expectativas e disputa ideológica em torno de uma proposta em ascensão. Cadernos IPPUR/UFRJ, ano XIV, n. 2, ago./dez. 2000 [publicado em 2001]. Rio de Janeiro, pp. 123-142. (C16) Metropolitan deconcentration, socio-political fragmentation and extended suburbanisation: Brazilian urbanisation in the 1980s and 1990s. Geoforum, n. 32, 2001. Oxford, pp. 437-447. (C17) Urban planning in an age of fear: The case of Rio de Janeiro. International Development Planning Review (IDPR), 27(1), 2005, pp. 1-18. (C18) Together with the state, despite the state, against the state: Social movements as “critical urban planning” agents. City, 10(3), 2006, pp. 327-42. (C19) Cidades, globalização e determinismo econômico. Cidades, vol. 3, n. 5, 2007, pp. 123-42. (C20) Da “diferenciação de áreas” à “diferenciação socioespacial”: A “visão (apenas) de sobrevôo” como uma tradição epistemológica e metodológica limitante. Cidades, vol. 4, n. 6, 2007, pp. 101-14. (C21) Social movements in the face of criminal power: The socio-political fragmentation of space and “micro-level warlords” as challenges for emancipative urban struggles". City, 13(1), 2009, pp. 26-52. (C22) Cities for people, not for profit From a radical-libertarian and Latin American perspective. City, 13(4), 2009, pp. 483-492. (C23) Com o Estado, apesar do Estado, contra o Estado: Os movimentos urbanos e suas práticas espaciais, entre a luta institucional e a ação direta. Cidades, vol. 7, n. 11 [= número temático Formas espaciais e política(s) urbana(s)], pp. 13-47. (C24) Welches Recht auf welche Stadt? Ein Plädoyer für politisch-strategische Klarheit [Que direito a qual cidade? Em defesa da clareza político-estratégica]. Phase2, 35, 2010, pp. 42-43. (C25) Which right to which city? In defence of political-strategic clarity". Interface: a journal for and about social movements, 2(1), 2010, pp. 315-333. Disponibilizado na Internet (http://interface-articles.googlegroups.com/web/3Souza.pdf) em 27/05/2010. (C26) The words and the things. Comentário bibliográfico sobre o livro Seeking Spatial Justice, de Edward Soja. City, 15(1). Abingdon, Oxfordshire (Reino Unido), pp. 73-77, 2011. (C27) Hangi kentte hangi hak?: Politik-Stratejik netliğin müdafaasi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi [Revista Educação Ciência Sociedade], vol. 9, n.° 36, pp. 183-207, 2011. [Tradução parta o turco do artigo publicado em 2010 em Interface: a journal for and about social movements.] (C28) Mauricio de Almeida Abreu: Mestre e pesquisador, inspirado e inspirador. Cidades, vol. 8, n. 14 [= número temático Mauricio de Almeida Abreu], pp. 675-677, 2011. (C29) The ‘Arab Spring’ and the city: Hopes, contradictions and spatiality. City, 15(6), pp. 618-624., 2011.[escrito em coautoria com Barbara Lipietz; primeiro autor] (C30) Where do we stand? New hopes, frustration and open wounds in Arab cities. City, 16(3), pp. 355-359, 2012. [escrito em coautoria com Barbara Lipietz; segundo autor] (C31) Geografia: A hora e a vez do pensamento libertário. Boletim Gaúcho de Geografia, n. 38, pp. 15-33, 2012. (C32) Militarização da questão urbana. Lutas Sociais, n. 29, pp. 117-129, 2012. (C33) Introdução: A Geografia, o pensamento e a práxis libertários e a cidade. Encontros, desencontros e reencontros. Cidades, volume 9, número 15, pp. 9-58, 2012. (C34) Autogestão, ‘autoplanejamento’, autonomia: Atualidade e dificuldades das práticas espaciais libertárias dos movimentos urbanos. Cidades, volume 9, número 15, pp. 59-93, 2012. (C35) The city in libertarian thought: From Élisée Reclus to Murray Bookchin and beyond. City, 16(1-2), pp. 4-33, 2012. (C36) Marxists, libertarians and the city: A necessary debate. City, 16(3), pp. 309-325, 2012. (C37) ‘Phobopolis’: Gewalt, Angst und soziopolitische Fragmentierung des städtischen Raumes von Rio de Janeiro, Brasilien. Geographische Zeitschrift, Band 100, Heft, 1, pp. 34-50, 2012. (C38) Panem et circensis versus the right to the city (centre) in Rio de Janeiro: A short report. City, 16(5), pp. 563-572, 2012. (C40) Libertarians and Marxists in the 21st century: Thoughts on our contemporary specificities and their relevance to urban studies, as a tribute to Neil Smith. City, 16(6), pp. 692-698, 2012. (C41) Ciudades brasileñas, junio de 2013: lo(s) sentido(s) de la revuelta. Contrapunto, 3, pp. 105-123, 2012. (C42) Introduction: On structures and conjunctures, rules and exceptions. City, 17(6), pp. 810-811, 2012. [escrito em coautoria com Barbara Lipietz; primeiro autor] D. TRABALHOS PUBLICADOS NA ÍNTEGRA EM ANAIS DE CONGRESSOS (D1) “Miseropolização” e “clima de guerra civil”: sobre o agravamento e as condições de superação da “questão urbana” na metrópole do Rio de Janeiro. Anais do 3.° Simpósio Nacional de Geografia Urbana, Rio de Janeiro, 1993. (D2) Revisitando o “mito da marginalidade”. A população favelada do Rio de Janeiro em face do tráfico de drogas". Anais do VII Encontro Nacional da ANPUR, vol. II. Recife, 1997. (D3) De ilusão também se vive: caminhos e descaminhos da democratização do planejamento e da gestão urbanos no Brasil (1989-2004). Disponível em 18/05/2005 na página do XI Encontro Nacional da ANPUR (realizado em Salvador, 2005): www.xienanpur.ufba.br/112pdf. (D4) As cidades brasileiras e os movimentos sociais no início do século XXI: sete questões para provocar o debate. Anais do X Simpósio Nacional de Geografia Urbana [CD-ROM] (Florianópolis, 2007) [mesa-redonda “O futuro das cidades e da urbanização no Brasil”]. Florianópolis. E. ARTIGOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA (E1) “‘Megamiseropolização’ do eixo Rio-São Paulo”. Artigo publicado na revista PUC-Ciência, n.° 4, 1989. Rio de Janeiro, pp. 13-15. (E2) “Revisão constitucional: Uma chance para a Reforma Urbana?”. Artigo publicado no jornal AGB em Debate, n.° 7, 1993, Curitiba. (E3) “Some Introductory Remarks about a New City for a New Society”. Texto em formato HTM disponibilizado no sítio da revista virtual “Z Magazine”, seção “Life After Capitalism Essays” (http://zena.secureforum.com/znet/souzacity.htm), a partir de janeiro de 2003. (E4) “As cidades, o seu Estatuto e a sua gestão democrática”. Texto em formato PDF disponibilizado no sítio do Núcleo de Pesquisas sobre Desenvolvimento Sócio-Espacial. NuPeD/UFRJ (http://www.geografia.ufrj.br/nuped/textos/acidadeoseuestatutogestao.pdf) em 18/07/2004. (E5) “Os geógrafos e os movimentos sociais: Como cooperar? Dez teses para debate”. Texto em formato PDF disponibilizado no sítio do Núcleo de Pesquisas sobre Desenvolvimento Sócio-Espacial, NuPeD/UFRJ (http://www.geografia.ufrj.br/nuped/textos/geografosemovimentossociais.pdf) em 20/11/2005. (E6) “El ‘lúmpen-proletariado armado’, el ‘capitalismo criminal-informal’ y los desafíos para los movimientos sociales”. Texto em formato htm disponibilizado no sítio do Colectivo Libres del Sur, da Argentina (http://www.geocities.com/surlibre/2004/Debates.htm) em 31/03/2007. (E7) “O que pode a economia popular urbana? Pensando a produção e a geração de renda nas ocupações de sem-teto do Rio de Janeiro”. Texto em formato PDF disponibilizado no sítio do Núcleo de Pesquisas sobre Desenvolvimento Sócio-Espacial- NuPeD/UFRJ (http://www.geografia.ufrj.br/nuped/textos/O%20que%20pode%20a%20economia%20popular%20urbana.pdf) em 26/05/2008. (E8) “Rio de Janeiro 2016: ‘sonho’ ou ‘pesadelo’ olímpico?” (em co-autoria com Tatiana Tramontani Ramos e Marianna Fernandes Moreira [ primeiro autor]). Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=15000) em 16/11/2009. (E9) “Universidades: burocratização, mercantilização e mediocridade (1.ª parte)”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=23461) em 16/05/2010. (E10) “Universidades: burocratização, mercantilização e mediocridade (2.ª parte)”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=23469) em 23/05/2010. (E11) “Dois fóruns urbanos, duas ilusões”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=27499) em 08/08/2010. (E12) “Os apoiadores acadêmicos dos movimentos sociais: seu papel, seus desafios”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=29280) em 21/08/2010. (E13) “A ‘reconquista do território´, ou: Um novo capítulo na militarização da questão urbana”. Texto disponibilizado no sítio PassaPalavra (http://passapalavra.info/?p=32598) em 03/12/2010. (E14) “O direito ao centro da cidade”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=37960) em 03/04/2011. (E15) “O navio: Uma metáfora sobre o nosso tempo”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=49321) em 29/11/2011. (E16) “Ação direta e luta institucional: complementaridade ou antítese? (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=56901) em 27/04/2012. (E17) “Ação direta e luta institucional: complementaridade ou antítese? (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=56903) em 04/05/2012. (E18) “A Geografia e o pensamento libertário: Subsídios para um debate sobre tradições e novos rumos”. Revista eletrônica Território Autônomo, n.° 1, primavera de 2012, pp. 5-14 (http://www.rekro.net/revista-territorio-autonomo/, disponibilizado em 08/10/2012). (E19) “O campo libertário, hoje: Radiografia e desafios (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=77856) em 24/05/2013. (E20) “O campo libertário, hoje: Radiografia e desafios (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=78158) em 31/05/2013. (E21) “Cidades brasileiras, junho de 2013: O(s) sentido(s) da revolta (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=80789) em 09/07/2013. (E22) “Cidades brasileiras, junho de 2013: O(s) sentido(s) da revolta (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=80839) em 16/07/2013. (E23) “Cidades brasileiras, junho de 2013: O(s) sentido(s) da revolta (3.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/?p=80884) em 23/07/2013. (E24) “Brazilian cities: From ‘spring’s’ promises to winter’s disappointing reality. Texto disponibilizado na página da revista inglesa City (http://www.city-analysis.net/2013/07/10/brazilian-cities-from-“spring’s”-promises-to-winter’s-disappointing-reality-2/) em 23/07/2013. (E25) “Diferentes faces da ‘propaganda pela ação’: Notas sobre o protesto social e seus efeitos nas cidades brasileiras (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/03/93153) em 19/03/2014. (E26) “Diferentes faces da ‘propaganda pela ação’: Notas sobre o protesto social e seus efeitos nas cidades brasileiras (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/03/93164) em 25/03/2014. (E27) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/04/93927) em 10/04/2014. (E28) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/04/94172) em 17/04/2014. (E29) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (3.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/04/94412) em 24/04/2014. (E30) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (4.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/04/94846) em 01/05/2014. (E31) “Cantariam eles ‘A Internacional’? Territórios dissidentes, práticas insurgentes e as contradições do ‘hiperprecariado’ (5.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/05/95099) em 08/05/2014. (E32) “Do ‘direito à cidade’ ao direito ao planeta: Territórios dissidentes pelo mundo afora − e seu significado na atual conjuntura (1.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/05/97823) em 24/07/2014. (E33) “Do ‘direito à cidade’ ao direito ao planeta: Territórios dissidentes pelo mundo afora − e seu significado na atual conjuntura (2.ª Parte)”. Texto disponibilizado no sítio Passa Palavra (http://passapalavra.info/2014/05/98046) em 31/07/2014. F. PREFÁCIOS (F1) “Um ‘olhar afrodescendente’ sobre as cidades brasileiras”. Prefácio para o livro Do quilombo à favela: A produção do “espaço criminalizado” no Rio de Janeiro, de Andrelino de Oliveira Campos (Rio de Janeiro, Bertrand Brasil). (F2) “Mapeando (e refletindo sobre) a criminalidade violenta”. Prefácio para o livro Atlas da criminalidade no Espírito Santo, de Cláudio Luiz Zanotelli et al. (São Paulo, Annablume e FAPES), 2011. (F3) “Às leitoras e aos leitores desassombrados: Sobre o livro Espaço, gênero e masculinidades plurais”. Prefácio para o livro Espaço, gênero e masculinidades plurais, organizado por Joseli Maria Silva, Márcio José Ornat e Alides Batista Chimin Junior (Ponta Grossa, Todapalavra), 2011. LANA DE SOUZA CAVALCANTI A DOCÊNCIA E O ENSINO DE GEOGRAFIA: EIXOS CENTRAIS DE UMA TRAJETÓRIA DE VIDA E DE PROFISSÃO Lana de Souza Cavalcanti MINHA HISTÓRIA: PORQUE CONTÁ-LA Nos últimos anos, em razão de meu tempo de trabalho e de minha idade, tenho tido oportunidade de retomar lembranças de momentos diferentes da minha vida. Uma delas foi a escrita de um memorial para o concurso de Professora Titular na Universidade Federal de Goiás, em 2015, quando pontuei marcos da minha trajetória profissional e de formação. Após esse momento, recebi um convite para escrever um artigo sobre minha história de professora, para um livro publicado com a organização da professora Jussara Fraga Portugal. E, neste momento, faço um novo relato da minha história de vida e de formação, motivada pelo convite que me fizeram, a professora Joseli Maria Silva e Tamires Regina, para escrever autobiografia para compor o Observatório da Geografia Brasileira. Agradeço a vocês por essas oportunidades de reunir coisas da minha vida, do meu passado, em relatos que me permitem fazer um balanço e seguir em frente. Bom, estou mesmo ficando velha e acumulando histórias para contar. Nessas narrativas que fiz estão muitos eventos repetidos, entrelaçados, mas em cada texto, pelo tipo de demanda que os originaram, pela subjetividade de cada momento, percebo que a narrativa é diferente, talvez porque privilegie alguns episódios em detrimento de outros, o que reforça a ideia de que um relato é sempre uma leitura, uma interpretação datada do fato, real ou imaginário, relatado. Não tenho uma trajetória de vida marcada por fatos e eventos extraordinários, ao contrário, minha história é comum, feita de pequenos e seguidos momentos de escolhas, de renúncias, de realizações, de perdas, de ganhos. Minha história é como a de muitas pessoas do meu tempo, da minha geração. Então, me pergunto: vale a pena contá-la? Não sei dizer ao certo. Acho que vale, não pelo extraordinário, mas por expor uma história que pode ser como a de muitas pessoas, tantas mulheres, trabalhadoras, lutadoras em busca de coisas que acredita e, felizes por conseguirem realizar, construir, produzir objetivamente sua própria vida. Então, não esperem relatos edificantes, mas uma narrativa de vida construída a cada passo e a cada decisão, em conjunto com parceiros da vida, do trabalho, dos projetos. MINHA FORMAÇÃO: COMO PESSOA E COMO PROFISSIONAL Eu nasci em 14 de março de 1957, em uma cidade pequena do interior de Goiás, Piracanjuba, distante 80 km de Goiânia, e que hoje tem cerca de 30 mil habitantes. Lá cresci junto aos familiares da minha mãe e a outros muitos conhecidos dos meus pais. Embora a família da minha mãe fosse de origem rural, ela, como filha caçula de 13 irmãos, estudou parte do tempo na cidade e tinha aversão ao mundo “da roça”. Casou-se com meu pai aos 21 anos, um advogado de 32 anos, irmão do então prefeito da cidade, que veio de outra cidade. Meu pai era natural de Pires do Rio, cidade próxima de Piracanjuba, filho de comerciante e de uma família conhecida da cidade. Estudou em Uberaba e depois fez direito no Rio de Janeiro. Seu mundo também era urbano, desde que se entenda como urbano o modo de vida das pessoas que viviam nas pequenas cidades do interior de Goiás, nas décadas entre 1920 e 1960. Meus pais tiveram 5 filhos, sendo eu a terceira mulher, seguida por dois homens. Em Piracanjuba vivi até os 8 anos, quando nos mudamos, toda a nossa família, para Goiânia, a capital do Estado. No entanto, tive a influência daquela cidade e de sua cultura por mais alguns anos, pois era ali que passava as férias no meu tempo de adolescência e juventude, convivendo com os parentes mais próximos: avós, tios, primos e amigos que ali fizemos. Desse período da infância e adolescência, poderia destacar muitas coisas que ainda hoje carrego em mim, como lembranças, mas também como marcos da minha personalidade. Uma delas, a cultura urbana muito influenciada pelo rural: não gosto especialmente da vida rural, de estar no meio do mato, essas coisas, fui e sou tipicamente uma pessoa de classe média urbana, que gosta do barulho, do asfalto, dos carros, dos confortos das casas e apartamentos em cidades, dos aparelhos domésticos, das comidas produzidas industrialmente. Mas, ao mesmo tempo, tenho muitos gostos de infância que me atraem demais até o presente: comidas como pequi, pamonha, milho cozido, assado, e frutas como jabuticaba, manga, goiaba, tamarindo, caju. Gosto, não só de cada sabor desses alimentos, mas também de todo o ritual que envolve a colheita, o fabrico e também a sua própria degustação quando está pronto. Minha infância foi marcada por esses alimentos, que em minha lembrança sempre se misturam aos momentos de lazer, pois enquanto os pais elaboravam as comidas, os filhos (amigos e primos) se juntavam e iam brincar, e em alguns momentos ajudavam também em etapas do preparo da comida. Das brincadeiras, lembro-me especialmente daquelas coletivas que ocorriam ao ar livre, nos quintais ou mesmo na rua da minha casa, a “queimada”, o “bete”, o pique-esconde, o pique-pega, o pular cordas, entre outras. Outro aspecto de minhas lembranças do período em que vivi em Piracanjuba foi minha escolarização. Nada especial, mas foram momentos marcantes. Fui aluna do Grupo Escolar da cidade. Era uma boa aluna, sempre muito “comportadinha”, acredito que não dava trabalho aos meus pais para estudar os “pontos” para as provas, por exemplo. E, associado a esse período de escolarização, considero que o ambiente em casa marcou indelevelmente minha trajetória escolar. Minha mãe era, como se dizia na época, “dona de casa”, ou seja, não trabalhava fora. Mas, tinha sempre alguém para fazer os trabalhos domésticos e ela fazia a parte de administração. Meu pai era o provedor, o trabalhador, tinha 3 atividades profissionais diferentes, segundo ele, para conseguir dar um bom padrão de vida para a família. Ele exercia a advocacia, era sócio de uma pequena fábrica de manteiga e era professor. Um homem conservador, de moral rígida, mas bastante amado e admirado por todos. Era um homem muito culto, desses que eram fonte de pesquisa de muita gente, em todos os assuntos. Esse fato ocorria em um momento em que a consulta aos mais estudados e mais velhos, em contextos como esse de cidade pequena no interior de Goiás, era muito importante para a formação, principalmente dos jovens e crianças da sociedade. Na época, não havia televisão, não havia internet, e as enciclopédias não eram comuns, não eram de fácil acesso. Então, eu cresci vendo muitas pessoas, em geral jovens, visitando nossa casa para conversar com meu pai sobre uma dúvida qualquer de conhecimento, e principalmente de escola. Meu pai, mesmo sem formação específica para o magistério, era professor de diferentes matérias, português, matemática, ciências, no “ginásio” da cidade, além de ser também seu diretor por muitos anos. Essa referência foi muito importante, creio, para minhas primeiras imaginações profissionais. Eu queria ser cientista ou professora, afinal era isso que via meu pai fazer rotineiramente: lecionava, preparava as aulas, lia, recebia em casa pessoas para consultas da escola ou de advogado e, nos momentos de folga, ainda o via inventar coisas: ele construía aparelho de rádio como robe. E em minhas brincadeiras eu era frequentemente professora. Na juventude, morando em Goiânia, tive pouca experiência e aventuras independentes, afinal era filha de um pai rígido que mantinha o cotidiano de suas filhas sob seu controle, sem muita liberdade para saídas, para festinhas, para viagens. Mesmo assim, namorei muito às escondidas, frequentei algumas festinhas e fiz umas poucas viagens. Tinha sempre grupo de amigas com quem compartilhava experiências, descobertas, angústias, dúvidas próprias de adolescentes e jovens. Estudei quase sempre em escolas públicas, pois eram escolas que ofereciam uma boa formação. No ensino médio, continuei na escola pública, mas, em 1975, fiz o preparatório para o vestibular em uma boa escola privada. Pensei, inicialmente, em fazer o curso superior de Farmácia, mas era difícil passar, pois a concorrência era muito grande e, então, decidi fazer licenciatura em Geografia, por gostar da matéria, por influência do meu pai, que continuava exercendo a docência em Goiânia, e de uma prima que havia feito esse curso. Naquela época já gostava de ser professora, havia tido experiências ocasionais de dar aulas de reforço para algumas crianças com dificuldades de aprendizagem, o que havia me proporcionado muito prazer. Mas, a escolha do curso não foi uma decisão muito consciente e fundada num ideal. Na verdade, foi mais pragmática. Queria garantir minha aprovação no vestibular, porque meu pai havia presenteado minhas irmãs mais velhas com viagem ao Rio de Janeiro, quando foram aprovadas no vestibular, e eu queria ser também contemplada com esse presente. Mas, como sempre digo para meus alunos: eu poderia ter cursado Farmácia, e provavelmente hoje seria uma professora de alguma matéria nessa área. Fiz minha graduação em Geografia – Licenciatura, no período de 1976 a 1979, na Universidade Federal de Goiás- UFG. Era um período de muita repressão política ainda, a ditadura militar estava ainda sendo “desmontada”, o projeto de anistia para os militantes do movimento contra a ditadura estava em curso. E, assim como no ensino médio, a estrutura dos cursos havia passado por reformas, o clima era de despolitização e de racionalização das atividades. No início, então, havia algumas matérias básicas que eram feitas juntamente com alunos de outros cursos. As discussões e as leituras que questionavam a política dominante no país eram desencorajadas, mas muitas eram realizadas na clandestinidade. Ainda no primeiro ano do curso fui convidada por meu antigo professor do preparatório do vestibular para dar aulas na mesma escola em que eu havia sido aluna. Aceitei o desafio, mas com muita insegurança, afinal ainda estava somente iniciando minha formação. Era uma escola de orientação tecnicista, voltada para preparar para o vestibular, como já disse. Trabalhei nessa escola por um ano e em seguida fui para outra escola com a mesma orientação pedagógica, e ali trabalhei até o final da minha graduação. Aceitei trabalhar com pequena carga horária, pois queria priorizar meus estudos. Além do mais, havia me casado no início do ano de 1979, e, também, precisava me dedicar às demandas de uma jovem mulher casada aos 22 anos. Já nesse período comecei a me acostumar com o acúmulo de funções e de atividades rotineiras como: mulher, dona de casa, professora, aluna e monitora do curso. Conseguia me organizar bem com esses diferentes papéis que desempenhava. Essa primeira experiência de trabalho formal, dos 18 aos 20 anos, foi importante para reafirmar meu gosto pela docência, apesar de não me adaptar com a orientação pedagógica das duas escolas, gostava muito de estar em sala de aula, em trabalho junto aos alunos. No início, o curso de graduação era marcado por uma Geografia tradicional, com muita memorização e muita informação fragmentada. Mas, já se inseriam orientações diferentes, que hoje entendo como representando a coexistência de diferentes orientações teóricas que marcaram uma transição na Geografia brasileira, nas décadas de 1970/1980: uma mais clássica, outra mais técnica - a New Geography, voltada sobretudo à pesquisa e ao planejamento e outra de orientação crítica, predominantemente marxista. Naquele contexto, foram muitos os bons professores que contribuíram para minha formação, mas destaco três deles, por terem mostrado uma Geografia nova, dinâmica, fecunda: Tércia Cavalcante, Antônio Teixeira Neto e Walter Casseti. Os três foram referências importantes naquele momento para renovar o curso, com novos referenciais, novas teorias e novas práticas. A professora Tércia era professora de Geografia Regional e contribuiu muito com suas maneiras de ministrar as aulas, provocando o debate, e pelas leituras que indicava, explicando teoricamente a Região com os referenciais do marxismo e com a teoria do desenvolvimento desigual e combinado. O professor Neto era professor de Cartografia. Com ele aprendi a refletir sobre o significado e a finalidade da representação cartográfica, e de como realizá-la tendo em conta que se trata de uma linguagem, que para ser vista e bem analisada é importante atentar-se para a lógica de seus símbolos: a semiologia gráfica. O professor Walter era professor de Geografia Física, Geomorfologia. Ensinou-me a não só apreender as classificações (complicadas) do relevo, mas também a compreender os processos dinâmicos de sua formação (explicava a dinâmica das vertentes), destacando-se neles o papel da ação antrópica. Esses professores e a atuação que pude ter como monitora no departamento durante três anos de minha formação propiciaram uma formação consistente e crítica na área. Destaco também as referências teóricas naqueles anos: de Milton Santos, que visitou o curso em 1979 para divulgar seu livro Por uma Geografia Nova, e de Yves Lacoste, com o livro (que líamos em xerox) A Geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. A leitura e a discussão dessas obras, entre outras, marcaram minha formação. Esses elementos da formação foram importantes na constituição inicial de uma proposta de atuar com uma Geografia Crítica, com orientação marxista e voltada para a compreensão das contradições e desigualdades sociais. Tal proposta não coadunava com a empreendida pelo colégio em que eu, naquele tempo, trabalhava. Em razão dessa falta de identificação com as práticas pedagógicas do colégio, eu me demiti no final de 1979, justamente quando concluía meu curso. Logo após a conclusão de minha graduação, no início de 1980, uma colega muito querida, que também havia sido monitora do departamento, me convidou para trabalhar em um órgão de planejamento do Estado – Instituto de Estudos Urbanos e Regionais - INDUR. Aceitei e comecei a trabalhar, em 1980, com essa colega – Neli Aparecida do Amaral – que coordenava a equipe de cartografia desse órgão. Nele trabalhei como técnica em planejamento até 1988, atuando em equipes diferentes: primeiramente na cartografia, elaborando o mapa do Aglomerado Urbano de Goiânia, que reunia a capital do Estado e os municípios limítrofes, delineando o que viria a ser o embrião da Região Metropolitana; após realizar esse trabalho, atuei na equipe de análise e aprovação de loteamentos urbanos na área de expansão da cidade e também na equipe que realizou um estudo para propor uma regionalização para Goiás, para fins de planejamento. Todo esse trabalho era muito relevante para o desenvolvimento social e econômico do Estado e da sua capital, porém, era muito decepcionante assistir às ingerências políticas que nele ocorriam. Na maioria das vezes, sem critérios técnicos, os políticos decidiam os projetos que poderiam ser realizados e os que seriam “engavetados”. Nesse período, tive uma pequena experiência de ensinar em escola pública, com contrato temporário, visando perseguir meu interesse maior na profissão, que era pela docência. Enquanto trabalhava no INDUR, também tive meus três filhos, André, Diogo e Lucas, que têm hoje 40, 38 e 34 anos, respectivamente. Sempre conciliando trabalho de jornada integral e a responsabilidade com minha casa e com a criação dos filhos, me organizando nos horários para garantir os tempos mínimos necessários para dar atenção a eles. Meu marido viajava muito a trabalho e na maior parte do tempo eu tinha de cuidar de tudo sozinha, com a ajuda de uma empregada doméstica (tive algumas, sempre permanecendo por muitos anos em minha casa, mulheres guerreiras, ótimas, confiáveis e muito amáveis com meus filhos). Em função dessas demandas, era rígida com meus horários, com minha rotina, saía de casa logo cedo para trabalhar, mas sempre voltava para almoçar e, no final do dia, ia diretamente para casa, não me permitindo muito ter vida social e lazer fora da família. Tinha, portanto, uma vida limitada ao mundo particular e imediato, mas sempre atenta ao que acontecia na sociedade, na administração pública, nos níveis federal, estadual e municipal, e sempre sensível aos atos de injustiça social, de corrupção, de não reconhecimento dos direitos dos cidadãos. Nessa época, mesmo com esses limites que apontei, realizei, entre 1985 e 1986, um curso de especialização em Planejamento Urbano e Regional, ofertado pela UFG, com a finalidade de me aperfeiçoar na profissão. Em 1986, com meu filho caçula com apenas um mês, fiz um concurso e fui aprovada para professora efetiva na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Assim, iniciei minha atuação profissional como professora do Ensino Superior, logo que fui contratada no final desse mesmo ano. Inicialmente conciliei essa atividade com a outra, de técnica em planejamento, mas assim que foi possível, solicitei um regime de dedicação exclusiva na Universidade e deixei o trabalho no INDUR, podendo me dedicar mais à nova atividade. Na Faculdade de Educação, minha atribuição principal era a docência para as turmas de Estágio Supervisionado em Geografia. O Curso naquela época tinha a estrutura chamada de 3+1, ou seja, os alunos cursavam três anos de disciplinas de conteúdo específico (geográfico) e um ano (o último) de disciplinas pedagógicas, entre as quais estava o Estágio Supervisionado. No primeiro ano como professora da Faculdade de Educação, estava ainda em adaptação quando surgiu a oportunidade de prestar a seleção para cursar o mestrado no meu próprio local de trabalho. Fui aprovada e realizei, assim, o Mestrado em Educação Escolar Brasileira, no Programa de Mestrado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, no período de 1987 a 1990. A realização do Mestrado foi particularmente importante para mim. Meus limites em casa, embora comuns, eram muitos, pois os filhos ainda pequenos me requeriam atenção todo o tempo. Com as demandas postas, aprendi a estudar, como sempre brinco com meu caçula, com um bebê no meu pescoço, não desperdiçava nem um minuto de tempo livre. Nesse período, fiz um curso livre de filosofia (aos sábados à tarde), que objetivava formar quadros para o partido comunista, com os fundamentos marxistas. Esse curso me ajudou muito na leitura de Marx e de marxistas, o que, por sua vez, me ajudou a compreender as leituras indicadas na pós-graduação. O Mestrado era um curso bastante exigente (eu era da segunda turma de um recém aprovado programa de pós-graduação, que buscava obter boa avaliação entre os pares e junto à Capes), tinha muitas leituras, debates em sala de aula e trabalhos monográficos para fazer. Considero que esse foi um momento marcante de meu amadurecimento e autonomia intelectual. Ele propiciou momentos significativos de crescimento profissional e, também, pessoal, o que resultou em revisões quanto a valores e projetos de vida. Durante sua realização, fiz amizades e interlocuções com colegas queridos, muitos dos quais ainda hoje tenho contato e parceria, de trabalho e de vida. Destaco, entre eles, minhas amigas Sandramara, Dalva, Verbena (já falecida) e Maria Augusta. Em 1989, me divorciei e, além de todas as dificuldades comuns de conciliar família e trabalho, passei a lidar com dificuldades com meu pai, que não aceitava a separação, dificuldades financeiras e de logísticas quanto aos cuidados com a casa e os filhos. Mas, segui em frente, conseguindo superar os desafios apresentados a cada dia, mesmo com meus limites. Terminei o mestrado em março de 1990, com a dissertação intitulada “O ensino de Geografia em escolas de ensino fundamental de Goiânia”, uma pesquisa que teve como foco a busca de metodologias de ensino de Geografia mais críticas, evidenciadas na prática de professores do Ensino Fundamental. Em 1993, iniciei meu doutorado no Programa de Pós-graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, no mesmo ano em que, por uma mudança na estrutura dos cursos de licenciatura da UFG, passei a ser lotada no Departamento de Geografia dessa Universidade. Ali trabalhei inicialmente com disciplinas pedagógicas, embora tenha ministrado outras como Geografia Regional e Geografia Urbana. Nessa mesma época me casei pela segunda vez, com José Carlos Libâneo, que havia sido meu orientador de Mestrado. Com ele passei a dividir muitos projetos de vida, nossos filhos dos primeiros casamentos - ele tinha dois e eu três – nossos amigos, nossos colegas de profissão e, também, a compartilhar muitas preocupações políticas, pedagógicas e sociais. Até hoje tenho com ele uma maravilhosa, amorosa e real vida a dois: cada um tem seus projetos e caminhos pessoais e profissionais, mas compartilhamos nossas ideias, nossa concepção de mundo, nossa casa, nossos filhos, nossos netos, que já são sete, e a família. Terminei meu doutorado em 1996, com a tese “A construção de conceitos geográficos no ensino: uma análise de conhecimentos geográficos de alunos de 5ª. e 6ª. séries do ensino fundamental”, orientada por José Willian Vesentini. Fiz estudos seguindo a linha já iniciada no mestrado, firmando uma preocupação com a formação de professores de Geografia e sua orientação pedagógica, formulando minha compreensão dos fundamentos de um método dialético no ensino de Geografia, na linha histórico-cultural de Vygotsky, dando ênfase ao processo de formação de conceitos geográficos, a partir do encontro e confronto de conceitos cotidianos e científicos. MATURIDADE INTELECTUAL E INSERÇÃO NA PRODUÇÃO GEOGRÁFICA BRASILEIRA A tese que defendi no doutorado foi publicada como livro com o título “Geografia, escola e construção de conhecimentos”, em 1998, pela Editora Papirus. É uma editora bem conceituada e de boa circulação nacional, e propiciou uma ampla divulgação do meu trabalho, com várias edições até a atualidade, tornando-se uma referência do meu trabalho para muitos estudantes de graduação, de pós-graduação e de professores da rede básica de ensino. A partir da publicação desse livro, passei a ser convidada para palestras em várias partes do país, defendendo a proposta de um ensino crítico de Geografia, que buscasse uma aprendizagem significativa dos alunos. E, iniciei assim uma trajetória de pesquisadora, de intelectual que busca contribuir com a produção de fundamentos teóricos e práticos para a área do ensino de Geografia. Voltei da licença concedida pela Universidade para o doutorado em 1996, quando o Departamento de Geografia havia crescido bastante e se transformado em Instituto de Estudos Sócio-Ambientais - IESA, oferecendo, além dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Geografia, o Mestrado em Geografia. Logo que retornei ao então Instituto, assumi uma disciplina obrigatória no Mestrado: Teoria e Método, e continuei a trabalhar com ela por muitas vezes, ora sozinha, ora em parceria com colegas. Além de ministrar essa disciplina obrigatória, a partir de 2002, até o momento atual, também passei a ministrar regularmente as disciplinas “Espaço urbano, Cidadania e Dinâmica Cultural” e “Formação de professores de Geografia”. Na graduação, continuei a trabalhar com as disciplinas pedagógicas. A docência nessas disciplinas foram fundamentais para meu amadurecimento intelectual, pelo contato com os alunos, que propiciou sempre muitos bons debates, pela preparação e pelas leituras exigidas para ministrá-las. Com essas disciplinas e pelo meu perfil de formação e de atuação profissional fui delineando uma área de interesse de pesquisa e de orientação de alunos. Essa área é resultado da articulação de 3 fontes de reflexão: 1- minha experiência em planejamento urbano, 2- a Geografia Urbana, destacando como fontes teóricas básicas Henri Lefebvre, Milton Santos, Ana Fani A. Carlos e David Harvey, Edward Soja, 3- a área da educação e do Ensino de Geografia, orientando-me por autores da linha de Lee Semenovich Vygotsky, psicólogo russo do século XX, que investigou o desenvolvimento intelectual de crianças e a aprendizagem, com base na dialética. Nesses mais de 30 anos de magistério, poderia destacar muitas atividades e muitos fatos, eventos, que me deram prazer em fazer e/ou participar, mas é um longo período e dele consigo relembrar alguns poucos. Um deles é a minha presença em sala de aula, uma imagem difusa, que se coloca em diversas situações, com diferentes grupos de alunos, em número e níveis de formação diferentes, mas sempre com um misto de tensão e prazer. Tensão por ter de estar em prontidão para saber o que fazer diante de qualquer circunstância colocada e prazer de poder estar com um grupo (geralmente de jovens) para ajudá-los em seu desenvolvimento intelectual, social e afetivo. O prazer era sempre maior que a tensão, esse prazer se estende enormemente em minha atividade de orientação, na graduação e na pós-graduação. Hoje já tenho contabilizado mais de 150 orientações concluídas em graduação (trabalho final de curso, iniciação científica, Programa de Educação Tutorial-PET), mestrado, doutorado e pós-doutorado, o que considero um número bem expressivo. Sempre exerci essa atividade com muita motivação, leveza, respeito mútuo e satisfação, procurando expor e defender meu modo de ver as coisas na Geografia, na profissão docente, na vida, mas sem impor esse modo a nenhum aluno, ao contrário, respeitando e incentivando a formulação de suas próprias ideias. Embora tivesse que assumir muitas outras atividades em minha vida profissional, como coordenações da Graduação e Pós-Graduação, assessorias na administração superior da UFG, assessoria na CAPES, entre outras atividades, sempre dei prioridade à atividade de ensino, pois acima de tudo sou professora, e minha realização maior nessa profissão é o que posso fazer (pelo menos tento fazer) juntamente aos alunos. Atuei também, entre os anos de 2006 e 2010, como coordenadora e professora do Curso de Docência no Ensino Superior, oferecido pela Pro-reitoria de Graduação da UFG. Nesses anos e em outras experiências subsequentes, conheci muitos professores que estavam ingressando na UFG, portanto representantes de uma “nova geração”. Com eles dialoguei, tive contato breve com seu trabalho de docência e pude ouvir seus depoimentos a respeito do que consideram seus principais dilemas, desafios e expectativas relacionadas ao exercício da profissão. Asseguro que esse contato foi bastante relevante para que eu pudesse continuar exercendo minhas atribuições. Embora não tenha me tornado uma especialista na área de Metodologia do Ensino Superior, que é um campo de investigação muito amplo e exigiria maior dedicação do que eu poderia ter, posso dizer que conheço um pouco a área. Percebo algumas das dificuldades da gestão acadêmica no âmbito das Universidades públicas, diante de um corpo docente que trabalha frequentemente de modo isolado, buscando intensamente “produzir” seu “lattes”, com inúmeras ocupações acadêmicas, que nem sempre tem identificação com a docência, que busca maior atuação na pesquisa e na pós-graduação. Ressalta-se que na Universidade, muitas vezes, os professores recebem maior incentivo para pesquisa e pós-graduação do que para a atividade docente, sobretudo na graduação. Para além disso, posso dizer que essa experiência profissional contribuiu significativamente para meu próprio amadurecimento como professora, fortalecendo minha convicção de que o exercício da docência é bastante complexo e exige uma formação específica, muito além do conhecimento da matéria a ensinar. Articulada a essa dimensão do ensino, sempre dei também prioridade à atividade de estudo e pesquisa, pois para ensinar eu necessito estudar, estar atenta ao que se passa na sociedade, na escola, na academia. Entendo, assim, que as atividades investigativas são inerentes à docência. Na Universidade, e principalmente para os que concluem seus doutorados, a atividade de pesquisa tem uma relevância mais acentuada e por isso mesmo é institucionalizada em projetos, em submissão de aprovação e em financiamento pela própria instituição ou por outras agências de fomento. Nesse sentido, considero adequado salientar aqui a linha de investigação que fui tecendo ao longo de minha carreira, em coerência com as disciplinas ministradas na graduação e na pós-graduação e com as orientações que tenho feito. Para a tessitura dessa linha foram salientados, e tem sido ainda, alguns sujeitos, objetos e categorias. Os sujeitos sempre foram os professores de Geografia, em formação inicial ou os profissionais que já exercem sua docência na escola básica, e os alunos da escola de nível básico e seus processos de aprendizagem. Os objetos que posso mencionar como recorrente nas pesquisas que realizei e realizo são: os conteúdos e conceitos geográficos; as práticas docentes e seus métodos de ensinar; as práticas de formação profissional; os recursos didáticos, com destaque para os livros didáticos. E quanto às categorias, posso selecionar aquelas que dão norte às pesquisas: Geografia, pensamento geográfico, conceitos geográficos, docência, método de ensino, jovens escolares, cidade, espaço urbano, cidadania. Na articulação entre esses elementos, foram delineadas algumas problemáticas de pesquisa, com o propósito de identificar seus fatores condicionantes e, também, potenciais de equacionamentos possíveis, dentro de um fundamento teórico de compreensão da realidade, o método dialético. Para exemplificar esses caminhos investigativos, destaco a seguir alguns projetos realizados mais recentemente por uma equipe de profissionais e alunos em formação, sob minha coordenação: TÍTULO DO PROJETO - Lugar e cultura urbana: um estudo comparativo sobre saberes docentes de professores de Geografia no Brasil (2004 - 2009) - Elaboração de materiais didáticos temáticos sobre a área metropolitana de Goiânia (2007 - 2009) - Tendências da Pesquisa sobre o ensino de cidade na Geografia e suas contribuições para a prática docente (2009 - 2012) - Pesquisa colaborativa sobre demandas de produção Didática para o Ensino de Geografia na Região Metropolitana de Goiânia (2010 - 2013) - Aprender a cidade: uma análise das contribuições recentes da Geografia Urbana brasileira para a formação de jovens escolares (bolsa produtividade) (2010 - 2013) - Estrategias de formación del profesorado para educar en la participación ciudadana (2012 - 2014) - Formação inicial de professores de Geografia: experiências formativas para atuar na educação cidadã (2012 - 2014) - Jovens escolares e a vida urbana cotidiana: um eixo na formação de professores de Geografia (bolsa produtividade) (2013 - 2016) - A mediação didática para o estudo de cidade e a formação de professores em Geografia: contribuições metodológicas para o desenvolvimento do pensamento teórico-conceitual sobre cidade e vida urbana (bolsa produtividade) (2016 - 2019) - Ciência geográfica na escola: formação do pensamento geográfico para a atuação cidadã (2019 - Atual) - Formação/Atuação de professores de Geografia, conhecimentos profissionais e o pensamento geográfico: práticas docentes com conteúdos escolares para a vida urbana cidadã (bolsa produtividade) (2019 - Atual) Também articulada à dimensão do ensino, estão minhas atividades voltadas à extensão, ou seja, à relação mais direta com a sociedade, buscando dar efetividade ao que se produz na Universidade. Na relação com a comunidade acadêmica, podem ser destacadas minha participação em eventos, como ouvinte, como apresentadora de trabalhos, como parte da comissão organizadora ou como coordenadora. Nessa linha também destaco as palestras e mesas redondas que tenho participado em toda a carreira, no Brasil, em outros países da América Latina e na Europa (Portugal e Espanha). Destaco, entre os eventos que participo com maior regularidade, o Seminário Educação e Cidade (SEC-IESA), o Encontro Nacional de Práticas de Ensino de Geografia (ENPEG), o Encontro Nacional de Geógrafos (ENG), o Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia (ANPEGE), o Fórum Nacional de Formação de Professores de Geografia (Fórum NEPEG), o Simpósio de Geografia Urbana (Simpurb), o Encontro de geógrafos da América Latina (EGAL), o Colóquio da Rede Latino-americana de pesquisadores de Didática da Geografia (Redladgeo). Na coordenação de eventos, destaco várias edições do Seminário Educação e Cidade, do Fórum Nepeg, uma edição do ENPEG, uma edição do Colóquio da Redladgeo. Sobre esses Encontros, saliento o XI ENPEG, com a temática “Produção do Conhecimento e Pesquisa no ensino da Geografia”, que ocorreu em abril de 2011, em Goiânia, sob minha coordenação geral. A coordenação desse evento permitiu o contato com muitos pesquisadores da área (registrou-se a participação de aproximadamente 600 pessoas), que realizam atividades de ensino e pesquisa em diferentes regiões do Brasil, e uma maior compreensão das diferentes linhas e perspectivas por eles desenvolvidas. Outro evento que destaco, pela oportunidade que tenho tido de participar, desde 2011, é o ENANPEGE, como uma das coordenadoras do Grupo de Trabalho sobre Ensino de Geografia. Também é importante destacar a coordenação geral dos eventos Fórum NEPEG, realizado a cada dois anos, desde 2001, e do Seminário Educação e Cidade, realizado anualmente nas dependências da UFG, desde 2004. Além de buscar manter relações constantes com a comunidade acadêmica, sempre foi uma grande preocupação estreitar vínculos entre a Universidade e a Escola. Tenho feito essa tentativa em diferentes frentes de trabalho, em atividades formativas com os professores da Rede básica e por meio das pesquisas. Nos últimos anos, como proposta metodológica predominante, tenho encaminhado a pesquisa colaborativa. Trata-se de um conjunto de possibilidades de desenvolvimento metodológico de investigação que se pauta na colaboração entre os diferentes sujeitos do processo formativo que compõem a equipe de trabalho e são por ele corresponsáveis: os professores da educação básica, os professores em formação, os professores formadores. Após alguns anos como professora e pesquisadora ligada à pós-graduação, com experiência já acumulada em orientação e pesquisa, com uma linha de investigação já consolidada, considerei que seria importante para minha carreira investir em um pós-doutoramento, para sistematizar estudos sobre a temática do ensino de cidade. Sendo assim, busquei contato com a professora Maria Jesus Marron Gaite, da Universidade Complutense de Madrid, que aceitou a supervisão de meu projeto, desenvolvido em Madri entre os meses de agosto de 2005 e janeiro de 2006. Foi uma experiência significativa para minha vida pessoal e profissional, propiciando momentos de conhecimento e de aprendizagem sobre a Europa, sobre o ensino de Geografia na Espanha e em Portugal, e permitindo também manter contatos com colegas de referência na área, nesses países. Toda essa experiência marcou bastante minha formação e atuação nos anos seguintes, em termos de fontes teóricas, de parcerias, de redes de pesquisa, de intercâmbios de estudantes. Após voltar desse período de pós-doutorado, em 2006, passei a atuar de modo mais seguro nas diferentes atividades das quais participava: a docência, as orientações, as assessorias, a produção intelectual. Nesse período, na primeira década do século XXI, participei de um movimento de consolidação da área de ensino como uma área legítima de pesquisa, com reconhecimento institucional, nos Programas de Pós como linha de pesquisa, nas instituições de fomento, que subsidiava cada vez mais pesquisas e eventos na área, e entre os colegas pesquisadores de outras áreas da Geografia. Nesse contexto, fui contemplada com bolsa produtividade do CNPq, a partir de 2010, o que considero um marco importante de reconhecimento e de confiança em minha carreira profissional. Em 2016/2017, fiz meu segundo estágio pós-doutoral, por 6 meses, dessa vez em Buenos Aires, com a professora Maria Victoria Fernandez Caso, da Universidade de Buenos Aires, que supervisionou meu projeto de pesquisa, articulado à pesquisa produtividade, referente ao tema mais geral, o ensino de cidade. A PRODUÇÃO INTELECTUAL E A CRIAÇÃO DE GRUPOS E REDES: A OBJETIVAÇÃO DE UM PROJETO PROFISSIONAL Ao longo desses anos, desde a publicação de minha Tese de Doutorado, como livro, sempre me empenhei em publicizar minha produção intelectual: minhas ideias, minhas reflexões, os resultados de pesquisa por mim analisados, como forma de objetivar meu trabalho, de colocá-lo ao dispor da comunidade, para debate e utilização, caso fosse pertinente, por outros colegas, por alunos, por professores do ensino básico. Também me esforcei para realizar ações que resultassem em produtos para um projeto de institucionalização de uma área de investigação – a área do ensino de Geografia –. Dessas ações, quero destacar a instituição de alguns grupos e redes de pesquisa, como o LEPEG, o NEPEG, a REPEC, a Redladgeo. A PRODUÇÃO INTELECTUAL Minha produção intelectual é produto das atividades de ensino, de extensão e principalmente de pesquisa mais sistemática que tenho realizado ao longo dos anos. Ela está publicada em diferentes tipos de veículos: livros, capítulos de livros e artigos em periódicos. São reflexões, apostas teóricas, análises de dados produzidos em pesquisas, experiências profissionais, articulando-se em eixos temáticos conforme foram sendo delineados com o passar do tempo: 1- Ensino de Geografia: com a preocupação de trabalhar em prol de um ensino dessa disciplina que contribua efetivamente com o amplo desenvolvimento dos alunos, tenho me fundamentado na perspectiva histórico-cultural, proveniente dos estudos de Vygotsky. Destaco desse autor sua compreensão do papel da aprendizagem no desenvolvimento das funções psicológicas superiores nas crianças e jovens escolares, da relação entre pensamento e linguagem, do processo de formação de conceitos. Vygotsky (1984, 1993, 2001) desenvolveu uma teoria sobre o processo de formação de conceitos, na qual são importantes os conceitos científicos e os conceitos cotidianos, e suas mútuas relações. Em relação à aprendizagem, me aproprio das suas ideias sobre seu papel ativo no desenvolvimento das pessoas. E, em relação à linguagem, a concepção central é a de que ela está intrinsecamente ligada ao pensamento e ao seu desenvolvimento. Com essa orientação, tenho formulado proposições para um ensino de Geografia voltado à formação de conceitos, com base na ideia geral de que o ensino é uma intervenção intencional no desenvolvimento do aluno, que é sujeito ativo do processo. Parto da compreensão de que a Geografia escolar, como portadora de conhecimentos que contribuem para a compreensão da realidade, é um instrumento simbólico na mediação do sujeito com o mundo. Nessa linha, defendo que o objetivo do ensino de Geografia é o de contribuir para o desenvolvimento do pensamento geográfico do aluno, para que ele, com autonomia, possa pensar e agir sobre o mundo considerando a espacialidade dos fatos e fenômenos. E os conceitos são ferramentas culturais para o desenvolvimento desse pensamento, destacando-se os de paisagem, lugar, território, região e natureza. 2 - A formação profissional do professor de Geografia: é um tema que se destaca desde o início da minha carreira de professora universitária. Como professora de disciplinas como Estágio Supervisionado e Didática da Geografia durante anos, busco contribuir para essa formação propiciando atividades de ensino que promovam reflexões sobre conhecimento docente, identidade profissional do professor, requisitos da prática docente, elementos do processo de ensino e aprendizagem. Parto da convicção de que a atuação docente requer qualificação específica, referente ao domínio de conhecimentos sobre a matéria (a Geografia Escolar como distinta e ao mesmo tempo relacionada à Geografia Acadêmica) e sobre como ensiná-la. Essa qualificação pressupõe uma convicção, orientadora da prática, sobre a proposta metodológica julgada mais eficaz para a aprendizagem efetiva dos alunos e o papel dos conhecimentos geográficos no seu desenvolvimento. Muitos autores têm contribuído para o desenvolvimento das ideias sobre a formação de professores nessa perspectiva, entre os quais destaco: Antônio Nóvoa (1992, 1995), Carlos Marcelo García (2002a e 2002b), Clemont Gauthier (1998), José Gimeno Sacristán (1996a, 1996b, 1998), Lee Shullman (2005). 3- Ensino de cidade e cidadanias: o pressuposto de que crianças e jovens são sujeitos que constroem conhecimentos geográficos em seu cotidiano, que necessitam ser considerados no processo de ensino/aprendizagem, levou aos questionamentos sobre como percebem o lugar de seu cotidiano, como se relacionam com ele, como produzem e que conteúdos espaciais eles produzem, elegendo a cidade como lugar privilegiado dessas espacialidades. Os autores que têm subsidiado a produção com essa temática são, entre outros: Ana Fani Alessandri Carlos (1996, 2004, 2005), David Harvey (1989, 2004), Henri Lefebvre (1991, 2002, 2006), Milton Santos (1996a, 1999). O foco no tema da cidade destaca sua relação com a formação de cidadãos e se compromete com a formação da cidadania orientados por princípios democráticos, abertos para a diversidade e para o usufruto coletivo dos espaços urbanos. Entre os autores de referência para o tema da cidadania, ressalto: Andrea Pereira Santos e Eguimar F. Chaveiro (2016), José Murilo de Carvalho (2002), Márcio Piñon de Oliveira (2000), Maria Victoria de M. Benevides (1994), Milton Santos (2007, 1996/1997, 1996b), Olga María Moreno Fernándes (2013). Com esses eixos de reflexão, tenho produzido artigos, capítulos de livros e livros ao longo de minha carreira acadêmica, entre os quais seleciono, por considerar que sintetizam diferentes momentos no desenvolvimento de minhas ideias e por terem tido destaque como referência dessas ideias, os seguintes produtos (somente os publicados no Brasil) que julgo que tiveram maior repercussão no espaço acadêmico (selecionei 5 para cada tipo de produto): LIVROS • Pensar pela Geografia. Goiânia: Editora Alfa&Comunicação, 1ª. Ed. 2019. • Ensino de Geografia e a escola. Campinas, SP: Editora Papirus, 1ª. Ed. 2012 • Geografia escolar e a cidade. Campinas, SP: Editora Papirus, 1ª. Ed. 2008 • Geografia e práticas de ensino. Goiânia, Go: Editora Vieira, 1ª. Ed. 2002 • Geografia, escola e construção de conhecimentos. Campinas, SP: Editora Papirus, 1ª. Ed. 1998. CAPÍTULOS DE LIVRO: • A Geografia escolar como eixo de diálogos possíveis entre didática geral e didáticas específicas na formação do professor. In: Selma G. Pimenta; Cristina D’Ávila, Cristina C. A. Pedroso; Amali de A. Mussi. (Org.). A didática e os desafios políticos da atualidade. 1ed.Salvador: Editora UFBA, 2019. • Espaços da cidade e jovens escolares: por que é tão importante conhecer a espacialidade desses sujeitos da aprendizagem geográfica?. In: Jusssara F. Portugal. (Org.). Educação Geográfica: temas contemporâneos. Salvador: EDUFBA, 2017. • A Metrópole em foco no ensino de Geografia: o que/para quem ensinar?. In: Flávia M. de A. Paula, Lana de S. Cavalcanti, Vanilton C. de Souza. (Org.). Ensino de Geografia e metrópole. Goiânia: Gráfica e editora américa, 2014. • Concepções Teórico-metodológicas da Geografia escolar no mundo contemporâneo e abordagens no ensino. In: Dalben, A.; Diniz J.; Leal, L. Santos, L.. (Org.). Convergências e Tensões no campo da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. • Ensino de Geografia e diversidade: construção de conhecimentos geográficos escolares e atribuição de significados pelos diversos sujeitos do processo de ensino. In: Sônia Maria Vanzella Castelar. (Org.). Educação Geográfica: teorias e práticas docentes. São Paulo: Editora Contexto, 2005. ARTIGOS EM PERIÓDICO • O estudo de cidade e a formação do professor de geografia: contribuições para o desenvolvimento teórico-conceitual sobre cidade e vida urbana. Ateliê geográfico (UFG), v. 11, 2017. • Para onde estão indo as investigações sobre ensino de geografia no Brasil? Um olhar sobre elementos da pesquisa e do lugar que ela ocupa nesse campo. Boletim Goiano de Geografia, v. 36, 2016. • Ensinar Geografia para a autonomia do pensamento. Revista da ANPEGE, v. 7, 2011. • Cotidiano, mediação pedagógica e formação de conceitos: uma contribuição de Vygotsky ao ensino de Geografia. Cadernos CEDES, Campinas/SP, v.25, n.66, 2005. • A cidadania, o direito à cidade e a Geografia escolar: elementos de geografia para o estudo do espaço urbano. Geousp, São Paulo, v. 5, 1999. A FORMAÇÃO DE GRUPOS E REDES DE ESTUDO E PESQUISA Desde os primeiros anos de professora e pesquisadora ligada à Pós-Graduação, a partir do final da década de 1990, busquei atuar no sentido de fortalecer a pesquisa na área do ensino de Geografia, no âmbito do Instituto, da UFG, das instituições goianas e, também, do Brasil e outros países. Destaco nesse sentido minhas iniciativas, juntamente com colegas da área, de formar grupos e redes de pesquisa, e fazer intercâmbios, por entender que tal fortalecimento só poderia ocorrer com a articulação de professores e instituições que compartilhassem do entendimento da relevância dessa área. Em relação a esses grupos, destaco a seguir o NUPEC, o LEPEG, o NEPEG e a Redladgeo. 1- NÚCLEO DE ESTUDOS EM ENSINO DE CIDADE - NUPEC Além do trabalho mais formal de orientação e de pesquisa, coordeno um grupo de estudos desde 2000, e a partir de 2013 em conjunto com meu colega Vanilton Camilo de Souza, e com a colaboração das colegas Karla Annyelly e Lucineide Pires, chamado Núcleo de Estudos sobre Ensino de Cidade (NUPEC). Ele é composto por alunos da graduação e da pós-graduação, e se constitui em um espaço de leitura, reflexão e debate sobre essa temática. O grupo se reúne a cada 15 dias para fazer discussões com base em leituras de diferentes autores e de projetos de pesquisa dos integrantes do grupo. As discussões realizadas têm como referência diferentes contribuições teóricas, clássicas e contemporâneas, internas e externas à Geografia, à pesquisa em Geografia (modalidades e fundamentos teóricos) e à Geografia Urbana (destacando-se o objetivo do Ensino de cidade). Esse grupo, em colaboração com os demais membros do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica (LEPEG), realiza anualmente, no IESA, o Seminário Educação e Cidade. 2- LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA - LEPEG Em 1997, com apoio de colegas e buscando fortalecer a área do ensino, criei no IESA o Núcleo de Ensino e Apoio à Formação de Professores – NEAP. Este núcleo caracterizou-se inicialmente por congregar alunos da graduação e pós-graduação para auxiliá-los no desenvolvimento de suas demandas de formação. Após alguns anos, em março de 2006, com o aumento, no Instituto, de pesquisas nessa área, houve reformulação no Núcleo, com a inserção de outros professores do IESA, passando a se constituir, sob minha coordenação, como laboratório - o Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação Geográfica (LEPEG). Atualmente, o LEPEG é uma referência importante no Instituto e no contexto acadêmico, agrega 7 professores especialistas na área e tem um fluxo regular de aproximadamente 80 usuários, alunos da graduação e pós-graduação e professores da educação básica e de outras instituições. Esse grupo de professores, formadores e formandos atuam em diferentes grupos de estudo e de pesquisa, como bolsistas ou como voluntários. Tenho muita satisfação de ter acompanhado o crescimento e a consolidação desse laboratório que eu propus a criação e que coordenei por muitos anos. Atualmente ele é coordenado pela professora Miriam Aparecida Bueno e pelo professor Denis Richter. 3- O NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA - NEPEG O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica – NEPEG foi criado em 2004, por um grupo de professores de três Instituições de Ensino Superior de Goiás – Universidade Federal de Goiás, Universidade Católica de Goiás e Universidade Estadual de Goiás –, sob minha coordenação, que tinham em comum a preocupação com o ensino de Geografia, desde o nível básico até o superior, o que se expressa por meio de suas pesquisas sobre a temática. Após sua criação, ao longo desses anos o Núcleo, com base em seu regimento, agregou novos pesquisadores que se mostraram interessados em nele se integrar, sendo que atualmente tem componentes que são professores de universidades de outros Estados e até mesmo de outros países (como Moçambique e Chile). Fui coordenadora desse Núcleo desde o seu início, juntamente com Vanilton Camilo de Souza, no período de 2004 a 2011 e desde 2015 voltei a coordená-lo em parceria com Miriam Aparecida Bueno. Esse grupo tem se reunido mensalmente com o objetivo de discutir estratégias de ação no campo da pesquisa, da extensão e da formação acadêmica de seus membros. Suas principais ações têm sido: a de leituras e apresentação no grupo de seus resultados; cursos de aperfeiçoamento para professores de Geografia da Rede básica de ensino; organização de eventos; publicação de livros. O grupo, a cada dois anos, realiza o Fórum NEPEG de Formação de Professores de Geografia, sendo que em 2020 realizou sua 10ª. edição. O objetivo do evento, que já se tornou parte do calendário de muitos professores formadores de Universidades brasileiras, é aprofundar o debate sobre a formação dos professores de Geografia. Como resultados desses Fóruns são publicados livros, apresentando os textos de convidados para o evento e material produzidos a partir dos GTs. Por meio do NEPEG, foram realizadas pesquisas interinstitucionais., uma delas, encerrada em 2008, objetivou traçar um perfil do ensino de Geografia no Estado de Goiás. Outra, recém concluída (2020), “Projetos de formação de professores de Geografia: 10 anos após as Diretrizes Curriculares Nacionais”, foi desenvolvida com o envolvimento de diferentes Universidades do Brasil e analisou Projetos Pedagógicos de cursos de Licenciatura em Geografia. A FORMAÇÃO DE REDES DE PESQUISA 1-REDE DE PESQUISA DO ENSINO DE CIDADE (REPEC) Essa rede de pesquisa, a qual sou coordenadora, foi criada em 2006 e “chancelada” pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG. Seu objetivo é congregar pesquisadores de diferentes instituições do Estado – UEG, UFG, PUC Goiás, Rede municipal de Educação de Goiânia, Rede Estadual de Educação de Goiás e alunos da graduação e pós-graduação do Programa de Geografia da UFG, para realizar investigações sobre o ensino de Cidade e elaborar materiais didáticos temáticos sobre a Região Metropolitana de Goiânia e sobre a Rede Urbana de Goiás. A realização dessas atividades tem sido uma oportunidade de o Curso de Geografia da UFG ter uma maior aproximação com os professores de Geografia da Rede básica de Ensino de Goiás e disponibilizar materiais didáticos para essa Rede. Os produtos – Fascículos Didáticos – produzidos por essa Rede e que fazem parte de uma coleção denominada Aprender a cidade, são os seguintes: 1- Cartografia da Região Metropolitana de Goiânia – 2009, atualizada em 2020. 2- Espaço Urbano da Região Metropolitana de Goiânia – 2009, atualizada em 2020. 3- Violência Urbana na Região Metropolitana de Goiânia – 2009. 4- Bacias Hidrográficas da Região Metropolitana de Goiânia – 2009. 5- Dinâmicas Populacionais da Região Metropolitana de Goiânia - 2014 6- Dinâmica Econômicas da Região Metropolitana de Goiânia - 2013 7- A Relação Cidade-Campo no Território Goiano - 2019 8- Cerrado (em elaboração) 2- REDE LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES EN DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFIA (REDLADGEO). Essa Rede foi formada por ocasião do IX Encontro de Geógrafos da América Latina – EGAL – de 2007, em Bogotá-Colômbia. Professores do Brasil, do Chile, da Argentina, da Venezuela e da Colômbia criaram a rede e, compõem seu Comitê Gestor, desde sua criação até a atualidade: Núbia Moreno Lache, Alexander Celly e Raquel Pulgarin (Colômbia); José Armando Santiago (Venezuela); Marcelo Garrido Pimenta e Fabian Palacio Araya (Chile); Maria Victoria Fernandez Caso e Raquel Gurevich (Argentina) e Sonia M. Vanzella Castellar, Helena Coppeti Callai e Lana de Souza Cavalcanti (Brasil). A intenção da Rede é promover o intercâmbio entre os pesquisadores e socializar as pesquisas da Didática da Geografia produzidas na América Latina. Um dos resultados iniciais da instituição dessa Rede foi a produção do livro sobre o estudo da cidade da/na América Latina, publicado em 2010, intitulado: “Ciudades Leídas, Ciudades Contadas: la ciudad latinoamericana como escenario para la enseñanza de la geografia”, no qual contribuí com dois artigos. Em 2010 (Bogotá: Geopaideia), também foi publicado por essa Rede o livro virtual denominado: “Itinerários Geográficos en la escuela: lecturas desde la virtualidad”. Em 2011, foi criada a revista virtual da Rede, chamada Anekumene e apresentado o número 1 - Geografia, cultura y educación. Os contatos de trabalho desta Rede têm sido feitos de modo virtual, por meio de reuniões virtuais e intercâmbios mais espontâneos; por ocasião dos Encontros de geógrafos da América Latina – EGAL, e especialmente nos Colóquios da Rede – o 1º Colóquio ocorreu em São Paulo, em 2010; o 2º Colóquio, em 2012, em Santiago do Chile; o 3º em 2014, em Buenos Aires, o 4º. em 2016, em Bogotá; o 5º. em 2018, em Goiânia/Pirenópolis (sob minha coordenação), e o 6º. está programado para acontecer em 2021, de forma virtual (em razão da pandemia do Corona vírus) e com sede em Valparaizo/Chile. Após todos esses anos de trabalho junto à essa Rede, considero que sem dúvida trata-se de um projeto exitoso. Atualmente temos essa rede como uma referência para um bom número de investigadores na área da Didática da Geografia (no Brasil, temos 15 grupos, provenientes de vários estados, que fazem parte dessa rede), com vários colegas que a ela pertencem temos feito muitos trabalhos em conjunto, intercâmbio de alunos tem sido feito por seu intermédio, e, acima de tudo, compartilhamos amizade sincera, lealdade e cumplicidade, ajuda mútua no grupo, o que favorece um ambiente de trabalho fecundo e prazeroso. AS PARCERIAS E INTERCÂMBIOS ENTRE UNIVERSIDADES E ENTRE COLEGAS DA ÁREA INTERCÂMBIOS Ao longo dessa trajetória profissional, tenho me integrado a grupos de investigadores para intercâmbio e ampliação de espaços de discussão, no Brasil, em outros países da América Latina (basicamente por meio da Redladgeo) e na Europa. Como resultado dessa integração, tenho participado da constituição de grupos de discussão, realizado eventos, organizado livros, estabelecido parcerias em orientações de pós-graduandos. No Brasil, a participação em eventos acadêmicos, em bancas examinadoras e em palestras e outros tipos de colaborações intelectuais tem sido fundamental para estabelecer intercâmbio com pesquisadores da área. A realização de atividades como essas é muito relevante para consolidar um grupo que investe sua carreira profissional em ações voltadas ao ensino de Geografia. Nesse sentido, destaco a muito fecunda parceria e amizade que tenho estabelecido com as queridas professoras Sônia Maria Vanzella Castellar (USP) e Helena Copetti Callai (UNIJUI), que tem resultado em vários momentos de produção e de atividades de compartilhamento pessoal, intelectual e acadêmico. Com elas compartilho uma amizade longa e plena de cumplicidade, respeito, muito carinho, ajuda mútua e prazer pelos trabalhos conjuntos. Considero que posso citar outros colegas, mesmo correndo o risco de não apontar todos, por se destacarem em interlocução teórica específica e, em alguns casos, cotidiana, como Vanilton Camilo de Souza (UFG), Eliana Marta Barbosa de Morais (UFG) e os demais colegas do LEPEG e do NEPEG; Valéria de Oliveira Roque Ascenção (UFMG); Nestor André Kaercher (UFRGS); Carolina Machado (UFT); Rafael Straforini (UNICAMP); entre outros. Além desses colegas, também registro aqui a parceria com todos os meus orientandos e ex-orientandos, sem distinguir nenhum deles, que tem representado para mim uma rede de colegas, uns mais próximos que outros, com quem divido e compartilho muitos projetos, amizades e encontros de corpo e alma. Com outros países também tenho estabelecido importantes contatos que tem permitido intercâmbio entre as Universidades e, com isso, mútuo (suponho) enriquecimento. Com o Chile, tenho mantido contatos e intercâmbio de orientações de graduandos e pós-graduandos, destacando-se a parceria com os professores Marcelo Garrido Pereira, Fabian Araya Palacio e Andoni Arenas. Por intermédio desses contatos fui convidada, por exemplo, para expor minha pesquisa no Seminário internacional sobre textos escolares de História e Ciências Sociais, em Santiago do Chile, no ano de 2008. O objetivo do evento consistiu em abrir espaço para pesquisadores chilenos e estrangeiros discutirem e trocarem experiências sobre os trabalhos relacionados à didática das Ciências Sociais. Como resultado desse evento, foi produzido um livro (2009), no qual tenho um artigo intitulado: “Elaboración de materiales didácticos temáticos sobre el Área Metropolitana de Goiânia/Goiás”. O intercâmbio com esse país favoreceu minha ida periódica a Santiago para participar de atividades, como professora visitante, da Universidad Academia de Humanismo Cristiano, com Marcelo Garrido Pereira à frente e a Valparaíso, na PUC de Valparaizo, a convite do professor Andoni. Pude também encaminhar, em diferentes ocasiões, alunos da graduação e da pós-graduação para participar de atividades acadêmicas, sob a coordenação de Marcelo Garrido Pereira ou de Andoni Arenas, além de também receber no nosso Programa alunos desses professores. Em La Serena/Chile, a convite de Fabian Araya, participei, como avaliadora externa, de atividades de discussão e avaliação de resultados de pesquisa por ele coordenada, em 2013. A realização dessa atividade foi, também, uma importante experiência para mim e ocasião de muita aprendizagem e de trocas. Em 2019, participei, juntamente com a professora Eliana Marta Barbosa de Morais, como representante do Brasil, de atividades em Valparaíso, juntamente com um grupo de pesquisa da PUC de Valparaíso, do qual participa o professor Andoni, que realiza um trabalho de formação docente colaborativo. Nessa ocasião, também ministramos aulas para um grupo de alunos do curso de pós-graduação em Educação em Ciências. Como resultado desse intercâmbio, fui convidada, em 2020, para ser professora externa no programa de doutorado dessa Instituição. Essa parceria, acadêmica e afetiva, e de amizade, tem se estreitado ao longo dos anos, resultando na vinda desses professores à UFG para diferentes eventos e na organização de diversas publicações no Brasil e no Chile. Em Buenos Aires também tenho participado de algumas atividades e intercâmbio com as professoras Maria Victoria Caso e Raquel Gurevich, o que foi acentuado a partir de 2017, após a realização do meu pós-doutorado, e mais recentemente, desde 2019, mantenho contato fecundo com Verônica Hollman, também uma importante referência para a área. Na Colômbia, participei de algumas atividades por meio de convites de professores Nubia Moreno, Alexander Celly, em Bogotá (presencialmente) e Raquel Pulgarin, em Medelín (de modo virtual). Nesse país, o contato com investigadores da área iniciou-se no Encontro de Geógrafos da América Latina - EGAL, que ocorreu na cidade de Bogotá em 2007, sobretudo com dois colegas: Nubia Moreno Lache e Alexánder Cely Rodríguez, que estavam na organização do evento. Nesse evento, fui convidada a participar de uma Mesa Redonda para falar sobre o ensino de Geografia no Brasil. Ao final do Encontro, como já mencionei, reunimos alguns colegas, da Venezuela, da Argentina, do Brasil e do Chile, e decidimos criar a Rede de pesquisadores em Didática da Geografia, conforme já foi relatado anteriormente. A partir daí, mantive contato periódico com esses dois colegas e com Raquel Pulgarin, que, em 2012, me indicaram para participar de outro evento na Colômbia, dessa vez na cidade de Tunja. Nesse evento, fiz uma conferência e participei, juntamente com colegas do Chile, Venezuela e Estados Unidos, de uma sessão de clausura, bastante desafiadora, com o administrador (Alcaide) do Município e auxiliares, para fazer análise de problemas ambientais daquela cidade. Desse encontro, resultou um livro publicado em 2013, La Educación Geográfica ante los retos del siglo XXI, no qual está um artigo de minha autoria, intitulado La geografía y la realidad escolar brasileña contemporánea: abordaje teórico y la práctica de la enseñanza. Ainda nesse país, em 2014, participei da banca de doutoramento de Alexánder Cely Rodríguez, no Programa de Doctorado Interinstitucional em Educação, da Universidade Nacional Pedagógica de Bogotá. Em 2020, participei em Medelin, a convite de Raquel Pulgarin, como ponente da V Convención Nacional de Educación Geográfica.Relevancia social de la geografía escolar y la educación geográfica, coordenado pela Associação de Geógrafos da Colômbia. Em Portugal, estabeleci intercâmbio com o professor Sérgio Claudino, da Universidade de Lisboa, que tem recebido orientandos meus para estágio de doutorado, sob sua supervisão. Por meio desse contato, foi possível estreitar relações com um grupo de professores portugueses, no qual destaco Luiz Mendes e Maria João, discutindo o currículo da Geografia Escolar na perspectiva da formação cidadã. Como resultado da referida parceria foi publicado na revista Apogeo de Portugal o artigo “A educação geográfica, cidade e cidadania” (SILVA e CAVALCANTI, 2008). Além dessas atividades, minha participação em uma pesquisa coordenada pela Espanha, em conjunto com Sérgio Claudino Nunes e Maria João, da Universidade de Lisboa, tem permitido aumentar os laços acadêmicos e de amizade. O contato com Portugal resultou ainda em convite, da Associação de Geógrafos de Portugal, para fazer conferência em evento internacional - VI Congresso Ibérico de Didática da Geografia. O evento ocorreu na cidade do Porto, em março de 2013, ocasião em que pude manter novos contatos com colegas de Portugal e Espanha. Após essa data, estabeleci novos contatos com o professor Sergio Claudino, em Lisboa e no Brasil, e sempre buscando trocar ideias e projetos, entre os quais destaco o Nós Propomos!, projeto coordenado por Sergio Claudino e que tem “replicas” em vários outros países e em vários estados do Brasil. Na UFG, há uma dessas “replicas”: Nós propomos Goiás!”, coordenada pela professora Karla Annyelly, articulando uma equipe, da qual faço parte, de professores de diferentes universidades, alunos da graduação, pós-graduação e professores da rede básica de ensino. Além desse contato na Europa, também tenho estabelecido intercâmbio com colegas na Espanha: de Madrid, de Sevilha, de Valência e de Santiago de Compostela. Em Madrid, tive contato com Maria Jesus M. Gaite, que foi minha tutora de pós-doutorado, em 2005. Tive também a oportunidade de conhecer, nesse mesmo período, dois outros professores da Universidade Autonoma de Madrid, Clemente Herrero Fabregat e Alfonso García de la Vega, com os quais tenho articulado ao longo dos últimos anos várias atividades, resultando em participação em eventos, palestras, bancas julgadoras, publicações conjuntas e participação em cursos de pós-graduação na UFG e em Madri. Em Sevilha, tenho uma parceria estreita com o professor Francisco F. García Perez (Paco), da Universidade de Sevilha, que se iniciou por ocasião do meu pós-doutorado, em razão de interesses comuns pelo ensino de Geografia e a participação de jovens estudantes nos destinos da cidade. Além de receber três pós-graduandos meus – Vanilton Camilo de Souza, Karla Anyelly de Oliveira e Daniel Valerius Malman - , em sua Universidade, fui convidada pelo professor Paco a participar com ele de um grupo de investigação, para realizar a pesquisa “Estratégias de formación del profesorado para educar en la participación ciudadana”, que foi aprovada em 2011, com financiamento pelo Ministério de Ciência e Innovación - Dirección General de Programas y transferências de conocimiento de España. Esse grupo foi composto por investigadores de Portugal, Itália, Espanha, Brasil e Chile e liderado por Francisco F. García Perez. Em razão dessa pesquisa, pude participar, juntamente com outros colegas brasileiros, de reuniões de trabalho em Sevilha, como a que ocorreu em março de 2012, por ocasião do XXIII Simposio Internacional de Didáctica de Las Ciencias Sociales. Em 2014, foi possível trazer o professor Francisco F. García Perez em um evento em Goiás, quando proferiu palestras. E, em 2017 o professor Paco voltou à UFG para participar da Banca de Doutorado de Daniel Vallerius, meu orientando. Destaco ainda, na Espanha, os professores Carlos Macia, de Santiago de Compostela e Xosé Manoel Souto, de Valência, com os quais tenho mantido contatos periódicos para publicações conjuntas. Com todos esses professores mencionados sigo em contato regular, trocando materiais, informações, artigos, participando de bancas e outras atividades. Posso dizer que fazemos parte de uma rede, ainda que informal, de professores Ibero-americanos, com preocupações com a Didática da Geografia. Também quero mencionar minha experiência de participar como professora colaboradora do Programa da Universidade Pedagógica de Moçambique - UP, em 2014. Essa parceria resultou de contatos feitos em razão da orientação de doutorado de Suzete Lourenço Buque, professora desta Universidade, no período de 2011 a 2013, com a professora Alice C. B. Freia. Nesse doutorado, estou como professora colaboradora desde 2013, o que resultou na minha participação como docente de uma disciplina para o Curso em setembro de 2014, e como co-orientadora, com a responsabilidade de receber alunos de doutorado desse curso no Brasil (com bolsa de Moçambique), em 2015. Em 2020, de forma remota, participei da banca examinadora do doutorado de Eusébio Máquina, na condição de co-orientadora. Dentre as atividades de minha iniciativa, além dessas que já relatei quero finalizar distinguindo uma a mais, por entender que, por sua importância acadêmica e pessoal, não poderia deixar de mencioná-la. Trata-se da criação da Revista Signos Geográficos – Revista do NEPEG. Como coordenadora do Grupo NEPEG, em agosto de 2018, levei ao Fórum a proposta de criar uma revista acadêmica sob a responsabilidade do NEPEG. Aprovamos, em assembleia, a criação da Revista, e a partir daí iniciei as ações necessárias à efetivação desse projeto. Logo após, compus a equipe da Revista: eu, como editora chefe e Eliana Martha Morais, como editora assistente e outros colegas de outras instituições, de outros estados do Brasil e de outros países, como parte do Conselho Editorial e do Conselho Científico. Também conseguimos em pouco tempo a aprovação junto ao IESA e ao Programa de Pós-Graduação de Geografia da UFG para incluí-la no conjunto de revistas da Instituição. Após, também conseguimos rapidamente aprovação da UFG para incluí-la no conjunto de revistas do Portal de Revistas da UFG. Assim, com pouco mais de 2 anos de existência, a revista já tem dois números concluídos, na modalidade on-line e com fluxo contínuo, iniciando em 2021 seu terceiro número. Ainda que precocemente, considero que já se trata de uma revista de referência importante na área, fato que me enche de orgulho e de energia para continuar o trabalho em busca de aperfeiçoá-lo. PARA TERMINAR DE CONTAR.... Quero terminar esse relato com umas breves palavras, entendendo que não estou relatando o fim de uma história, pois ainda quero continuá-la, realizando coisas, embora não saiba bem o que será. Atualmente, estou há uns anos com condições trabalhistas de me aposentar na UFG, mas reluto em efetivar essa condição. Não quero me aposentar ainda. Não que eu não tenha outras coisas a realizar, principalmente no âmbito pessoal. Os cuidados comigo mesmo, com minha mãe, com meu marido, com minha casa, com meus filhos e netos, além de outras atividades de viagem, de lazer, de reuniões com amigos, certamente me encheriam o tempo e me dariam muito prazer, mas penso que não seriam suficientes para mim. Ainda prefiro fazer tudo isso e continuar a ser a professora que sempre fui, por mais alguns anos, desde que a saúde permita, ministrando aulas, pesquisando, escrevendo, coordenando equipes. Sempre que possível, gostaria de fazer isso com mais tranquilidade, mais leveza, sem pressa, sem agonia, sem pressão. Não tenho planos claramente delineados para esse futuro próximo, vou deixando “a vida me levar”. Nesse momento, a preocupação com a pandemia nos deixou, a todos nós, com muitas propostas em suspenso, e enfrentando o que tinha inevitavelmente de ser feito do modo que era possível. Assim foi 2020, muitas atividades remotas, muitas lives, muitas reuniões para discutir o que fazer diante do quadro de crise que passamos. Assim, creio, será 2021. Ainda um ano muito tenso, na espera da vacina e da superação da pandemia, mas com muitas incertezas. Mesmo assim continuaremos nossas atividades. Eu pretendo continuar realizando o que a realidade demanda, conforme meu perfil pessoal e meus limites intelectuais e físicos. Nesse sentido, penso que seja importante reafirmar que não fui, e acho que nem serei, uma atuante de movimentos políticos e sociais, mas sempre defendi causas e pautei meu trabalho nessas causas, pela justiça, pela igualdade social, pela inclusão, pelos direitos humanos, pelos direitos dos povos minoritários quantitativamente, pelos pobres, pela mulher. Continuarei seguindo essas causas, com todas as dificuldades que sabemos que existem em nossa realidade brasileira e mesmo mundial, mas sem perder principalmente a esperança, de que algo posso fazer para superar dificuldades, para ajudar as pessoas a superá-las. Esperança em um mundo melhor, onde haja o predomínio de pessoas do bem, pessoas generosas, com empatia pelos outros, pessoas justas, pessoas humildes e amorosas. Esperança de que juntas essas pessoas consigam pensar e atuar em uma sociedade melhor, mais respeitosa, mais inclusiva, mais democrática e menos desigual, menos cruel, menos sectária. Esperança que às vezes se esvai, mas que sempre se renova... Assim, termino esse relato com um poema de Mario Quintana, que fala justamente em esperança, porque a vida continua e nela a esperança renasce....sempre "Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano Vive uma louca chamada Esperança E ela pensa que quando todas as sirenas Todas as buzinas Todos os reco-recos tocarem Atira-se E — ó delicioso voo! Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, Outra vez criança… E em torno dela indagará o povo: — Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá (É preciso dizer-lhes tudo de novo!) Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam: — O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA…" REFERÊNCIAS BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Cidadania e democracia. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, n. 33, p. 5-16, 1994. CARLOS, A.F.A. O direito à cidade e a construção da metageografia. Cidades: Revista Científica/Grupo de estudos urbanos, vol. 2, n. 4. Presidente Prudente, Grupo de Estudos Urbanos, 2005. ______________. O lugar no/do mundo. São Paulo: Hucitec, 1996. CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. FERNÁNDES, Olga María Moreno. Educación ambiental y educación para la ciudadanía desde una perspectiva planetária: estudio de experiencias educativas en andalucía. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Tesis Doctoral, 2013. GAUTHIER, C. Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o saber docente. Ijuí: Unijuí, 1998. HARVEY, D. Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1989. LEFEVBRE, H. A produção do espaço. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins (do original: production de l’espace. 4ª ed. Paris: Éditions Anthropos, 2000). Primeira versão: início – fev. 2006 _____________. O direito à cidade. São Paulo: Morais, 1991. NÓVOA, A. Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. NÓVOA, A. Os professores e as histórias da sua vida. In.: NÓVOA, A. (org) Vida de professores. Porto: Editora Porto, 1995. OLIVEIRA, M. P. Geografia, globalização e cidadania. Terra Livre, São Paulo, v. 1, n. 15, p. 155-164, 2000. SACRISTÁN, J. G. Os professores como Planejadores. In: Sacistán, J G; GÓMEZ, P.A.I. Compreender e transformar o ensino. 4° ed. São Paulo: Artmed, 1998, p.127-293. SACRISTÁN, J. G. Reformas educacionais: utopias, retórica e prática. In: SILVA, T.T; GENTILI, P. Escola S.A – quem ganha e quem perde no mercado educacional do neoliberalismo. Brasília: CNTE, 1996. SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo. Razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996. SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 7ªed, 2007. SANTOS, Milton. As cidadanias mutiladas. In: LERNER, Júlio (Org.). O preconceito. São Paulo: Impressa oficial do Estado, 1996/1997. p. 133-144 SANTOS, Milton. Por uma geografia cidadã: por uma epistemologia da existência. Boletim Gaúcho de Geografia, Porto Alegre, n. 21, p. 7-14, agosto 1996. SANTOS, Andrea Pereira; CHAVEIRO, Eguimar Felício. A constituição das identidades juvenis na metrópole contemporânea: A interface entre lugares e práticas socioespaciais. In: Os jovens e suas espacialidades. Orgs: CAVALCANTI, L. S; PAULA, F. M. A; PIRES, L. M. Goiânia: Editora Espaço Acadêmico, 2016. p. 71-92 VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993. VYGOTSKY, L.S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
LANA DE SOUZA CAVALCANTI A DOCÊNCIA E O ENSINO DE GEOGRAFIA: EIXOS CENTRAIS DE UMA TRAJETÓRIA DE VIDA E DE PROFISSÃO Lana de Souza Cavalcanti MINHA HISTÓRIA: PORQUE CONTÁ-LA Nos últimos anos, em razão de meu tempo de trabalho e de minha idade, tenho tido oportunidade de retomar lembranças de momentos diferentes da minha vida. Uma delas foi a escrita de um memorial para o concurso de Professora Titular na Universidade Federal de Goiás, em 2015, quando pontuei marcos da minha trajetória profissional e de formação. Após esse momento, recebi um convite para escrever um artigo sobre minha história de professora, para um livro publicado com a organização da professora Jussara Fraga Portugal. E, neste momento, faço um novo relato da minha história de vida e de formação, motivada pelo convite que me fizeram, a professora Joseli Maria Silva e Tamires Regina, para escrever autobiografia para compor o Observatório da Geografia Brasileira. Agradeço a vocês por essas oportunidades de reunir coisas da minha vida, do meu passado, em relatos que me permitem fazer um balanço e seguir em frente. Bom, estou mesmo ficando velha e acumulando histórias para contar. Nessas narrativas que fiz estão muitos eventos repetidos, entrelaçados, mas em cada texto, pelo tipo de demanda que os originaram, pela subjetividade de cada momento, percebo que a narrativa é diferente, talvez porque privilegie alguns episódios em detrimento de outros, o que reforça a ideia de que um relato é sempre uma leitura, uma interpretação datada do fato, real ou imaginário, relatado. Não tenho uma trajetória de vida marcada por fatos e eventos extraordinários, ao contrário, minha história é comum, feita de pequenos e seguidos momentos de escolhas, de renúncias, de realizações, de perdas, de ganhos. Minha história é como a de muitas pessoas do meu tempo, da minha geração. Então, me pergunto: vale a pena contá-la? Não sei dizer ao certo. Acho que vale, não pelo extraordinário, mas por expor uma história que pode ser como a de muitas pessoas, tantas mulheres, trabalhadoras, lutadoras em busca de coisas que acredita e, felizes por conseguirem realizar, construir, produzir objetivamente sua própria vida. Então, não esperem relatos edificantes, mas uma narrativa de vida construída a cada passo e a cada decisão, em conjunto com parceiros da vida, do trabalho, dos projetos. MINHA FORMAÇÃO: COMO PESSOA E COMO PROFISSIONAL Eu nasci em 14 de março de 1957, em uma cidade pequena do interior de Goiás, Piracanjuba, distante 80 km de Goiânia, e que hoje tem cerca de 30 mil habitantes. Lá cresci junto aos familiares da minha mãe e a outros muitos conhecidos dos meus pais. Embora a família da minha mãe fosse de origem rural, ela, como filha caçula de 13 irmãos, estudou parte do tempo na cidade e tinha aversão ao mundo “da roça”. Casou-se com meu pai aos 21 anos, um advogado de 32 anos, irmão do então prefeito da cidade, que veio de outra cidade. Meu pai era natural de Pires do Rio, cidade próxima de Piracanjuba, filho de comerciante e de uma família conhecida da cidade. Estudou em Uberaba e depois fez direito no Rio de Janeiro. Seu mundo também era urbano, desde que se entenda como urbano o modo de vida das pessoas que viviam nas pequenas cidades do interior de Goiás, nas décadas entre 1920 e 1960. Meus pais tiveram 5 filhos, sendo eu a terceira mulher, seguida por dois homens. Em Piracanjuba vivi até os 8 anos, quando nos mudamos, toda a nossa família, para Goiânia, a capital do Estado. No entanto, tive a influência daquela cidade e de sua cultura por mais alguns anos, pois era ali que passava as férias no meu tempo de adolescência e juventude, convivendo com os parentes mais próximos: avós, tios, primos e amigos que ali fizemos. Desse período da infância e adolescência, poderia destacar muitas coisas que ainda hoje carrego em mim, como lembranças, mas também como marcos da minha personalidade. Uma delas, a cultura urbana muito influenciada pelo rural: não gosto especialmente da vida rural, de estar no meio do mato, essas coisas, fui e sou tipicamente uma pessoa de classe média urbana, que gosta do barulho, do asfalto, dos carros, dos confortos das casas e apartamentos em cidades, dos aparelhos domésticos, das comidas produzidas industrialmente. Mas, ao mesmo tempo, tenho muitos gostos de infância que me atraem demais até o presente: comidas como pequi, pamonha, milho cozido, assado, e frutas como jabuticaba, manga, goiaba, tamarindo, caju. Gosto, não só de cada sabor desses alimentos, mas também de todo o ritual que envolve a colheita, o fabrico e também a sua própria degustação quando está pronto. Minha infância foi marcada por esses alimentos, que em minha lembrança sempre se misturam aos momentos de lazer, pois enquanto os pais elaboravam as comidas, os filhos (amigos e primos) se juntavam e iam brincar, e em alguns momentos ajudavam também em etapas do preparo da comida. Das brincadeiras, lembro-me especialmente daquelas coletivas que ocorriam ao ar livre, nos quintais ou mesmo na rua da minha casa, a “queimada”, o “bete”, o pique-esconde, o pique-pega, o pular cordas, entre outras. Outro aspecto de minhas lembranças do período em que vivi em Piracanjuba foi minha escolarização. Nada especial, mas foram momentos marcantes. Fui aluna do Grupo Escolar da cidade. Era uma boa aluna, sempre muito “comportadinha”, acredito que não dava trabalho aos meus pais para estudar os “pontos” para as provas, por exemplo. E, associado a esse período de escolarização, considero que o ambiente em casa marcou indelevelmente minha trajetória escolar. Minha mãe era, como se dizia na época, “dona de casa”, ou seja, não trabalhava fora. Mas, tinha sempre alguém para fazer os trabalhos domésticos e ela fazia a parte de administração. Meu pai era o provedor, o trabalhador, tinha 3 atividades profissionais diferentes, segundo ele, para conseguir dar um bom padrão de vida para a família. Ele exercia a advocacia, era sócio de uma pequena fábrica de manteiga e era professor. Um homem conservador, de moral rígida, mas bastante amado e admirado por todos. Era um homem muito culto, desses que eram fonte de pesquisa de muita gente, em todos os assuntos. Esse fato ocorria em um momento em que a consulta aos mais estudados e mais velhos, em contextos como esse de cidade pequena no interior de Goiás, era muito importante para a formação, principalmente dos jovens e crianças da sociedade. Na época, não havia televisão, não havia internet, e as enciclopédias não eram comuns, não eram de fácil acesso. Então, eu cresci vendo muitas pessoas, em geral jovens, visitando nossa casa para conversar com meu pai sobre uma dúvida qualquer de conhecimento, e principalmente de escola. Meu pai, mesmo sem formação específica para o magistério, era professor de diferentes matérias, português, matemática, ciências, no “ginásio” da cidade, além de ser também seu diretor por muitos anos. Essa referência foi muito importante, creio, para minhas primeiras imaginações profissionais. Eu queria ser cientista ou professora, afinal era isso que via meu pai fazer rotineiramente: lecionava, preparava as aulas, lia, recebia em casa pessoas para consultas da escola ou de advogado e, nos momentos de folga, ainda o via inventar coisas: ele construía aparelho de rádio como robe. E em minhas brincadeiras eu era frequentemente professora. Na juventude, morando em Goiânia, tive pouca experiência e aventuras independentes, afinal era filha de um pai rígido que mantinha o cotidiano de suas filhas sob seu controle, sem muita liberdade para saídas, para festinhas, para viagens. Mesmo assim, namorei muito às escondidas, frequentei algumas festinhas e fiz umas poucas viagens. Tinha sempre grupo de amigas com quem compartilhava experiências, descobertas, angústias, dúvidas próprias de adolescentes e jovens. Estudei quase sempre em escolas públicas, pois eram escolas que ofereciam uma boa formação. No ensino médio, continuei na escola pública, mas, em 1975, fiz o preparatório para o vestibular em uma boa escola privada. Pensei, inicialmente, em fazer o curso superior de Farmácia, mas era difícil passar, pois a concorrência era muito grande e, então, decidi fazer licenciatura em Geografia, por gostar da matéria, por influência do meu pai, que continuava exercendo a docência em Goiânia, e de uma prima que havia feito esse curso. Naquela época já gostava de ser professora, havia tido experiências ocasionais de dar aulas de reforço para algumas crianças com dificuldades de aprendizagem, o que havia me proporcionado muito prazer. Mas, a escolha do curso não foi uma decisão muito consciente e fundada num ideal. Na verdade, foi mais pragmática. Queria garantir minha aprovação no vestibular, porque meu pai havia presenteado minhas irmãs mais velhas com viagem ao Rio de Janeiro, quando foram aprovadas no vestibular, e eu queria ser também contemplada com esse presente. Mas, como sempre digo para meus alunos: eu poderia ter cursado Farmácia, e provavelmente hoje seria uma professora de alguma matéria nessa área. Fiz minha graduação em Geografia – Licenciatura, no período de 1976 a 1979, na Universidade Federal de Goiás- UFG. Era um período de muita repressão política ainda, a ditadura militar estava ainda sendo “desmontada”, o projeto de anistia para os militantes do movimento contra a ditadura estava em curso. E, assim como no ensino médio, a estrutura dos cursos havia passado por reformas, o clima era de despolitização e de racionalização das atividades. No início, então, havia algumas matérias básicas que eram feitas juntamente com alunos de outros cursos. As discussões e as leituras que questionavam a política dominante no país eram desencorajadas, mas muitas eram realizadas na clandestinidade. Ainda no primeiro ano do curso fui convidada por meu antigo professor do preparatório do vestibular para dar aulas na mesma escola em que eu havia sido aluna. Aceitei o desafio, mas com muita insegurança, afinal ainda estava somente iniciando minha formação. Era uma escola de orientação tecnicista, voltada para preparar para o vestibular, como já disse. Trabalhei nessa escola por um ano e em seguida fui para outra escola com a mesma orientação pedagógica, e ali trabalhei até o final da minha graduação. Aceitei trabalhar com pequena carga horária, pois queria priorizar meus estudos. Além do mais, havia me casado no início do ano de 1979, e, também, precisava me dedicar às demandas de uma jovem mulher casada aos 22 anos. Já nesse período comecei a me acostumar com o acúmulo de funções e de atividades rotineiras como: mulher, dona de casa, professora, aluna e monitora do curso. Conseguia me organizar bem com esses diferentes papéis que desempenhava. Essa primeira experiência de trabalho formal, dos 18 aos 20 anos, foi importante para reafirmar meu gosto pela docência, apesar de não me adaptar com a orientação pedagógica das duas escolas, gostava muito de estar em sala de aula, em trabalho junto aos alunos. No início, o curso de graduação era marcado por uma Geografia tradicional, com muita memorização e muita informação fragmentada. Mas, já se inseriam orientações diferentes, que hoje entendo como representando a coexistência de diferentes orientações teóricas que marcaram uma transição na Geografia brasileira, nas décadas de 1970/1980: uma mais clássica, outra mais técnica - a New Geography, voltada sobretudo à pesquisa e ao planejamento e outra de orientação crítica, predominantemente marxista. Naquele contexto, foram muitos os bons professores que contribuíram para minha formação, mas destaco três deles, por terem mostrado uma Geografia nova, dinâmica, fecunda: Tércia Cavalcante, Antônio Teixeira Neto e Walter Casseti. Os três foram referências importantes naquele momento para renovar o curso, com novos referenciais, novas teorias e novas práticas. A professora Tércia era professora de Geografia Regional e contribuiu muito com suas maneiras de ministrar as aulas, provocando o debate, e pelas leituras que indicava, explicando teoricamente a Região com os referenciais do marxismo e com a teoria do desenvolvimento desigual e combinado. O professor Neto era professor de Cartografia. Com ele aprendi a refletir sobre o significado e a finalidade da representação cartográfica, e de como realizá-la tendo em conta que se trata de uma linguagem, que para ser vista e bem analisada é importante atentar-se para a lógica de seus símbolos: a semiologia gráfica. O professor Walter era professor de Geografia Física, Geomorfologia. Ensinou-me a não só apreender as classificações (complicadas) do relevo, mas também a compreender os processos dinâmicos de sua formação (explicava a dinâmica das vertentes), destacando-se neles o papel da ação antrópica. Esses professores e a atuação que pude ter como monitora no departamento durante três anos de minha formação propiciaram uma formação consistente e crítica na área. Destaco também as referências teóricas naqueles anos: de Milton Santos, que visitou o curso em 1979 para divulgar seu livro Por uma Geografia Nova, e de Yves Lacoste, com o livro (que líamos em xerox) A Geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. A leitura e a discussão dessas obras, entre outras, marcaram minha formação. Esses elementos da formação foram importantes na constituição inicial de uma proposta de atuar com uma Geografia Crítica, com orientação marxista e voltada para a compreensão das contradições e desigualdades sociais. Tal proposta não coadunava com a empreendida pelo colégio em que eu, naquele tempo, trabalhava. Em razão dessa falta de identificação com as práticas pedagógicas do colégio, eu me demiti no final de 1979, justamente quando concluía meu curso. Logo após a conclusão de minha graduação, no início de 1980, uma colega muito querida, que também havia sido monitora do departamento, me convidou para trabalhar em um órgão de planejamento do Estado – Instituto de Estudos Urbanos e Regionais - INDUR. Aceitei e comecei a trabalhar, em 1980, com essa colega – Neli Aparecida do Amaral – que coordenava a equipe de cartografia desse órgão. Nele trabalhei como técnica em planejamento até 1988, atuando em equipes diferentes: primeiramente na cartografia, elaborando o mapa do Aglomerado Urbano de Goiânia, que reunia a capital do Estado e os municípios limítrofes, delineando o que viria a ser o embrião da Região Metropolitana; após realizar esse trabalho, atuei na equipe de análise e aprovação de loteamentos urbanos na área de expansão da cidade e também na equipe que realizou um estudo para propor uma regionalização para Goiás, para fins de planejamento. Todo esse trabalho era muito relevante para o desenvolvimento social e econômico do Estado e da sua capital, porém, era muito decepcionante assistir às ingerências políticas que nele ocorriam. Na maioria das vezes, sem critérios técnicos, os políticos decidiam os projetos que poderiam ser realizados e os que seriam “engavetados”. Nesse período, tive uma pequena experiência de ensinar em escola pública, com contrato temporário, visando perseguir meu interesse maior na profissão, que era pela docência. Enquanto trabalhava no INDUR, também tive meus três filhos, André, Diogo e Lucas, que têm hoje 40, 38 e 34 anos, respectivamente. Sempre conciliando trabalho de jornada integral e a responsabilidade com minha casa e com a criação dos filhos, me organizando nos horários para garantir os tempos mínimos necessários para dar atenção a eles. Meu marido viajava muito a trabalho e na maior parte do tempo eu tinha de cuidar de tudo sozinha, com a ajuda de uma empregada doméstica (tive algumas, sempre permanecendo por muitos anos em minha casa, mulheres guerreiras, ótimas, confiáveis e muito amáveis com meus filhos). Em função dessas demandas, era rígida com meus horários, com minha rotina, saía de casa logo cedo para trabalhar, mas sempre voltava para almoçar e, no final do dia, ia diretamente para casa, não me permitindo muito ter vida social e lazer fora da família. Tinha, portanto, uma vida limitada ao mundo particular e imediato, mas sempre atenta ao que acontecia na sociedade, na administração pública, nos níveis federal, estadual e municipal, e sempre sensível aos atos de injustiça social, de corrupção, de não reconhecimento dos direitos dos cidadãos. Nessa época, mesmo com esses limites que apontei, realizei, entre 1985 e 1986, um curso de especialização em Planejamento Urbano e Regional, ofertado pela UFG, com a finalidade de me aperfeiçoar na profissão. Em 1986, com meu filho caçula com apenas um mês, fiz um concurso e fui aprovada para professora efetiva na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Assim, iniciei minha atuação profissional como professora do Ensino Superior, logo que fui contratada no final desse mesmo ano. Inicialmente conciliei essa atividade com a outra, de técnica em planejamento, mas assim que foi possível, solicitei um regime de dedicação exclusiva na Universidade e deixei o trabalho no INDUR, podendo me dedicar mais à nova atividade. Na Faculdade de Educação, minha atribuição principal era a docência para as turmas de Estágio Supervisionado em Geografia. O Curso naquela época tinha a estrutura chamada de 3+1, ou seja, os alunos cursavam três anos de disciplinas de conteúdo específico (geográfico) e um ano (o último) de disciplinas pedagógicas, entre as quais estava o Estágio Supervisionado. No primeiro ano como professora da Faculdade de Educação, estava ainda em adaptação quando surgiu a oportunidade de prestar a seleção para cursar o mestrado no meu próprio local de trabalho. Fui aprovada e realizei, assim, o Mestrado em Educação Escolar Brasileira, no Programa de Mestrado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, no período de 1987 a 1990. A realização do Mestrado foi particularmente importante para mim. Meus limites em casa, embora comuns, eram muitos, pois os filhos ainda pequenos me requeriam atenção todo o tempo. Com as demandas postas, aprendi a estudar, como sempre brinco com meu caçula, com um bebê no meu pescoço, não desperdiçava nem um minuto de tempo livre. Nesse período, fiz um curso livre de filosofia (aos sábados à tarde), que objetivava formar quadros para o partido comunista, com os fundamentos marxistas. Esse curso me ajudou muito na leitura de Marx e de marxistas, o que, por sua vez, me ajudou a compreender as leituras indicadas na pós-graduação. O Mestrado era um curso bastante exigente (eu era da segunda turma de um recém aprovado programa de pós-graduação, que buscava obter boa avaliação entre os pares e junto à Capes), tinha muitas leituras, debates em sala de aula e trabalhos monográficos para fazer. Considero que esse foi um momento marcante de meu amadurecimento e autonomia intelectual. Ele propiciou momentos significativos de crescimento profissional e, também, pessoal, o que resultou em revisões quanto a valores e projetos de vida. Durante sua realização, fiz amizades e interlocuções com colegas queridos, muitos dos quais ainda hoje tenho contato e parceria, de trabalho e de vida. Destaco, entre eles, minhas amigas Sandramara, Dalva, Verbena (já falecida) e Maria Augusta. Em 1989, me divorciei e, além de todas as dificuldades comuns de conciliar família e trabalho, passei a lidar com dificuldades com meu pai, que não aceitava a separação, dificuldades financeiras e de logísticas quanto aos cuidados com a casa e os filhos. Mas, segui em frente, conseguindo superar os desafios apresentados a cada dia, mesmo com meus limites. Terminei o mestrado em março de 1990, com a dissertação intitulada “O ensino de Geografia em escolas de ensino fundamental de Goiânia”, uma pesquisa que teve como foco a busca de metodologias de ensino de Geografia mais críticas, evidenciadas na prática de professores do Ensino Fundamental. Em 1993, iniciei meu doutorado no Programa de Pós-graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, no mesmo ano em que, por uma mudança na estrutura dos cursos de licenciatura da UFG, passei a ser lotada no Departamento de Geografia dessa Universidade. Ali trabalhei inicialmente com disciplinas pedagógicas, embora tenha ministrado outras como Geografia Regional e Geografia Urbana. Nessa mesma época me casei pela segunda vez, com José Carlos Libâneo, que havia sido meu orientador de Mestrado. Com ele passei a dividir muitos projetos de vida, nossos filhos dos primeiros casamentos - ele tinha dois e eu três – nossos amigos, nossos colegas de profissão e, também, a compartilhar muitas preocupações políticas, pedagógicas e sociais. Até hoje tenho com ele uma maravilhosa, amorosa e real vida a dois: cada um tem seus projetos e caminhos pessoais e profissionais, mas compartilhamos nossas ideias, nossa concepção de mundo, nossa casa, nossos filhos, nossos netos, que já são sete, e a família. Terminei meu doutorado em 1996, com a tese “A construção de conceitos geográficos no ensino: uma análise de conhecimentos geográficos de alunos de 5ª. e 6ª. séries do ensino fundamental”, orientada por José Willian Vesentini. Fiz estudos seguindo a linha já iniciada no mestrado, firmando uma preocupação com a formação de professores de Geografia e sua orientação pedagógica, formulando minha compreensão dos fundamentos de um método dialético no ensino de Geografia, na linha histórico-cultural de Vygotsky, dando ênfase ao processo de formação de conceitos geográficos, a partir do encontro e confronto de conceitos cotidianos e científicos. MATURIDADE INTELECTUAL E INSERÇÃO NA PRODUÇÃO GEOGRÁFICA BRASILEIRA A tese que defendi no doutorado foi publicada como livro com o título “Geografia, escola e construção de conhecimentos”, em 1998, pela Editora Papirus. É uma editora bem conceituada e de boa circulação nacional, e propiciou uma ampla divulgação do meu trabalho, com várias edições até a atualidade, tornando-se uma referência do meu trabalho para muitos estudantes de graduação, de pós-graduação e de professores da rede básica de ensino. A partir da publicação desse livro, passei a ser convidada para palestras em várias partes do país, defendendo a proposta de um ensino crítico de Geografia, que buscasse uma aprendizagem significativa dos alunos. E, iniciei assim uma trajetória de pesquisadora, de intelectual que busca contribuir com a produção de fundamentos teóricos e práticos para a área do ensino de Geografia. Voltei da licença concedida pela Universidade para o doutorado em 1996, quando o Departamento de Geografia havia crescido bastante e se transformado em Instituto de Estudos Sócio-Ambientais - IESA, oferecendo, além dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Geografia, o Mestrado em Geografia. Logo que retornei ao então Instituto, assumi uma disciplina obrigatória no Mestrado: Teoria e Método, e continuei a trabalhar com ela por muitas vezes, ora sozinha, ora em parceria com colegas. Além de ministrar essa disciplina obrigatória, a partir de 2002, até o momento atual, também passei a ministrar regularmente as disciplinas “Espaço urbano, Cidadania e Dinâmica Cultural” e “Formação de professores de Geografia”. Na graduação, continuei a trabalhar com as disciplinas pedagógicas. A docência nessas disciplinas foram fundamentais para meu amadurecimento intelectual, pelo contato com os alunos, que propiciou sempre muitos bons debates, pela preparação e pelas leituras exigidas para ministrá-las. Com essas disciplinas e pelo meu perfil de formação e de atuação profissional fui delineando uma área de interesse de pesquisa e de orientação de alunos. Essa área é resultado da articulação de 3 fontes de reflexão: 1- minha experiência em planejamento urbano, 2- a Geografia Urbana, destacando como fontes teóricas básicas Henri Lefebvre, Milton Santos, Ana Fani A. Carlos e David Harvey, Edward Soja, 3- a área da educação e do Ensino de Geografia, orientando-me por autores da linha de Lee Semenovich Vygotsky, psicólogo russo do século XX, que investigou o desenvolvimento intelectual de crianças e a aprendizagem, com base na dialética. Nesses mais de 30 anos de magistério, poderia destacar muitas atividades e muitos fatos, eventos, que me deram prazer em fazer e/ou participar, mas é um longo período e dele consigo relembrar alguns poucos. Um deles é a minha presença em sala de aula, uma imagem difusa, que se coloca em diversas situações, com diferentes grupos de alunos, em número e níveis de formação diferentes, mas sempre com um misto de tensão e prazer. Tensão por ter de estar em prontidão para saber o que fazer diante de qualquer circunstância colocada e prazer de poder estar com um grupo (geralmente de jovens) para ajudá-los em seu desenvolvimento intelectual, social e afetivo. O prazer era sempre maior que a tensão, esse prazer se estende enormemente em minha atividade de orientação, na graduação e na pós-graduação. Hoje já tenho contabilizado mais de 150 orientações concluídas em graduação (trabalho final de curso, iniciação científica, Programa de Educação Tutorial-PET), mestrado, doutorado e pós-doutorado, o que considero um número bem expressivo. Sempre exerci essa atividade com muita motivação, leveza, respeito mútuo e satisfação, procurando expor e defender meu modo de ver as coisas na Geografia, na profissão docente, na vida, mas sem impor esse modo a nenhum aluno, ao contrário, respeitando e incentivando a formulação de suas próprias ideias. Embora tivesse que assumir muitas outras atividades em minha vida profissional, como coordenações da Graduação e Pós-Graduação, assessorias na administração superior da UFG, assessoria na CAPES, entre outras atividades, sempre dei prioridade à atividade de ensino, pois acima de tudo sou professora, e minha realização maior nessa profissão é o que posso fazer (pelo menos tento fazer) juntamente aos alunos. Atuei também, entre os anos de 2006 e 2010, como coordenadora e professora do Curso de Docência no Ensino Superior, oferecido pela Pro-reitoria de Graduação da UFG. Nesses anos e em outras experiências subsequentes, conheci muitos professores que estavam ingressando na UFG, portanto representantes de uma “nova geração”. Com eles dialoguei, tive contato breve com seu trabalho de docência e pude ouvir seus depoimentos a respeito do que consideram seus principais dilemas, desafios e expectativas relacionadas ao exercício da profissão. Asseguro que esse contato foi bastante relevante para que eu pudesse continuar exercendo minhas atribuições. Embora não tenha me tornado uma especialista na área de Metodologia do Ensino Superior, que é um campo de investigação muito amplo e exigiria maior dedicação do que eu poderia ter, posso dizer que conheço um pouco a área. Percebo algumas das dificuldades da gestão acadêmica no âmbito das Universidades públicas, diante de um corpo docente que trabalha frequentemente de modo isolado, buscando intensamente “produzir” seu “lattes”, com inúmeras ocupações acadêmicas, que nem sempre tem identificação com a docência, que busca maior atuação na pesquisa e na pós-graduação. Ressalta-se que na Universidade, muitas vezes, os professores recebem maior incentivo para pesquisa e pós-graduação do que para a atividade docente, sobretudo na graduação. Para além disso, posso dizer que essa experiência profissional contribuiu significativamente para meu próprio amadurecimento como professora, fortalecendo minha convicção de que o exercício da docência é bastante complexo e exige uma formação específica, muito além do conhecimento da matéria a ensinar. Articulada a essa dimensão do ensino, sempre dei também prioridade à atividade de estudo e pesquisa, pois para ensinar eu necessito estudar, estar atenta ao que se passa na sociedade, na escola, na academia. Entendo, assim, que as atividades investigativas são inerentes à docência. Na Universidade, e principalmente para os que concluem seus doutorados, a atividade de pesquisa tem uma relevância mais acentuada e por isso mesmo é institucionalizada em projetos, em submissão de aprovação e em financiamento pela própria instituição ou por outras agências de fomento. Nesse sentido, considero adequado salientar aqui a linha de investigação que fui tecendo ao longo de minha carreira, em coerência com as disciplinas ministradas na graduação e na pós-graduação e com as orientações que tenho feito. Para a tessitura dessa linha foram salientados, e tem sido ainda, alguns sujeitos, objetos e categorias. Os sujeitos sempre foram os professores de Geografia, em formação inicial ou os profissionais que já exercem sua docência na escola básica, e os alunos da escola de nível básico e seus processos de aprendizagem. Os objetos que posso mencionar como recorrente nas pesquisas que realizei e realizo são: os conteúdos e conceitos geográficos; as práticas docentes e seus métodos de ensinar; as práticas de formação profissional; os recursos didáticos, com destaque para os livros didáticos. E quanto às categorias, posso selecionar aquelas que dão norte às pesquisas: Geografia, pensamento geográfico, conceitos geográficos, docência, método de ensino, jovens escolares, cidade, espaço urbano, cidadania. Na articulação entre esses elementos, foram delineadas algumas problemáticas de pesquisa, com o propósito de identificar seus fatores condicionantes e, também, potenciais de equacionamentos possíveis, dentro de um fundamento teórico de compreensão da realidade, o método dialético. Para exemplificar esses caminhos investigativos, destaco a seguir alguns projetos realizados mais recentemente por uma equipe de profissionais e alunos em formação, sob minha coordenação: TÍTULO DO PROJETO - Lugar e cultura urbana: um estudo comparativo sobre saberes docentes de professores de Geografia no Brasil (2004 - 2009) - Elaboração de materiais didáticos temáticos sobre a área metropolitana de Goiânia (2007 - 2009) - Tendências da Pesquisa sobre o ensino de cidade na Geografia e suas contribuições para a prática docente (2009 - 2012) - Pesquisa colaborativa sobre demandas de produção Didática para o Ensino de Geografia na Região Metropolitana de Goiânia (2010 - 2013) - Aprender a cidade: uma análise das contribuições recentes da Geografia Urbana brasileira para a formação de jovens escolares (bolsa produtividade) (2010 - 2013) - Estrategias de formación del profesorado para educar en la participación ciudadana (2012 - 2014) - Formação inicial de professores de Geografia: experiências formativas para atuar na educação cidadã (2012 - 2014) - Jovens escolares e a vida urbana cotidiana: um eixo na formação de professores de Geografia (bolsa produtividade) (2013 - 2016) - A mediação didática para o estudo de cidade e a formação de professores em Geografia: contribuições metodológicas para o desenvolvimento do pensamento teórico-conceitual sobre cidade e vida urbana (bolsa produtividade) (2016 - 2019) - Ciência geográfica na escola: formação do pensamento geográfico para a atuação cidadã (2019 - Atual) - Formação/Atuação de professores de Geografia, conhecimentos profissionais e o pensamento geográfico: práticas docentes com conteúdos escolares para a vida urbana cidadã (bolsa produtividade) (2019 - Atual) Também articulada à dimensão do ensino, estão minhas atividades voltadas à extensão, ou seja, à relação mais direta com a sociedade, buscando dar efetividade ao que se produz na Universidade. Na relação com a comunidade acadêmica, podem ser destacadas minha participação em eventos, como ouvinte, como apresentadora de trabalhos, como parte da comissão organizadora ou como coordenadora. Nessa linha também destaco as palestras e mesas redondas que tenho participado em toda a carreira, no Brasil, em outros países da América Latina e na Europa (Portugal e Espanha). Destaco, entre os eventos que participo com maior regularidade, o Seminário Educação e Cidade (SEC-IESA), o Encontro Nacional de Práticas de Ensino de Geografia (ENPEG), o Encontro Nacional de Geógrafos (ENG), o Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia (ANPEGE), o Fórum Nacional de Formação de Professores de Geografia (Fórum NEPEG), o Simpósio de Geografia Urbana (Simpurb), o Encontro de geógrafos da América Latina (EGAL), o Colóquio da Rede Latino-americana de pesquisadores de Didática da Geografia (Redladgeo). Na coordenação de eventos, destaco várias edições do Seminário Educação e Cidade, do Fórum Nepeg, uma edição do ENPEG, uma edição do Colóquio da Redladgeo. Sobre esses Encontros, saliento o XI ENPEG, com a temática “Produção do Conhecimento e Pesquisa no ensino da Geografia”, que ocorreu em abril de 2011, em Goiânia, sob minha coordenação geral. A coordenação desse evento permitiu o contato com muitos pesquisadores da área (registrou-se a participação de aproximadamente 600 pessoas), que realizam atividades de ensino e pesquisa em diferentes regiões do Brasil, e uma maior compreensão das diferentes linhas e perspectivas por eles desenvolvidas. Outro evento que destaco, pela oportunidade que tenho tido de participar, desde 2011, é o ENANPEGE, como uma das coordenadoras do Grupo de Trabalho sobre Ensino de Geografia. Também é importante destacar a coordenação geral dos eventos Fórum NEPEG, realizado a cada dois anos, desde 2001, e do Seminário Educação e Cidade, realizado anualmente nas dependências da UFG, desde 2004. Além de buscar manter relações constantes com a comunidade acadêmica, sempre foi uma grande preocupação estreitar vínculos entre a Universidade e a Escola. Tenho feito essa tentativa em diferentes frentes de trabalho, em atividades formativas com os professores da Rede básica e por meio das pesquisas. Nos últimos anos, como proposta metodológica predominante, tenho encaminhado a pesquisa colaborativa. Trata-se de um conjunto de possibilidades de desenvolvimento metodológico de investigação que se pauta na colaboração entre os diferentes sujeitos do processo formativo que compõem a equipe de trabalho e são por ele corresponsáveis: os professores da educação básica, os professores em formação, os professores formadores. Após alguns anos como professora e pesquisadora ligada à pós-graduação, com experiência já acumulada em orientação e pesquisa, com uma linha de investigação já consolidada, considerei que seria importante para minha carreira investir em um pós-doutoramento, para sistematizar estudos sobre a temática do ensino de cidade. Sendo assim, busquei contato com a professora Maria Jesus Marron Gaite, da Universidade Complutense de Madrid, que aceitou a supervisão de meu projeto, desenvolvido em Madri entre os meses de agosto de 2005 e janeiro de 2006. Foi uma experiência significativa para minha vida pessoal e profissional, propiciando momentos de conhecimento e de aprendizagem sobre a Europa, sobre o ensino de Geografia na Espanha e em Portugal, e permitindo também manter contatos com colegas de referência na área, nesses países. Toda essa experiência marcou bastante minha formação e atuação nos anos seguintes, em termos de fontes teóricas, de parcerias, de redes de pesquisa, de intercâmbios de estudantes. Após voltar desse período de pós-doutorado, em 2006, passei a atuar de modo mais seguro nas diferentes atividades das quais participava: a docência, as orientações, as assessorias, a produção intelectual. Nesse período, na primeira década do século XXI, participei de um movimento de consolidação da área de ensino como uma área legítima de pesquisa, com reconhecimento institucional, nos Programas de Pós como linha de pesquisa, nas instituições de fomento, que subsidiava cada vez mais pesquisas e eventos na área, e entre os colegas pesquisadores de outras áreas da Geografia. Nesse contexto, fui contemplada com bolsa produtividade do CNPq, a partir de 2010, o que considero um marco importante de reconhecimento e de confiança em minha carreira profissional. Em 2016/2017, fiz meu segundo estágio pós-doutoral, por 6 meses, dessa vez em Buenos Aires, com a professora Maria Victoria Fernandez Caso, da Universidade de Buenos Aires, que supervisionou meu projeto de pesquisa, articulado à pesquisa produtividade, referente ao tema mais geral, o ensino de cidade. A PRODUÇÃO INTELECTUAL E A CRIAÇÃO DE GRUPOS E REDES: A OBJETIVAÇÃO DE UM PROJETO PROFISSIONAL Ao longo desses anos, desde a publicação de minha Tese de Doutorado, como livro, sempre me empenhei em publicizar minha produção intelectual: minhas ideias, minhas reflexões, os resultados de pesquisa por mim analisados, como forma de objetivar meu trabalho, de colocá-lo ao dispor da comunidade, para debate e utilização, caso fosse pertinente, por outros colegas, por alunos, por professores do ensino básico. Também me esforcei para realizar ações que resultassem em produtos para um projeto de institucionalização de uma área de investigação – a área do ensino de Geografia –. Dessas ações, quero destacar a instituição de alguns grupos e redes de pesquisa, como o LEPEG, o NEPEG, a REPEC, a Redladgeo. A PRODUÇÃO INTELECTUAL Minha produção intelectual é produto das atividades de ensino, de extensão e principalmente de pesquisa mais sistemática que tenho realizado ao longo dos anos. Ela está publicada em diferentes tipos de veículos: livros, capítulos de livros e artigos em periódicos. São reflexões, apostas teóricas, análises de dados produzidos em pesquisas, experiências profissionais, articulando-se em eixos temáticos conforme foram sendo delineados com o passar do tempo: 1- Ensino de Geografia: com a preocupação de trabalhar em prol de um ensino dessa disciplina que contribua efetivamente com o amplo desenvolvimento dos alunos, tenho me fundamentado na perspectiva histórico-cultural, proveniente dos estudos de Vygotsky. Destaco desse autor sua compreensão do papel da aprendizagem no desenvolvimento das funções psicológicas superiores nas crianças e jovens escolares, da relação entre pensamento e linguagem, do processo de formação de conceitos. Vygotsky (1984, 1993, 2001) desenvolveu uma teoria sobre o processo de formação de conceitos, na qual são importantes os conceitos científicos e os conceitos cotidianos, e suas mútuas relações. Em relação à aprendizagem, me aproprio das suas ideias sobre seu papel ativo no desenvolvimento das pessoas. E, em relação à linguagem, a concepção central é a de que ela está intrinsecamente ligada ao pensamento e ao seu desenvolvimento. Com essa orientação, tenho formulado proposições para um ensino de Geografia voltado à formação de conceitos, com base na ideia geral de que o ensino é uma intervenção intencional no desenvolvimento do aluno, que é sujeito ativo do processo. Parto da compreensão de que a Geografia escolar, como portadora de conhecimentos que contribuem para a compreensão da realidade, é um instrumento simbólico na mediação do sujeito com o mundo. Nessa linha, defendo que o objetivo do ensino de Geografia é o de contribuir para o desenvolvimento do pensamento geográfico do aluno, para que ele, com autonomia, possa pensar e agir sobre o mundo considerando a espacialidade dos fatos e fenômenos. E os conceitos são ferramentas culturais para o desenvolvimento desse pensamento, destacando-se os de paisagem, lugar, território, região e natureza. 2 - A formação profissional do professor de Geografia: é um tema que se destaca desde o início da minha carreira de professora universitária. Como professora de disciplinas como Estágio Supervisionado e Didática da Geografia durante anos, busco contribuir para essa formação propiciando atividades de ensino que promovam reflexões sobre conhecimento docente, identidade profissional do professor, requisitos da prática docente, elementos do processo de ensino e aprendizagem. Parto da convicção de que a atuação docente requer qualificação específica, referente ao domínio de conhecimentos sobre a matéria (a Geografia Escolar como distinta e ao mesmo tempo relacionada à Geografia Acadêmica) e sobre como ensiná-la. Essa qualificação pressupõe uma convicção, orientadora da prática, sobre a proposta metodológica julgada mais eficaz para a aprendizagem efetiva dos alunos e o papel dos conhecimentos geográficos no seu desenvolvimento. Muitos autores têm contribuído para o desenvolvimento das ideias sobre a formação de professores nessa perspectiva, entre os quais destaco: Antônio Nóvoa (1992, 1995), Carlos Marcelo García (2002a e 2002b), Clemont Gauthier (1998), José Gimeno Sacristán (1996a, 1996b, 1998), Lee Shullman (2005). 3- Ensino de cidade e cidadanias: o pressuposto de que crianças e jovens são sujeitos que constroem conhecimentos geográficos em seu cotidiano, que necessitam ser considerados no processo de ensino/aprendizagem, levou aos questionamentos sobre como percebem o lugar de seu cotidiano, como se relacionam com ele, como produzem e que conteúdos espaciais eles produzem, elegendo a cidade como lugar privilegiado dessas espacialidades. Os autores que têm subsidiado a produção com essa temática são, entre outros: Ana Fani Alessandri Carlos (1996, 2004, 2005), David Harvey (1989, 2004), Henri Lefebvre (1991, 2002, 2006), Milton Santos (1996a, 1999). O foco no tema da cidade destaca sua relação com a formação de cidadãos e se compromete com a formação da cidadania orientados por princípios democráticos, abertos para a diversidade e para o usufruto coletivo dos espaços urbanos. Entre os autores de referência para o tema da cidadania, ressalto: Andrea Pereira Santos e Eguimar F. Chaveiro (2016), José Murilo de Carvalho (2002), Márcio Piñon de Oliveira (2000), Maria Victoria de M. Benevides (1994), Milton Santos (2007, 1996/1997, 1996b), Olga María Moreno Fernándes (2013). Com esses eixos de reflexão, tenho produzido artigos, capítulos de livros e livros ao longo de minha carreira acadêmica, entre os quais seleciono, por considerar que sintetizam diferentes momentos no desenvolvimento de minhas ideias e por terem tido destaque como referência dessas ideias, os seguintes produtos (somente os publicados no Brasil) que julgo que tiveram maior repercussão no espaço acadêmico (selecionei 5 para cada tipo de produto): LIVROS • Pensar pela Geografia. Goiânia: Editora Alfa&Comunicação, 1ª. Ed. 2019. • Ensino de Geografia e a escola. Campinas, SP: Editora Papirus, 1ª. Ed. 2012 • Geografia escolar e a cidade. Campinas, SP: Editora Papirus, 1ª. Ed. 2008 • Geografia e práticas de ensino. Goiânia, Go: Editora Vieira, 1ª. Ed. 2002 • Geografia, escola e construção de conhecimentos. Campinas, SP: Editora Papirus, 1ª. Ed. 1998. CAPÍTULOS DE LIVRO: • A Geografia escolar como eixo de diálogos possíveis entre didática geral e didáticas específicas na formação do professor. In: Selma G. Pimenta; Cristina D’Ávila, Cristina C. A. Pedroso; Amali de A. Mussi. (Org.). A didática e os desafios políticos da atualidade. 1ed.Salvador: Editora UFBA, 2019. • Espaços da cidade e jovens escolares: por que é tão importante conhecer a espacialidade desses sujeitos da aprendizagem geográfica?. In: Jusssara F. Portugal. (Org.). Educação Geográfica: temas contemporâneos. Salvador: EDUFBA, 2017. • A Metrópole em foco no ensino de Geografia: o que/para quem ensinar?. In: Flávia M. de A. Paula, Lana de S. Cavalcanti, Vanilton C. de Souza. (Org.). Ensino de Geografia e metrópole. Goiânia: Gráfica e editora américa, 2014. • Concepções Teórico-metodológicas da Geografia escolar no mundo contemporâneo e abordagens no ensino. In: Dalben, A.; Diniz J.; Leal, L. Santos, L.. (Org.). Convergências e Tensões no campo da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. • Ensino de Geografia e diversidade: construção de conhecimentos geográficos escolares e atribuição de significados pelos diversos sujeitos do processo de ensino. In: Sônia Maria Vanzella Castelar. (Org.). Educação Geográfica: teorias e práticas docentes. São Paulo: Editora Contexto, 2005. ARTIGOS EM PERIÓDICO • O estudo de cidade e a formação do professor de geografia: contribuições para o desenvolvimento teórico-conceitual sobre cidade e vida urbana. Ateliê geográfico (UFG), v. 11, 2017. • Para onde estão indo as investigações sobre ensino de geografia no Brasil? Um olhar sobre elementos da pesquisa e do lugar que ela ocupa nesse campo. Boletim Goiano de Geografia, v. 36, 2016. • Ensinar Geografia para a autonomia do pensamento. Revista da ANPEGE, v. 7, 2011. • Cotidiano, mediação pedagógica e formação de conceitos: uma contribuição de Vygotsky ao ensino de Geografia. Cadernos CEDES, Campinas/SP, v.25, n.66, 2005. • A cidadania, o direito à cidade e a Geografia escolar: elementos de geografia para o estudo do espaço urbano. Geousp, São Paulo, v. 5, 1999. A FORMAÇÃO DE GRUPOS E REDES DE ESTUDO E PESQUISA Desde os primeiros anos de professora e pesquisadora ligada à Pós-Graduação, a partir do final da década de 1990, busquei atuar no sentido de fortalecer a pesquisa na área do ensino de Geografia, no âmbito do Instituto, da UFG, das instituições goianas e, também, do Brasil e outros países. Destaco nesse sentido minhas iniciativas, juntamente com colegas da área, de formar grupos e redes de pesquisa, e fazer intercâmbios, por entender que tal fortalecimento só poderia ocorrer com a articulação de professores e instituições que compartilhassem do entendimento da relevância dessa área. Em relação a esses grupos, destaco a seguir o NUPEC, o LEPEG, o NEPEG e a Redladgeo. 1- NÚCLEO DE ESTUDOS EM ENSINO DE CIDADE - NUPEC Além do trabalho mais formal de orientação e de pesquisa, coordeno um grupo de estudos desde 2000, e a partir de 2013 em conjunto com meu colega Vanilton Camilo de Souza, e com a colaboração das colegas Karla Annyelly e Lucineide Pires, chamado Núcleo de Estudos sobre Ensino de Cidade (NUPEC). Ele é composto por alunos da graduação e da pós-graduação, e se constitui em um espaço de leitura, reflexão e debate sobre essa temática. O grupo se reúne a cada 15 dias para fazer discussões com base em leituras de diferentes autores e de projetos de pesquisa dos integrantes do grupo. As discussões realizadas têm como referência diferentes contribuições teóricas, clássicas e contemporâneas, internas e externas à Geografia, à pesquisa em Geografia (modalidades e fundamentos teóricos) e à Geografia Urbana (destacando-se o objetivo do Ensino de cidade). Esse grupo, em colaboração com os demais membros do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica (LEPEG), realiza anualmente, no IESA, o Seminário Educação e Cidade. 2- LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA - LEPEG Em 1997, com apoio de colegas e buscando fortalecer a área do ensino, criei no IESA o Núcleo de Ensino e Apoio à Formação de Professores – NEAP. Este núcleo caracterizou-se inicialmente por congregar alunos da graduação e pós-graduação para auxiliá-los no desenvolvimento de suas demandas de formação. Após alguns anos, em março de 2006, com o aumento, no Instituto, de pesquisas nessa área, houve reformulação no Núcleo, com a inserção de outros professores do IESA, passando a se constituir, sob minha coordenação, como laboratório - o Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação Geográfica (LEPEG). Atualmente, o LEPEG é uma referência importante no Instituto e no contexto acadêmico, agrega 7 professores especialistas na área e tem um fluxo regular de aproximadamente 80 usuários, alunos da graduação e pós-graduação e professores da educação básica e de outras instituições. Esse grupo de professores, formadores e formandos atuam em diferentes grupos de estudo e de pesquisa, como bolsistas ou como voluntários. Tenho muita satisfação de ter acompanhado o crescimento e a consolidação desse laboratório que eu propus a criação e que coordenei por muitos anos. Atualmente ele é coordenado pela professora Miriam Aparecida Bueno e pelo professor Denis Richter. 3- O NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA - NEPEG O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica – NEPEG foi criado em 2004, por um grupo de professores de três Instituições de Ensino Superior de Goiás – Universidade Federal de Goiás, Universidade Católica de Goiás e Universidade Estadual de Goiás –, sob minha coordenação, que tinham em comum a preocupação com o ensino de Geografia, desde o nível básico até o superior, o que se expressa por meio de suas pesquisas sobre a temática. Após sua criação, ao longo desses anos o Núcleo, com base em seu regimento, agregou novos pesquisadores que se mostraram interessados em nele se integrar, sendo que atualmente tem componentes que são professores de universidades de outros Estados e até mesmo de outros países (como Moçambique e Chile). Fui coordenadora desse Núcleo desde o seu início, juntamente com Vanilton Camilo de Souza, no período de 2004 a 2011 e desde 2015 voltei a coordená-lo em parceria com Miriam Aparecida Bueno. Esse grupo tem se reunido mensalmente com o objetivo de discutir estratégias de ação no campo da pesquisa, da extensão e da formação acadêmica de seus membros. Suas principais ações têm sido: a de leituras e apresentação no grupo de seus resultados; cursos de aperfeiçoamento para professores de Geografia da Rede básica de ensino; organização de eventos; publicação de livros. O grupo, a cada dois anos, realiza o Fórum NEPEG de Formação de Professores de Geografia, sendo que em 2020 realizou sua 10ª. edição. O objetivo do evento, que já se tornou parte do calendário de muitos professores formadores de Universidades brasileiras, é aprofundar o debate sobre a formação dos professores de Geografia. Como resultados desses Fóruns são publicados livros, apresentando os textos de convidados para o evento e material produzidos a partir dos GTs. Por meio do NEPEG, foram realizadas pesquisas interinstitucionais., uma delas, encerrada em 2008, objetivou traçar um perfil do ensino de Geografia no Estado de Goiás. Outra, recém concluída (2020), “Projetos de formação de professores de Geografia: 10 anos após as Diretrizes Curriculares Nacionais”, foi desenvolvida com o envolvimento de diferentes Universidades do Brasil e analisou Projetos Pedagógicos de cursos de Licenciatura em Geografia. A FORMAÇÃO DE REDES DE PESQUISA 1-REDE DE PESQUISA DO ENSINO DE CIDADE (REPEC) Essa rede de pesquisa, a qual sou coordenadora, foi criada em 2006 e “chancelada” pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG. Seu objetivo é congregar pesquisadores de diferentes instituições do Estado – UEG, UFG, PUC Goiás, Rede municipal de Educação de Goiânia, Rede Estadual de Educação de Goiás e alunos da graduação e pós-graduação do Programa de Geografia da UFG, para realizar investigações sobre o ensino de Cidade e elaborar materiais didáticos temáticos sobre a Região Metropolitana de Goiânia e sobre a Rede Urbana de Goiás. A realização dessas atividades tem sido uma oportunidade de o Curso de Geografia da UFG ter uma maior aproximação com os professores de Geografia da Rede básica de Ensino de Goiás e disponibilizar materiais didáticos para essa Rede. Os produtos – Fascículos Didáticos – produzidos por essa Rede e que fazem parte de uma coleção denominada Aprender a cidade, são os seguintes: 1- Cartografia da Região Metropolitana de Goiânia – 2009, atualizada em 2020. 2- Espaço Urbano da Região Metropolitana de Goiânia – 2009, atualizada em 2020. 3- Violência Urbana na Região Metropolitana de Goiânia – 2009. 4- Bacias Hidrográficas da Região Metropolitana de Goiânia – 2009. 5- Dinâmicas Populacionais da Região Metropolitana de Goiânia - 2014 6- Dinâmica Econômicas da Região Metropolitana de Goiânia - 2013 7- A Relação Cidade-Campo no Território Goiano - 2019 8- Cerrado (em elaboração) 2- REDE LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES EN DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFIA (REDLADGEO). Essa Rede foi formada por ocasião do IX Encontro de Geógrafos da América Latina – EGAL – de 2007, em Bogotá-Colômbia. Professores do Brasil, do Chile, da Argentina, da Venezuela e da Colômbia criaram a rede e, compõem seu Comitê Gestor, desde sua criação até a atualidade: Núbia Moreno Lache, Alexander Celly e Raquel Pulgarin (Colômbia); José Armando Santiago (Venezuela); Marcelo Garrido Pimenta e Fabian Palacio Araya (Chile); Maria Victoria Fernandez Caso e Raquel Gurevich (Argentina) e Sonia M. Vanzella Castellar, Helena Coppeti Callai e Lana de Souza Cavalcanti (Brasil). A intenção da Rede é promover o intercâmbio entre os pesquisadores e socializar as pesquisas da Didática da Geografia produzidas na América Latina. Um dos resultados iniciais da instituição dessa Rede foi a produção do livro sobre o estudo da cidade da/na América Latina, publicado em 2010, intitulado: “Ciudades Leídas, Ciudades Contadas: la ciudad latinoamericana como escenario para la enseñanza de la geografia”, no qual contribuí com dois artigos. Em 2010 (Bogotá: Geopaideia), também foi publicado por essa Rede o livro virtual denominado: “Itinerários Geográficos en la escuela: lecturas desde la virtualidad”. Em 2011, foi criada a revista virtual da Rede, chamada Anekumene e apresentado o número 1 - Geografia, cultura y educación. Os contatos de trabalho desta Rede têm sido feitos de modo virtual, por meio de reuniões virtuais e intercâmbios mais espontâneos; por ocasião dos Encontros de geógrafos da América Latina – EGAL, e especialmente nos Colóquios da Rede – o 1º Colóquio ocorreu em São Paulo, em 2010; o 2º Colóquio, em 2012, em Santiago do Chile; o 3º em 2014, em Buenos Aires, o 4º. em 2016, em Bogotá; o 5º. em 2018, em Goiânia/Pirenópolis (sob minha coordenação), e o 6º. está programado para acontecer em 2021, de forma virtual (em razão da pandemia do Corona vírus) e com sede em Valparaizo/Chile. Após todos esses anos de trabalho junto à essa Rede, considero que sem dúvida trata-se de um projeto exitoso. Atualmente temos essa rede como uma referência para um bom número de investigadores na área da Didática da Geografia (no Brasil, temos 15 grupos, provenientes de vários estados, que fazem parte dessa rede), com vários colegas que a ela pertencem temos feito muitos trabalhos em conjunto, intercâmbio de alunos tem sido feito por seu intermédio, e, acima de tudo, compartilhamos amizade sincera, lealdade e cumplicidade, ajuda mútua no grupo, o que favorece um ambiente de trabalho fecundo e prazeroso. AS PARCERIAS E INTERCÂMBIOS ENTRE UNIVERSIDADES E ENTRE COLEGAS DA ÁREA INTERCÂMBIOS Ao longo dessa trajetória profissional, tenho me integrado a grupos de investigadores para intercâmbio e ampliação de espaços de discussão, no Brasil, em outros países da América Latina (basicamente por meio da Redladgeo) e na Europa. Como resultado dessa integração, tenho participado da constituição de grupos de discussão, realizado eventos, organizado livros, estabelecido parcerias em orientações de pós-graduandos. No Brasil, a participação em eventos acadêmicos, em bancas examinadoras e em palestras e outros tipos de colaborações intelectuais tem sido fundamental para estabelecer intercâmbio com pesquisadores da área. A realização de atividades como essas é muito relevante para consolidar um grupo que investe sua carreira profissional em ações voltadas ao ensino de Geografia. Nesse sentido, destaco a muito fecunda parceria e amizade que tenho estabelecido com as queridas professoras Sônia Maria Vanzella Castellar (USP) e Helena Copetti Callai (UNIJUI), que tem resultado em vários momentos de produção e de atividades de compartilhamento pessoal, intelectual e acadêmico. Com elas compartilho uma amizade longa e plena de cumplicidade, respeito, muito carinho, ajuda mútua e prazer pelos trabalhos conjuntos. Considero que posso citar outros colegas, mesmo correndo o risco de não apontar todos, por se destacarem em interlocução teórica específica e, em alguns casos, cotidiana, como Vanilton Camilo de Souza (UFG), Eliana Marta Barbosa de Morais (UFG) e os demais colegas do LEPEG e do NEPEG; Valéria de Oliveira Roque Ascenção (UFMG); Nestor André Kaercher (UFRGS); Carolina Machado (UFT); Rafael Straforini (UNICAMP); entre outros. Além desses colegas, também registro aqui a parceria com todos os meus orientandos e ex-orientandos, sem distinguir nenhum deles, que tem representado para mim uma rede de colegas, uns mais próximos que outros, com quem divido e compartilho muitos projetos, amizades e encontros de corpo e alma. Com outros países também tenho estabelecido importantes contatos que tem permitido intercâmbio entre as Universidades e, com isso, mútuo (suponho) enriquecimento. Com o Chile, tenho mantido contatos e intercâmbio de orientações de graduandos e pós-graduandos, destacando-se a parceria com os professores Marcelo Garrido Pereira, Fabian Araya Palacio e Andoni Arenas. Por intermédio desses contatos fui convidada, por exemplo, para expor minha pesquisa no Seminário internacional sobre textos escolares de História e Ciências Sociais, em Santiago do Chile, no ano de 2008. O objetivo do evento consistiu em abrir espaço para pesquisadores chilenos e estrangeiros discutirem e trocarem experiências sobre os trabalhos relacionados à didática das Ciências Sociais. Como resultado desse evento, foi produzido um livro (2009), no qual tenho um artigo intitulado: “Elaboración de materiales didácticos temáticos sobre el Área Metropolitana de Goiânia/Goiás”. O intercâmbio com esse país favoreceu minha ida periódica a Santiago para participar de atividades, como professora visitante, da Universidad Academia de Humanismo Cristiano, com Marcelo Garrido Pereira à frente e a Valparaíso, na PUC de Valparaizo, a convite do professor Andoni. Pude também encaminhar, em diferentes ocasiões, alunos da graduação e da pós-graduação para participar de atividades acadêmicas, sob a coordenação de Marcelo Garrido Pereira ou de Andoni Arenas, além de também receber no nosso Programa alunos desses professores. Em La Serena/Chile, a convite de Fabian Araya, participei, como avaliadora externa, de atividades de discussão e avaliação de resultados de pesquisa por ele coordenada, em 2013. A realização dessa atividade foi, também, uma importante experiência para mim e ocasião de muita aprendizagem e de trocas. Em 2019, participei, juntamente com a professora Eliana Marta Barbosa de Morais, como representante do Brasil, de atividades em Valparaíso, juntamente com um grupo de pesquisa da PUC de Valparaíso, do qual participa o professor Andoni, que realiza um trabalho de formação docente colaborativo. Nessa ocasião, também ministramos aulas para um grupo de alunos do curso de pós-graduação em Educação em Ciências. Como resultado desse intercâmbio, fui convidada, em 2020, para ser professora externa no programa de doutorado dessa Instituição. Essa parceria, acadêmica e afetiva, e de amizade, tem se estreitado ao longo dos anos, resultando na vinda desses professores à UFG para diferentes eventos e na organização de diversas publicações no Brasil e no Chile. Em Buenos Aires também tenho participado de algumas atividades e intercâmbio com as professoras Maria Victoria Caso e Raquel Gurevich, o que foi acentuado a partir de 2017, após a realização do meu pós-doutorado, e mais recentemente, desde 2019, mantenho contato fecundo com Verônica Hollman, também uma importante referência para a área. Na Colômbia, participei de algumas atividades por meio de convites de professores Nubia Moreno, Alexander Celly, em Bogotá (presencialmente) e Raquel Pulgarin, em Medelín (de modo virtual). Nesse país, o contato com investigadores da área iniciou-se no Encontro de Geógrafos da América Latina - EGAL, que ocorreu na cidade de Bogotá em 2007, sobretudo com dois colegas: Nubia Moreno Lache e Alexánder Cely Rodríguez, que estavam na organização do evento. Nesse evento, fui convidada a participar de uma Mesa Redonda para falar sobre o ensino de Geografia no Brasil. Ao final do Encontro, como já mencionei, reunimos alguns colegas, da Venezuela, da Argentina, do Brasil e do Chile, e decidimos criar a Rede de pesquisadores em Didática da Geografia, conforme já foi relatado anteriormente. A partir daí, mantive contato periódico com esses dois colegas e com Raquel Pulgarin, que, em 2012, me indicaram para participar de outro evento na Colômbia, dessa vez na cidade de Tunja. Nesse evento, fiz uma conferência e participei, juntamente com colegas do Chile, Venezuela e Estados Unidos, de uma sessão de clausura, bastante desafiadora, com o administrador (Alcaide) do Município e auxiliares, para fazer análise de problemas ambientais daquela cidade. Desse encontro, resultou um livro publicado em 2013, La Educación Geográfica ante los retos del siglo XXI, no qual está um artigo de minha autoria, intitulado La geografía y la realidad escolar brasileña contemporánea: abordaje teórico y la práctica de la enseñanza. Ainda nesse país, em 2014, participei da banca de doutoramento de Alexánder Cely Rodríguez, no Programa de Doctorado Interinstitucional em Educação, da Universidade Nacional Pedagógica de Bogotá. Em 2020, participei em Medelin, a convite de Raquel Pulgarin, como ponente da V Convención Nacional de Educación Geográfica.Relevancia social de la geografía escolar y la educación geográfica, coordenado pela Associação de Geógrafos da Colômbia. Em Portugal, estabeleci intercâmbio com o professor Sérgio Claudino, da Universidade de Lisboa, que tem recebido orientandos meus para estágio de doutorado, sob sua supervisão. Por meio desse contato, foi possível estreitar relações com um grupo de professores portugueses, no qual destaco Luiz Mendes e Maria João, discutindo o currículo da Geografia Escolar na perspectiva da formação cidadã. Como resultado da referida parceria foi publicado na revista Apogeo de Portugal o artigo “A educação geográfica, cidade e cidadania” (SILVA e CAVALCANTI, 2008). Além dessas atividades, minha participação em uma pesquisa coordenada pela Espanha, em conjunto com Sérgio Claudino Nunes e Maria João, da Universidade de Lisboa, tem permitido aumentar os laços acadêmicos e de amizade. O contato com Portugal resultou ainda em convite, da Associação de Geógrafos de Portugal, para fazer conferência em evento internacional - VI Congresso Ibérico de Didática da Geografia. O evento ocorreu na cidade do Porto, em março de 2013, ocasião em que pude manter novos contatos com colegas de Portugal e Espanha. Após essa data, estabeleci novos contatos com o professor Sergio Claudino, em Lisboa e no Brasil, e sempre buscando trocar ideias e projetos, entre os quais destaco o Nós Propomos!, projeto coordenado por Sergio Claudino e que tem “replicas” em vários outros países e em vários estados do Brasil. Na UFG, há uma dessas “replicas”: Nós propomos Goiás!”, coordenada pela professora Karla Annyelly, articulando uma equipe, da qual faço parte, de professores de diferentes universidades, alunos da graduação, pós-graduação e professores da rede básica de ensino. Além desse contato na Europa, também tenho estabelecido intercâmbio com colegas na Espanha: de Madrid, de Sevilha, de Valência e de Santiago de Compostela. Em Madrid, tive contato com Maria Jesus M. Gaite, que foi minha tutora de pós-doutorado, em 2005. Tive também a oportunidade de conhecer, nesse mesmo período, dois outros professores da Universidade Autonoma de Madrid, Clemente Herrero Fabregat e Alfonso García de la Vega, com os quais tenho articulado ao longo dos últimos anos várias atividades, resultando em participação em eventos, palestras, bancas julgadoras, publicações conjuntas e participação em cursos de pós-graduação na UFG e em Madri. Em Sevilha, tenho uma parceria estreita com o professor Francisco F. García Perez (Paco), da Universidade de Sevilha, que se iniciou por ocasião do meu pós-doutorado, em razão de interesses comuns pelo ensino de Geografia e a participação de jovens estudantes nos destinos da cidade. Além de receber três pós-graduandos meus – Vanilton Camilo de Souza, Karla Anyelly de Oliveira e Daniel Valerius Malman - , em sua Universidade, fui convidada pelo professor Paco a participar com ele de um grupo de investigação, para realizar a pesquisa “Estratégias de formación del profesorado para educar en la participación ciudadana”, que foi aprovada em 2011, com financiamento pelo Ministério de Ciência e Innovación - Dirección General de Programas y transferências de conocimiento de España. Esse grupo foi composto por investigadores de Portugal, Itália, Espanha, Brasil e Chile e liderado por Francisco F. García Perez. Em razão dessa pesquisa, pude participar, juntamente com outros colegas brasileiros, de reuniões de trabalho em Sevilha, como a que ocorreu em março de 2012, por ocasião do XXIII Simposio Internacional de Didáctica de Las Ciencias Sociales. Em 2014, foi possível trazer o professor Francisco F. García Perez em um evento em Goiás, quando proferiu palestras. E, em 2017 o professor Paco voltou à UFG para participar da Banca de Doutorado de Daniel Vallerius, meu orientando. Destaco ainda, na Espanha, os professores Carlos Macia, de Santiago de Compostela e Xosé Manoel Souto, de Valência, com os quais tenho mantido contatos periódicos para publicações conjuntas. Com todos esses professores mencionados sigo em contato regular, trocando materiais, informações, artigos, participando de bancas e outras atividades. Posso dizer que fazemos parte de uma rede, ainda que informal, de professores Ibero-americanos, com preocupações com a Didática da Geografia. Também quero mencionar minha experiência de participar como professora colaboradora do Programa da Universidade Pedagógica de Moçambique - UP, em 2014. Essa parceria resultou de contatos feitos em razão da orientação de doutorado de Suzete Lourenço Buque, professora desta Universidade, no período de 2011 a 2013, com a professora Alice C. B. Freia. Nesse doutorado, estou como professora colaboradora desde 2013, o que resultou na minha participação como docente de uma disciplina para o Curso em setembro de 2014, e como co-orientadora, com a responsabilidade de receber alunos de doutorado desse curso no Brasil (com bolsa de Moçambique), em 2015. Em 2020, de forma remota, participei da banca examinadora do doutorado de Eusébio Máquina, na condição de co-orientadora. Dentre as atividades de minha iniciativa, além dessas que já relatei quero finalizar distinguindo uma a mais, por entender que, por sua importância acadêmica e pessoal, não poderia deixar de mencioná-la. Trata-se da criação da Revista Signos Geográficos – Revista do NEPEG. Como coordenadora do Grupo NEPEG, em agosto de 2018, levei ao Fórum a proposta de criar uma revista acadêmica sob a responsabilidade do NEPEG. Aprovamos, em assembleia, a criação da Revista, e a partir daí iniciei as ações necessárias à efetivação desse projeto. Logo após, compus a equipe da Revista: eu, como editora chefe e Eliana Martha Morais, como editora assistente e outros colegas de outras instituições, de outros estados do Brasil e de outros países, como parte do Conselho Editorial e do Conselho Científico. Também conseguimos em pouco tempo a aprovação junto ao IESA e ao Programa de Pós-Graduação de Geografia da UFG para incluí-la no conjunto de revistas da Instituição. Após, também conseguimos rapidamente aprovação da UFG para incluí-la no conjunto de revistas do Portal de Revistas da UFG. Assim, com pouco mais de 2 anos de existência, a revista já tem dois números concluídos, na modalidade on-line e com fluxo contínuo, iniciando em 2021 seu terceiro número. Ainda que precocemente, considero que já se trata de uma revista de referência importante na área, fato que me enche de orgulho e de energia para continuar o trabalho em busca de aperfeiçoá-lo. PARA TERMINAR DE CONTAR.... Quero terminar esse relato com umas breves palavras, entendendo que não estou relatando o fim de uma história, pois ainda quero continuá-la, realizando coisas, embora não saiba bem o que será. Atualmente, estou há uns anos com condições trabalhistas de me aposentar na UFG, mas reluto em efetivar essa condição. Não quero me aposentar ainda. Não que eu não tenha outras coisas a realizar, principalmente no âmbito pessoal. Os cuidados comigo mesmo, com minha mãe, com meu marido, com minha casa, com meus filhos e netos, além de outras atividades de viagem, de lazer, de reuniões com amigos, certamente me encheriam o tempo e me dariam muito prazer, mas penso que não seriam suficientes para mim. Ainda prefiro fazer tudo isso e continuar a ser a professora que sempre fui, por mais alguns anos, desde que a saúde permita, ministrando aulas, pesquisando, escrevendo, coordenando equipes. Sempre que possível, gostaria de fazer isso com mais tranquilidade, mais leveza, sem pressa, sem agonia, sem pressão. Não tenho planos claramente delineados para esse futuro próximo, vou deixando “a vida me levar”. Nesse momento, a preocupação com a pandemia nos deixou, a todos nós, com muitas propostas em suspenso, e enfrentando o que tinha inevitavelmente de ser feito do modo que era possível. Assim foi 2020, muitas atividades remotas, muitas lives, muitas reuniões para discutir o que fazer diante do quadro de crise que passamos. Assim, creio, será 2021. Ainda um ano muito tenso, na espera da vacina e da superação da pandemia, mas com muitas incertezas. Mesmo assim continuaremos nossas atividades. Eu pretendo continuar realizando o que a realidade demanda, conforme meu perfil pessoal e meus limites intelectuais e físicos. Nesse sentido, penso que seja importante reafirmar que não fui, e acho que nem serei, uma atuante de movimentos políticos e sociais, mas sempre defendi causas e pautei meu trabalho nessas causas, pela justiça, pela igualdade social, pela inclusão, pelos direitos humanos, pelos direitos dos povos minoritários quantitativamente, pelos pobres, pela mulher. Continuarei seguindo essas causas, com todas as dificuldades que sabemos que existem em nossa realidade brasileira e mesmo mundial, mas sem perder principalmente a esperança, de que algo posso fazer para superar dificuldades, para ajudar as pessoas a superá-las. Esperança em um mundo melhor, onde haja o predomínio de pessoas do bem, pessoas generosas, com empatia pelos outros, pessoas justas, pessoas humildes e amorosas. Esperança de que juntas essas pessoas consigam pensar e atuar em uma sociedade melhor, mais respeitosa, mais inclusiva, mais democrática e menos desigual, menos cruel, menos sectária. Esperança que às vezes se esvai, mas que sempre se renova... Assim, termino esse relato com um poema de Mario Quintana, que fala justamente em esperança, porque a vida continua e nela a esperança renasce....sempre "Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano Vive uma louca chamada Esperança E ela pensa que quando todas as sirenas Todas as buzinas Todos os reco-recos tocarem Atira-se E — ó delicioso voo! Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, Outra vez criança… E em torno dela indagará o povo: — Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá (É preciso dizer-lhes tudo de novo!) Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam: — O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA…" REFERÊNCIAS BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Cidadania e democracia. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, n. 33, p. 5-16, 1994. CARLOS, A.F.A. O direito à cidade e a construção da metageografia. Cidades: Revista Científica/Grupo de estudos urbanos, vol. 2, n. 4. Presidente Prudente, Grupo de Estudos Urbanos, 2005. ______________. O lugar no/do mundo. São Paulo: Hucitec, 1996. CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. FERNÁNDES, Olga María Moreno. Educación ambiental y educación para la ciudadanía desde una perspectiva planetária: estudio de experiencias educativas en andalucía. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Tesis Doctoral, 2013. GAUTHIER, C. Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o saber docente. Ijuí: Unijuí, 1998. HARVEY, D. Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1989. LEFEVBRE, H. A produção do espaço. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins (do original: production de l’espace. 4ª ed. Paris: Éditions Anthropos, 2000). Primeira versão: início – fev. 2006 _____________. O direito à cidade. São Paulo: Morais, 1991. NÓVOA, A. Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. NÓVOA, A. Os professores e as histórias da sua vida. In.: NÓVOA, A. (org) Vida de professores. Porto: Editora Porto, 1995. OLIVEIRA, M. P. Geografia, globalização e cidadania. Terra Livre, São Paulo, v. 1, n. 15, p. 155-164, 2000. SACRISTÁN, J. G. Os professores como Planejadores. In: Sacistán, J G; GÓMEZ, P.A.I. Compreender e transformar o ensino. 4° ed. São Paulo: Artmed, 1998, p.127-293. SACRISTÁN, J. G. Reformas educacionais: utopias, retórica e prática. In: SILVA, T.T; GENTILI, P. Escola S.A – quem ganha e quem perde no mercado educacional do neoliberalismo. Brasília: CNTE, 1996. SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo. Razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996. SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 7ªed, 2007. SANTOS, Milton. As cidadanias mutiladas. In: LERNER, Júlio (Org.). O preconceito. São Paulo: Impressa oficial do Estado, 1996/1997. p. 133-144 SANTOS, Milton. Por uma geografia cidadã: por uma epistemologia da existência. Boletim Gaúcho de Geografia, Porto Alegre, n. 21, p. 7-14, agosto 1996. SANTOS, Andrea Pereira; CHAVEIRO, Eguimar Felício. A constituição das identidades juvenis na metrópole contemporânea: A interface entre lugares e práticas socioespaciais. In: Os jovens e suas espacialidades. Orgs: CAVALCANTI, L. S; PAULA, F. M. A; PIRES, L. M. Goiânia: Editora Espaço Acadêmico, 2016. p. 71-92 VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993. VYGOTSKY, L.S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001. INÁ ELIAS DE CASTRO MEMÓRIAS DA MINHA CARREIRA ACADÊMICA INTRODUÇÃO Estas notas foram originalmente organizadas para o Memorial apresentado no meu concurso para Professor Titular na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ em 2011. Ao retomá-las fui fazendo as atualizações, embora o essencial da minha trajetória esteja contemplado no documento apresentado. Ao relê-lo me dou conta de uma longa carreira acadêmica que acompanhou boa parte da minha vida e que continua até o presente. É como se ao entrar na escola aos seis anos de idade jamais tivesse saído dela. A carreira acadêmica pode ter percalços, desafios, mas nunca é monótona. Na minha geração o ápice era o concurso para Professor Titular, mas muitos não tiveram essa possibilidade. A falta de vagas, no caso das universidades federais, fez com que chegassem à aposentadoria antes. Independente da importância do título e do ritual acadêmico do concurso, esse é o momento de reflexão e revisão de toda uma vida. É essa revisão que compõe boa parte do que será aqui apresentado. Aquela foi a ocasião de resgatar uma longa história, de mais de 40 anos de formação, de atividades de docência, de pesquisas, de orientação e formação de recursos humanos, de administração e de representação, além de momentos curtos, mas importantes, de atividades de gestão pública. Poder percorrer a memória desse tempo vivido, condensá-la, ampliá-la após dez anos da titulação e trazê-la a público é um privilégio. Trata-se aqui de uma viagem em tempos e espaços. No meu tempo, no tempo do país e no tempo da geografia. Embora o tempo não seja linear e nem sempre o passado explique o presente, ao resgatar o passado e refletir sobre ele encontro as raízes (ou seriam razões?) das escolhas dos muitos presentes vividos nesta trajetória, especialmente o interesse pela geografia política e pela polêmica em torno das questões de uma geografia, hoje cada vez mais informada pela política, dimensão inescapável da vida em sociedade e do espaço que ela organiza. As escolhas profissionais são escolhas de vida, nem sempre claras no momento em que são decididas, mas sempre influenciadas pelos lugares de vida, contextos familiares, social, cultural e político. Oriunda de uma família de migrantes, nordestino meu pai e portugueses meus avós maternos, nascida no subúrbio do Rio de Janeiro, na época a capital da República, meu horizonte do desejo, os limites de possibilidade de mobilidade social foram delineados neste ambiente. A condição de migrantes, e seus sonhos, e a opção dos meus pais pelo protestantismo definiram desde muito cedo a importância do esforço e da ética do trabalho para atingir metas mais elevadas. Para as meninas a profissão mais adequada era ser professora. Não era ainda muito importante no momento definir “de que”, mas de qualquer forma para que a meta fosse alcançada era preciso estudar e ir muito além da prática corrente das famílias da classe trabalhadora da época, que tiravam os filhos da escola logo que aprendessem a ler e a escrever.Era momento de arranjar um emprego e ajudar no orçamento doméstico ou quiçá um marido bom provedor. Meus pais eram sonhadores e perceberam que suas três filhas poderiam ir mais longe. Tínhamos acesso às redes do ensino público e de saúde com qualidade. Estes recursos institucionais do Estado brasileiro, disponível em partes muito restritas do território do país e para uma minoria deixava claro que morar na capital do país fazia diferença. E fez toda a diferença para mim e para minhas irmãs. Ratzel tinha razão quando elegeu a cidade capital como um tema necessário. Ser professora era então um destino e a geografia estava latente e se manifestava esporadicamente no prazer de ouvir as histórias de meus avós e do meu pai sobre suas terras distantes e a saga das viagens. A curiosidade sobre estas terras e as condições impostas às pessoas obrigadas a abandoná-las apontavam para uma visão em que o social devia ser explicado. Paralelamente, o prazer em viajar revelava a curiosidade permanente sobre terras, pessoas e seu modo de vida, seus costumes, suas normas. Tudo isto foi potencializado desde o ensino secundário. Nunca entendi bem por que, mas minhas melhores notas eram sempre em geografia. Meus professores do segundo grau perceberam e sempre me estimulavam. Houve, porém um fato que não deve ser esquecido nesta narrativa, embora eu não tenha ainda avaliado plenamente o seu grau de determinação. Minha irmã mais velha que eu (a do meio das três) e minha companheira de brincadeiras escolheu fazer geografia um ano antes, pelos mesmos motivos que eu. Fazer o vestibular para disciplina foi o caminho quase natural para mim. Estas foram as razões primárias e até ingênuas da escolha, mas o futuro mostrou que a decisão foi acertada. Nas 4 partes que se seguem faço o relato da minha trajetória, demarcada pelo tempo e pelos espaços que de algum modo deram significado a cada uma. A vida acadêmica é sempre múltipla, nunca monótona e de ritmos variados. Cada compromisso com aulas, pesquisa, orientação, participação em eventos, redação de textos, administração, extensão, representação em colegiado implica tempos e movimentos exclusivos. Alguns mais acelerados outros menos. Mas, quaisquer que sejam estes ritmos, confesso que vivi cada um deles e que a carreira acadêmica é composta de ciclos nos quais o ofício de pensar, indagar e ensinar estimulam a imaginação e reforçam o compromisso ético com a sociedade, que afinal é quem nos suporta e anima e para quem nosso trabalho deve ser útil. 1. OS TEMPOS Tempo de formação - a graduação e o golpe militar (1964-1967); (FNFi), trabalhos de campo, bolsista de IC do Centro de Pesquisas de Geografia do Brasil (CPGB); descoberta da pesquisa: a curiosidade e a dúvida como vocações. A graduação e o golpe militar (1964-1967) - O vestibular para o curso de geografia da então Faculdade Nacional de Filosofia – FNFi da Universidade do Brasil foi um sucesso. Segundo lugar na média, mas primeiro na prova de geografia. Aos 18 anos eu fazia parte dos menos de 2% que no país tinham acesso ao ensino superior, mas desde o ano anterior, ainda secundarista, eu participava das ebulições da universidade acompanhando minha irmã e seus amigos do Diretório Acadêmico. Era o governo trabalhista do Presidente João Goulart e a luta para o aumento de vagas na universidade já havia começado, apesar da resistência dos professores mais conservadores que temiam a queda de qualidade com a “massificação” do ensino superior. As universidades públicas eram para os ricos. O ano de 1963 foi um marco no crescimento das vagas. Na geografia, a turma deste ano tinha cerca de 20 alunos, assim como a de 1964 que eu frequentei. Para alguns mestres isto tornaria a tarefa de ensinar muito mais difícil! No início do meu primeiro ano letivo em março de 1964 o país passava por tensões políticas importantes e no então Estado da Guanabara (hoje município do Rio de Janeiro), governado pelo conservador Carlos Lacerda, a FNFi era o epicentro do movimento estudantil a favor do governo Goulart. Meu primeiro dia de aula no início de março foi inesquecível. Os estudantes bloqueavam a porta do prédio da Avenida Antônio Carlos, no centro da cidade, para impedir que o governador entrasse na universidade. Atraída pela geografia fiz minha estreia política: na força dos grupos sociais quando se organizam no espaço adequado. Era o espaço público ocupado e mobilizado para a ação, a praça contra o palácio, e uma semente que tem germinado desde então como questão para reflexão e pesquisa. Mas a geografia me esperava dentro das salas da FNFi. Menos política do que na estreia, porém fornecendo instrumentos para perceber e interpretar a realidade. Muitos professores foram marcantes na minha formação de graduação: de geografia, Lysia Bernardes, Bertha Becker, Marina Sant’Anna, Manuel Maurício de história, Marina Vasconcelos de antropologia cultural, além outros que não cito por pura fraqueza de memória e não por falta de importância. Mas não posso deixar de fazer meu registro muito especial à professora Maria do Carmo Correa Galvão. Com ela aprendi coisas essenciais nos conteúdos oferecidos na sala de aula e nos muitos trabalhos de campo, alguns que chegaram a durar 30 dias. Ela mostrou o caminho da prática da pesquisa daquele tempo: a necessária relação entre a natureza e a sociedade, ou o que atualizaríamos hoje para os modos como cada sociedade doma sua natureza e organiza seu espaço; além da disciplina de ir a campo, de observar para discutir e analisar. Viajamos com ela para o Centro-Oeste, para a Região Sul, para o interior de São Paulo e do Rio de Janeiro. Visitamos propriedades rurais, pequenas e grandes, e todos nós pegávamos o seu jeito de abordar os camponeses com um sorridente e sonoro “bom dia moço”. Visitamos indústrias como a Volkswagen no ABC paulista, a indústria de tecidos Renner em Porto Alegre, a porcelana Schmit e a malharia Hering em Blumenau, minas de carvão em Criciúma (até descemos numa, apesar da superstição dos mineiros quanto ao azar que a presença feminina traz), usinas de açúcar em Campos, a destilaria do Conhaque de Alcatrão de São João da Barra etc. Nesta última ganhamos pequenos frascos de amostras dos produtos: cachaça e conhaque. Como sempre voltávamos depois de o sol se pôr, extenuados na carroceria do caminhão que segundo ela era o único veículo que permitia uma ampla visão do terreno, neste dia enfrentamos um forte temporal. Temendo que nos gripássemos, pois chegamos gelados e encharcados aos nossos alojamentos, ela nos fez beber nossas amostrinhas que guardávamos para ocasião mais festiva. Nesta noite ela nos dispensou do relatório. Como sua bolsista de Iniciação Científica do CNPq em 1966 e 1967 (à época chamada de Auxiliar de Pesquisa) tive a oportunidade de ir além e de participar em trabalhos de campo dos seus projetos de pesquisa, como o do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, que entre outras peripécias me levou ao CEASA paulista de madrugada para entrevistar os atacadistas, mas acima de tudo para observar e sentir aquele espaço e sua atmosfera impregnada de uma das dimensões da relação campo-cidade. Outro projeto foi o da geografia dos transportes do Brasil. Tive a tarefa de colher dados sobre os transportes rodoviários e ferroviários, seus fluxos, suas cargas. Eu ia às instituições indicadas por ela e voltava carregada de tabelas, mapas e muitas informações fornecidas por técnicos, funcionários e diretores. A obtenção de informações, onde elas estivessem deixou de ser mistério para mim e tem sido útil até hoje. Seja para minhas próprias pesquisas seja para orientar meus alunos. Não tenho dúvidas que “quem procura acha”, como dizia minha mãe antes da palmada, e que pesquisar é uma arte que se aprende na escola. Enquanto isto, a praça se agitava. Eram tempos de mobilizações estudantis, cassações, censura à imprensa, delações e intrigas. O ambiente da FNFi era de efervescência, onde convivíamos com colegas da filosofia, da sociologia e de outras disciplinas engajados na resistência política à ditadura e perseguidos. Minha casa foi abrigo e ponto de passagem para muitos jovens colegas fugitivos. Meus pais não entendiam muito do que se tratava, mas eram solidários e nunca negaram o teto e uma mesa acolhedora. Mas dentro dos muros da universidade a geografia como conhecimento passava ao largo da agitação política. Hoje acredito que mais pelas convicções de muitos de nossos mestres do que por uma deriva conservadora própria da natureza positivista do conhecimento produzido pela disciplina, como lhe foi atribuído alguns anos mais tarde. Afinal nossas leituras incluíam os mestres franceses como Pierre George, Bernard Kaiser, Yves Lacoste, Elisée Reclus, Max Sorre, Jean Lablache, Jean Brunhe, Richard Hartshorne além dos brasileiros Josué de Castro e Darcy Ribeiro. Passávamos por Ratzel e Lablache na inesgotável querela sobre o determinismo e o possibilismo, sobre o método regional ou sistemático, sobre a importância da observação e descrição rigorosas para a posterior interpretação e análise e sobre a pretensão da geografia em destacar-se como ciência de síntese, cuja melhor expressão no nosso aprendizado foi a professora Maria do Carmo. Posteriormente todos esses procedimentos seriam duramente criticados; era o tempo da pós-graduação, que vamos percorrer adiante. A história continua. Mas este era também o tempo da geografia ativa, engajada no planejamento urbano, regional e nacional quando a geografia era chamada para diagnósticos e alguns geógrafos participavam diretamente da gestão pública, fato posteriormente criticado por Yves Lacoste como o papel de “conselheiro do príncipe” do profissional. Nossa professora Lysia Bernardes, que nos ministrava longas aulas sobre metodologia destacava esse papel, que ela mesma passou a exercer. A proximidade da nossa formação com o IBGE era grande. Tanto espacial, éramos vizinhos, como intelectual através das suas publicações, especialmente a Revista Brasileira de Geografia. O legado desta formação inclui a descoberta da pesquisa, a curiosidade e a dúvida sobre consensos absolutos como vocações. A formação didática foi uma experiência do último ano do curso, em 1967, às vésperas dos sombrios anos de chumbo do governo Médici da ditadura militar, que se impuseram em 1968. Enfrentar os alunos inteligentes, irrequietos e politizados do CAp – Colégio de Aplicação da UFRJ era um novo desafio e uma nova aventura. Muitos ativistas políticos e representantes legislativos saíram daquelas turmas. Alguns colegas sucumbiram naquele turbilhão. Eu sobrevivi e, apesar do nervosismo dos iniciantes, fui capaz de enfrentar as questões daquelas pequenas feras que dentro daqueles muros podiam respirar liberdade, participação e democracia, mesmo se lá fora tudo isto desaparecia. Descobri que o prazer de dar aulas vinha do debate, do aprendizado que o ensino possibilita. Muitos anos mais tarde, no agradecimento aos meus alunos, lembrei a sabedoria dos franceses que tem um mesmo vocábulo para ensinar e aprender. Mas devo fazer justiça, minha sólida formação me salvou. Tempo de trabalho - A dupla vocação – prazer de ensinar e de indagar, Ensino médio e superior nos anos de chumbo (1968-1974) O último semestre do curso de graduação foi sombrio. A colação de grau no início de 1968 foi melancólica, não fizemos festa, seria um acinte aos colegas que se perderam pelo caminho. Era hora de trabalhar com diploma e deixar de ser explorada por colégios de segunda linha e cursinhos que afinal nos garantiam uma pequena renda adicional e nos permitiam praticar o ensino. Foi um tempo de aplicar o conhecimento acumulado na graduação e de continuar aprendendo com cursos rápidos sobre temas variados oferecidos por geógrafos do IBGE ou por outros professores de outras universidades. Mas este tempo me permitiu consolidar minha dupla vocação: o prazer de ensinar e de indagar. Este último, porém, ficou relegado, ou limitado aos debates em aula. Na verdade, as chances de praticar a pesquisa do modo como fui treinada na universidade estavam fora de cogitação e mergulhei na experiência de ser professora do ensino médio por pelo menos quatro anos. De 1967, no último ano de graduação, como estagiária do ensino médio estadual até 1970 quando fui convidada a trabalhar na Universidade Gama Filho e tive meu primeiro contato com o ensino em curso superior. Mas a sombra da repressão espreitava nas salas de aula. Dar aula de geografia para adolescentes foi uma experiência única e hoje percebo que o sucesso com meus estudantes vinha da intuição da geografia como uma experiência no mundo que nos cerca e como uma perspectiva que ajuda a perceber nosso lugar nele. Jovens são sensíveis e curiosos sobre o mundo que os cerca. O uso dos atlas escolares disponíveis, dos livros didáticos e do estímulo à imaginação sobre o distante e o diferente foram recursos inestimáveis. Em 1970, as aulas na Universidade Gama Filho iniciaram minha incursão pelo ensino superior e a vontade crescente de fazer pós-graduação. Mas foi também o momento da minha experiência de trabalhar no ambiente opressivo de um regime de exceção, de me sentir vigiada em relação aos livros indicados e aos debates em sala de aula. Fui chamada a atenção muitas vezes: porque discutia com meus alunos a exploração do minério da Serra do Navio por empresas americanas, ou por indicar os livros de Yves Lacoste. Não cheguei a perder meus empregos, mas estive em risco algumas vezes. Como eu era uma professora bem avaliada pelos alunos, os pragmáticos Diretores das instituições privadas eram permissivos; nos colégios estaduais a tolerância era explícita e apenas falávamos mais baixo. O exercício do magistério me fez ver logo que o professor é um eterno aprendiz. Mas eu já estava inoculada pelo veneno da pesquisa. Eu queria dar aulas, mas também indagar, abrir novas frentes no meu conhecimento e na minha formação. Nesse tempo eu já estava convencida da minha escolha profissional e da minha vontade de continuar na escola: para ensinar, para aprender e para ampliar minha visão de mundo e repassá-la aos meus estudantes. Sempre que as ofertas se apresentavam eu voltava aos “bancos” para fazer cursos de Aperfeiçoamento e Especialização de média duração que possibilitaram aprofundar temas estudados na graduação recentemente concluída. Entre estes destaco “As grandes regiões clímato-botânicas”, na AGB-RJ em 1968, ministrado pela professora Maria do Carmo Galvão e “Desenvolvimento regional”, no Instituto de Geociências da UFRJ, em 1969, com a professora Bertha Becker. Ainda não era tempo de escrever, esta experiência veio mais tarde com a pós-graduação. Caminho natural para minhas ambições e compromissos profissionais. Tempo de pós-graduação e de pesquisa; mestrado (1972-1975); A descoberta de novos espaços para o conhecimento geográfico; A geografia ativa: Consultoria e inserção na gestão pública (1977-1980); Professor Assistente da UFRJ - A experiência no IFCS; A descoberta de novos espaços para o conhecimento geográfico Em 1972 teve início o Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ. Se não fui a primeira a me inscrever na primeira turma de mestrado, certamente estava entre os primeiros que buscaram o novo curso. Nestes tempos, a FNFi já não existia e a Universidade do Brasil tornou-se UFRJ. A geografia e o CPGB (Centro de Pesquisa de Geografia do Brasil) ocupavam temporariamente o prédio do Largo do São Francisco, antes ocupado pela Escola de Engenharia e hoje pelo IFCS (Instituto de Filosofia e Ciências Sociais), enquanto o prédio da Ilha do Fundão não ficava pronto. Lá fora a repressão apertava seus tenazes. Ainda era tempo de silêncio e medo. A geografia também mudara. A revolução quantitativa estava em marcha. Nosso conhecimento de campo, de observação, de descrição e de análise já não servia para grande coisa. Precisávamos agora de um claro recorte conceitual capaz de nos conduzir com segurança a mensurar adequadamente os fenômenos a serem analisados. Nossos mestres eram outros: David Harvey do Explanation in Geography, Brian Berry e os métodos quantitativos e classificatórios, Petter Hagget e Richard Chorley com seu Models in Geography, Abler, Adams e Gould com seu inescapável Spatial organization: The geographer’s view of the world. A regionalização passou a ser uma questão de classificação de áreas e a região um recorte adequado para o fenômeno a ser analisado. Ou seja, nossos métodos também mudaram e as tentativas de resgatar o debate levantado por Harstchorne não foram suficientes para manter nossos vínculos com o passado. Tudo era muito atordoante, mas nem desconfiávamos do que ainda estava por vir... A quantificação abriu novos campos, polêmicas e debates acalorados sobre o “novo” e o “velho” na disciplina. Alguns de nossos professores do curso de mestrado eram os mesmos da graduação e seus esforços para seguir a nova onda teórico-metodológica eram enormes. Tínhamos a matemática e a estatística como disciplinas obrigatórias, além da Teoria Geral de Sistemas. A informática dava seus passos e nós éramos levados a montar algoritmos e entender a linguagem binária daquelas máquinas sinistras, muito diferentes das amigáveis interfaces de hoje dos sistemas Windows ou da Apple. Tudo era novo, novamente, e vivíamos uma fase de transição. O eixo de concentração do curso de mestrado era o desenvolvimento urbano-regional. A interdisciplinaridade com a economia espacial era evidente e devíamos percorrer a literatura sobre as teorias do desenvolvimento regional, a economia regional, disparidades espaciais do desenvolvimento e foram recuperados os modelos e padrões espaciais de Christaller e Lösch. Mas estávamos ainda longe do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky. Nossos mestres vinham de uma formação liberal com pinceladas de socialdemocracia de matriz keynesiana e era dentro deste campo que o debate se fazia e a questão era sobre as pré-condições e os percursos do processo. Lemos as teorias de W. W. Rostow (The stages of economic growth) sobre as etapas do desenvolvimento dos países e as condições para o “take off”. Também Gunnar Myrdal e seu livro sobre “Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas”, além do inescapável estudo de Friedman sobre os padrões espaciais do desenvolvimento, cujo modelo das relações centro periferia foi amplamente aplicado por nossos mestres, especialmente pela professora Bertha Becker. Na maioria dessas leituras o Estado era explícita ou implicitamente presente como um indutor do processo de desenvolvimento. A questão do planejamento era central e as políticas públicas para o desenvolvimento regional eram estudadas de várias maneiras. Estávamos no tempo da CEPAL na América Latina e Celso Furtado e SUDENE no Brasil e da versão do nacional desenvolvimentismo conduzido pelos governos militares. Como os métodos quantitativos estavam na ordem do dia na geografia, novas exigências metodológicas estimulavam a busca de cursos, mesmo que rápidos, e palestras que complementassem a nova formação e ajudassem as atividades de pesquisas que se avizinhavam. Destaco a “Evolução recente da pesquisa histórica”, com o professor Frédéric Mauro, em 1972 e o de “Métodos quantitativos aplicados à regionalização”, com a professora Olga Buarque de Lima em 1974. Em ambos foram apresentados os métodos e as dificuldades enfrentadas naquele momento para a conceituação e quantificação nas ciências sociais. Neste ambiente acadêmico aconteceram minhas primeiras incursões pela escrita de artigos científicos. No meu tempo de graduação, estudantes ficavam restritos a trabalhos das disciplinas e não eram estimulados a publicar seus textos ou apresentá-los em Congressos, como fazemos hoje com nossos bolsistas de IC. Mas o mestrado era uma etapa nova e, como hoje, éramos estimulados a publicar nossos textos bem avaliados nas disciplinas. Mas como eram tempos de transição, verifico quanto os textos sobre Madureira e Maricá, escritos com outros colegas refletem este momento. Fomos a campo, observamos, descrevemos, colhemos informações, analisamos, mas aplicamos o modelo de Christaller! O primeiro projeto de pesquisa foi o desafio de conduzir uma investigação que, mesmo sob supervisão, colocava à prova minha capacidade escolher um tema, um problema e definir as etapas e os procedimentos necessários para alcançar um resultado que atendesse às exigências para o título de mestre. A dissertação, como não poderia deixar de ser, foi uma aplicação daquilo que nos foi oferecido como recurso para a pesquisa. O tema do desenvolvimento espacial em um país tão desigual como nosso me atraiu e a literatura sobre este processo trazia ao debate a questão sobre a diferença entre desenvolvimento e crescimento e sobre os mecanismos de ambos os processos. O computador permitiu fazer uma análise fatorial de todos os municípios brasileiros, a partir de variáveis previamente selecionadas, com dados obtidos no IBGE para identificar e analisar “Os desequilíbrios e os padrões espaciais do desenvolvimento brasileiro”, utilizando informações estatísticas e selecionar variáveis para todos os municípios brasileiros. O tema era também importante naquele momento e minha orientadora, a professora Lysia Bernardes, dispunha de bagagem prática sobre o assunto. A dissertação de mestrado teve boa repercussão, pois tratava da questão dos desequilíbrios espaciais, permanente questão do processo de desenvolvimento das nações periféricas. O segundo projeto de pesquisa foi fruto dessa experiência e possibilitou expandir os resultados a partir do foco na construção de indicadores sociais, uma perspectiva que, naquele momento, vinha se impondo, especialmente no IBGE. Com base na metodologia utilizada na dissertação, novos dados foram incorporados e os resultados foram ampliados para construir os indicadores e definir uma tipologia e classificação dos níveis de desenvolvimento dos municípios para a Fundação MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização de Adultos) e outra para os municípios das Regiões Metropolitanas utilizada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS). O primeiro foi publicado no formato brochura pela Fundação e distribuído por todos os municípios onde suas bases estavam organizadas, ou seja, praticamente todos. A demanda por este tipo de material para a análise era grande e a curiosidade sobre o universo dos municípios brasileiros no contexto de uma análise comparativa resultou em matéria que destacou a importância do trabalho no Jornal do Brasil, noticiário importante no período. Minha primeira experiência de divulgação do trabalho fora do ambiente acadêmico foi gratificante e me dei conta da importância de poder oferecer à sociedade informações que possam ser apropriadas e utilizadas. Já estávamos no governo Ernesto Geisel e a preocupação com as grandes obras de infraestrutura para a modernização da economia. Era o governo autoritário dirigindo o Estado e tomando as rédeas da direção do processo. O planejamento estava na ordem do dia e a geografia dava sua contribuição através de levantamentos e análises do território, suas características e diferenças. Este era um conhecimento do qual nenhum Estado pode abrir mão, aliás, em nenhum tempo e lugar. Entre 1977 e 1980 foi a oportunidade de trabalhos de consultoria e inserção na gestão pública, ou seja, a geografia ativa tão valorizada no momento. Este foi um tempo novas práticas e de algumas publicações que expressavam esta atividade no período. As portas abertas pelo mestrado favoreceram uma experiência bem diferente daquela da sala de aula, seja para ensinar seja para aprender. A competência do geógrafo era requisitada para produzir informações e análises direcionadas a ajudar a tomada de decisões. Tratava-se aqui de um outro formato de pesquisa, mas com aplicação do mesmo rigor do método de investigação e do conhecimento produzido, destinado, porém a um público para além dos muros da escola. A experiência foi um desafio que fui capaz de cumprir, embora tenha descoberto que os trabalhos sob encomenda me motivavam menos por que eu preferia a liberdade da pesquisa acadêmica. Este não se consolidou como um nicho adequado às minhas indagações, embora reconheça a importância do conhecimento geográfico para a sociedade e, certamente, para os seus governos. Entre 1973 e 1987 tive a oportunidade de consultorias no Centro de Documentação da Fundação MOBRAL, do Ministério de Educação (1973-1975); na Companhia Morrisson-Knudsen de Engenharia para a Proposta de Projeto Educacional para a área da Superintendência da Amazônia (SUDAM, 1975); no Grupo de Trabalho para o Plano de Localização das Unidades de Serviço do Instituto Nacional da Previdência Social, do Convênio IPEA/INPS, para o Diagnóstico das Áreas Metropolitanas para a Regionalização dos Serviços de Saúde; no Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, para a elaboração de estudos e documentos referentes às áreas Social e Institucional do Brasil (1978-1979); na Fundação Legião Brasileira de Assistência para a Coordenação do Projeto de Regionalização dos Municípios para Programas de Assistência Social (1978); na Fundação Legião Brasileira de Assistência para a Organização da informações sobre as atividades e a elaboração de um Sistema de Indicadores para Avaliação de Desempenho e para o Planejamento dos Programas Institucionais (1987). Ainda nesse período (1976-1979) ocorreu minha rápida inserção na gestão pública. Fui a primeira geógrafa contratada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS e encarregada de definir qual seria a função deste especialista. Não lembro exatamente os termos da definição no estatuto daquele novo Ministério, mas sei que sua tarefa seria construir uma base de informações que pudessem ser úteis à tomada de decisões dos agentes públicos. Hoje percebo o quão pretensioso isso era, mas de qualquer forma era a importância do conhecimento geográfico como recurso para as políticas públicas. Inicialmente estive lotada na Secretaria de Assistência Social desse ministério e posteriormente na Secretaria de Articulação entre Estados e Municípios – SAREM do então Ministério do Planejamento. Neste período pude ter uma perspectiva do processo decisório e das políticas públicas em ação, ou da geografia ativa, como diriam os franceses. Pude perceber a importância do conhecimento que o geógrafo é capaz de oferecer para instituições públicas e privadas e meu pouco talento executivo na burocracia estatal e o quanto meu interesse continuava sendo investigar e analisar a complexidade do território e do federalismo no país, apesar do centralismo federal das decisões. A negociação e a mediação com os níveis de gestão dos estados e municípios eram necessárias, por mais que o poder estivesse concentrado. Esta experiência foi reveladora dos meandros do poder na base institucional do Estado e tem sido útil para a reflexão e teorização, desde a tese de doutorado. A possibilidade de participar da administração federal foi fruto de laços familiares. Meu companheiro, que havia sido meu professor no mestrado, era um competente quadro da direção do MOBRAL e me convenceu da importância de vivenciar o processo de definição e de aplicação de políticas públicas. Ante minhas hesitações em fazer parte de um sistema que eu criticava e rejeitava, ele chamou a atenção para a grande diferença entre Estado, governo e sociedade e a lição de que para que haja transformação é preciso conhecer os mecanismos de reprodução daquilo que se quer transformar. Lição que aprendi e que aprofundei no meu doutorado e que é sempre recuperada. A sociedade brasileira era maior que seus governos autoritários e sobreviveria a eles. E eu não podia esquecer o quanto havia sido beneficiada por políticas sociais como ensino público de qualidade, saúde, bolsas de estudo de iniciação científica e de mestrado. Ou seja, o Estado não devia ser ignorado, mas ajustado aos interesses e necessidade da sociedade. Aprendi mais tarde que o Estado pode ser coercitivo no limite da sua legitimidade, mas que os governos não tem esse direito. O Leviatã não deveria ser aniquilado, mas domado e colocado a serviço da sociedade. Este conhecimento prático tem me ajudado a não abandonar na geografia política a escala estatal, mas ao contrário, tentar compreendê-la cada vez mais, inclusive na sua dimensão territorial. Mas, nesse período, não abandonei minhas atividades de magistério superior, que agora incluíam também a PUC Rio de Janeiro e a própria UFRJ onde ingressei em 1979 como Professor Assistente após um concurso. Como é comum acontecer, aos novatos são atribuídos os cursos menos atraentes e eu fui indicada para ministrar Geografia Humana e Econômica para o curso de Ciências Sociais e Geografia Regional para o curso de História, ambos no IFCS (Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ). Oferecer cursos nas ciências sociais era o terror dos professores de geografia. Novo desafio, agora de enfrentar os estudantes de sociologia intelectualmente libertários, politicamente ativos e mergulhados na atmosfera que anunciava o fim dos governos militares. Este contato direto com as perspectivas epistemológicas que delineavam a visão de mundo e da sociedade nas ciências sociais abriu novos horizontes e mais tarde ajudou na difícil escolha do curso de doutorado. Esta experiência favoreceu o diálogo com as ciências sociais, incorporando questões novas colocadas por eles e ao mesmo tempo lhes demonstrando como a incorporação da dimensão espacial complementava e enriquecia a análise sociológica. Estávamos no tempo do David Harvey de “Social justice and the city” e dos problemas colocados pela rápida expansão do espaço urbano no país. Os futuros sociólogos aprenderam que não era possível compreender a sociedade urbana sem compreender seu espaço. Essa influência ajudou a configurar meu terceiro projeto de pesquisa e o balanço desse período no Largo do São Francisco foi bem positivo. Alguns alunos de história e de ciências sociais foram cursar geografia, porque descobriram que a disciplina era interessante tanto para o magistério como para pesquisa. Meu primeiro bolsista de Iniciação Científica era aluno de sociologia e morava na Vila Kennedy, conjunto habitacional na Zona Oeste do Rio de Janeiro, construído no processo de remoção de favelas durante o governo Carlos Lacerda, e acabou se engajando no meu primeiro projeto de pesquisa como professora Assistente do Departamento de Geografia: “Políticas públicas e estruturação interna urbana – um estudo de caso no Rio de Janeiro” entre 1980 e 1981. O tema estava na agenda de pesquisas das ciências sociais e na geografia urbana e era um excelente campo para a interdisciplinaridade. Duas monografias de graduação foram concluídas neste projeto. Poucos anos depois, os achados desta pesquisa resultou no artigo “Conjunto habitacional: ampliando a controvérsia sobre a remoção de favelas”, tema que na época mobilizava corações e mentes em várias especialidades no país, e foi publicado na prestigiosa Dados - Revista de Ciências Sociais, em 1983. Este foi também apresentado no Congresso da UGI e publicado em inglês, no mesmo ano, como "Housing projects - elarging the controversy about squatter removes” na Revista Geográfica do Instituto Panamericano de Geografia e História. Alguns anos mais tarde, quando eu já estava no doutorado, fui convidada pela professora de Metodologia da Pesquisa no IFCS para um seminário com seus alunos sobre essa pesquisa. Ela revelou que há alguns semestres vinha adotando o artigo da Revista Dados como exemplo de metodologia correta na condução de uma investigação. Fiquei realmente muito feliz e me senti recompensada por contribuir para a interface da geografia com as ciências sociais e especialmente por deixar claro o quanto temos a oferecer. Agora, depois de tanto tempo, revendo meus consultos percebo como as relações do espaço com a política me instigaram desde sempre! Mas deve ser registrada ainda a dissertação de mestrado de Jurandyr Carvalho Ferrari Leite, também aluno de ciências sociais que buscou mais tarde o PPGG e minha orientação para sua pesquisa: “Projeto geopolítico e terra indígena. Dimensões territoriais da política indigenista”, defendida em 1999. Esta foi mais uma aproximação de estudantes do IFCS que tiveram seus interesses despertados pela geografia. Nos primeiros anos como professora assistente da UFRJ, reconheço que era grande o sofrimento dos meus alunos, da geografia ou das ciências sociais, com as novas leituras metodológicas que eu lhes impingia como resultado da conclusão do mestrado e dos novos ventos que começavam a soprar na geografia. Através das dúvidas que eles apresentavam eu tomava consciência da confusão mental que algumas vezes eu mesma vivia. A transição da formação da graduação para a pós-graduação foi dolorosa e nem um pouco linear, e ao final da dissertação de mestrado e de aplicação dos métodos quantitativos que eu tão ciosamente utilizara, a geografia crítica fez sua aparição em Fortaleza, em 1968. O David Harvey do Explanation in geogragraphy metamorfoseara-se no de Social Justice and the city. O Milton Santos do Manual de geografia urbana era o de Por uma nova geografia. Eram tempos duros para um geógrafo novato. Mas era também tempo de debates estimulantes, de muita polêmica e do confronto de ideias, fundamentais para os avanços do conhecimento e do enriquecimento da agenda da geografia. Embora as questões das políticas públicas e seus impactos sobre o espaço urbano fossem um campo aberto e minha inserção nele já houvesse dado alguns frutos, o problema regional que emerge da escala nacional, como ponto de vista para a análise do processo de desenvolvimento e suas disparidades territoriais, continuava sendo para mim apaixonante. Confesso que, apesar da competência de importantes mentores intelectuais, entre eles o David Harvey do Explanation in geography, nunca fiquei muito convencida sobre o recorte regional como mera “classificação de área” ou como um recurso a ser aplicado para definir uma determinada área para uma ação específica e que só tem existência no curso desta ação. Afinal, meu pai era da Região Nordeste e esta não é uma noção trivial. Este debate estava longe de ser esgotado e percebi mais tarde que a região se tornou um fantasma que de vez em quando me assombrava. O doutorado me permitiu exorcizá-lo. O tempo de doutorado (1982-1988) implicou uma difícil escolha. O país vivia a distensão e a redemocratização e na geografia era tempo de novos fundamentos teóricos e metodológicos. Na política vivíamos em tempos de uma “abertura lenta e gradual” para o encerramento do ciclo de governos militares. Ainda não era a democracia, mas respirávamos um pouco melhor. Na geografia, as novas reviravoltas teórico-metodológicas que eclodiram no 3° Encontro Nacional de Geógrafos, realizado em julho de 1978 em Fortaleza – CE, com o confronto entre a "geografia clássica" e "geografia crítica", se impunham com grande vigor. Críticas contundentes ao passado positivista da disciplina eram lançadas e, mais uma vez, o que havíamos aprendido antes deveria ser revisto. Tanto a formação da graduação, definida como descritiva e alienada, e a da pós-graduação como um aprofundamento desta visão, apenas reforçada por métodos estatísticos que mais obscureciam do que revelavam a realidade. Era neste ambiente de polêmicas e efervescência intelectual que, já professora assistente e tendo oportunidade de continuar minhas pesquisas, impunha-se a realização do doutorado. As opções no Brasil eram muito limitadas e outros colegas do departamento estavam diante da mesma circunstância e as escolhas foram variadas: Inglaterra, França, Estados Unidos, Espanha, Portugal. Para mim havia a possibilidade de cursá-lo na França, Inglaterra ou em Portugal, mas problemas pessoais do momento me impediram de fazer a escolha de atravessar o Atlântico. Da mesma forma, não me via percorrendo a Via Dutra ou a ponte aérea Rio - São Paulo uma vez que ainda não havia curso de doutorado em geografia no Rio de Janeiro. Mas havia por aqui o IUPERJ – Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e centro de excelência na pós-graduação em Ciência Política e Sociologia, sugerido por uma colega do Departamento e que vinha ao encontro do meu interesse pela política e da minha familiaridade com os temas das ciências sociais. O doutorado em ciência política tornou-se uma possibilidade concreta. Minhas indagações e dúvidas epistemológicas e a convivência com os alunos de ciências sociais, suas inquietações, discussões e polêmicas apontavam para o doutorado no IUPERJ. Cedo percebi que, mesmo de modo um tanto paradoxal, meu contato com a nova agenda e os novos debates da geografia, influenciados pelos princípios teórico-metodológicos do marxismo, estava longe de ser tranquilo ou trivial. Fui selecionada para o curso de doutorado. A primeira geógrafa aceita com alguma desconfiança no ambiente exclusivo dos cientistas sociais. Meu orientador foi o professor Sérgio Abranches, jovem e competente e com grande interesse pelas políticas públicas e com grande sensibilidade para a geografia. Meu professor de teoria política clássica foi Wanderley Guilherme dos Santos, seguramente o cientista político mais brilhante e inovador do país; de história política do Brasil foi José Murilo de Carvalho, membro da Academia Brasileira de Letras, intelectual do ano e pesquisador irrequieto. Outros professores foram Olavo Brasil, Amaury de Souza, Elisa Reis, Eli Diniz, Renato Borghi, Carlos Hasenbalg, Cesar Guimarães, Simon Schwartzman. Para cada um deles a perspectiva teórica era fundamental e percorremos a literatura dos clássicos da filosofia política: “O príncipe” de Maquiavel, “O Leviatã” de Hobbes, “O segundo discurso sobre o governo” de Locke, “O contrato Social” de Rousseau, “Do Espírito das Leis” de Montesquieu, “O antigo regime” e “Da democracia na América” de Tocqueville, “Economia e sociedade” de Weber, o “Dezoito Brumário” de Marx, além de muitos outros como Gramsci, Lênin, Trotsky, Robert Michels, Gaetano Mosca, Norberto Bobbio etc. No final do curso fui apresentada por Elisa Reis aos textos de Michael Mann e o comentário de que finalmente ela entendera, com este autor, o porquê da minha insistência em incluir o território nas discussões da ciência política. O mergulho nesse universo teórico conceitual plural e a experiência dos debates que ideias contraditórias suscitam foi um aprendizado duro no início, mas que acabei incorporando como modo de refletir e de enfrentar problemas novos. Além disso, para minha grande surpresa cada vez mais eu encontrava a geografia subsumida ou explícita nesses textos: a relação entre o controle do território e o poder era clara em Maquiavel e em Rousseau, o problema do determinismo da natureza teve em Montesquieu legitimação teórica, a relação entre o território e suas disponibilidades de recursos como condição necessária para a democracia em Tocqueville. Essas eram algumas das fontes de nossos teóricos, mas eu não tinha, até então, uma visão clara. O Estado como problema e a questão de “porque existe governo” são centrais na ciência política. Em ambos os casos o território encontra-se subsumido e a relação com a geografia é evidente. Foi nesse desdobramento possível que procurei definir o tema e a questão central da minha tese de doutorado. E aqui o fantasma da região se materializou na indagação sobre o papel da política no recorte regional. A interdisciplinaridade era clara e o tema atendia à exigência do curso de que a tese fosse de ciência política e a minha de não me afastar da geografia. Afinal este continuava sendo o meu ofício. A tese de doutorado foi meu quarto projeto de pesquisa: a importância da Região Nordeste e de sua elite política no histórico suporte ao poder central, fosse ele democrático ou autoritário, ia pouco a pouco se delineando para mim como uma questão que merecia ser investigada. Fui estimulada pelo meu orientador a seguir em frente e elaborar este novo projeto, diferente do que havia apresentado para ingressar no doutorado, influenciado pelas minhas incursões nas questões das políticas públicas na cidade. Após ser impactada por todas as leituras do primeiro ano de curso, a questão da política habitacional e do espaço urbano no país, meu projeto original, pareceu menos instigador do que a inserção territorial das estratégias se sobrevivência da velha, mas sempre renovada, elite política nordestina. O tema não foi bem aceito por alguns pares da geografia. Era tempo da crítica radical ao conceito de região, da negação da política e da crítica ao Estado como um instrumento dos interesses capitalistas. Afinal, o que tinha relevância para as lideranças intelectuais na disciplina eram a economia política e seus atores privilegiados, ou seja, aqueles no comando das grandes empresas capitalistas, e o desenvolvimento desigual e combinado. Política e região eram vistas como resquícios do passado positivista e conservador da disciplina e a perspectiva de estudar a elite regional remetia a algo pior, ao pensamento liberal, considerado por definição aquiescente com injustiças. Mas, felizmente, a minha tese era em ciência política, pouco afeita a reducionismos, e espaço intelectual de convivência e diálogo entre matrizes teóricas as mais variadas. Pude passar ao largo das críticas e desenvolver minha pesquisa que pôs à prova minha capacidade de investigar e meu aprendizado de campo que vinha da graduação. A dimensão quase religiosa da adesão a paradigmas que não comportam dissensos e polêmicas era para mim incômoda na geografia desde a década de 1980. Em se tratando de ciência percebi que meu ateísmo foi de grande ajuda. Para minha tese a base conceitual utilizada foi a dos debates sobre a região, que eram bem mais frequentes na geografia, e sobre o regionalismo mais presentes na ciência política e na sociologia. Os temas do regionalismo e da identidade regional na nossa disciplina eram abordados em diferentes perspectivas conceituais. Na década de 1980 muita tinta se gastou nessas discussões e algumas polêmicas importantes opunham as correntes materialistas às outras abordagens, fossem humanistas, institucionalistas ou econômicas. No conjunto das ciências sociais e da geografia, a bibliografia disponível era considerável, especialmente na França e na Inglaterra, o que indicava a importância do tema e as muitas discordâncias em torno da melhor forma de abordá-lo. A inclusão da elite – política, econômica ou cultural – não era estranha, embora menos frequente. Como o meu interesse era identificar o modus operandi da elite política regional, a operacionalização foi feita com recurso ao material empírico disponibilizado pelos discursos parlamentares das legislaturas de 1945 a 1987 na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. Outras fontes e informações foram utilizadas, mas a análise temática dos discursos selecionados através de amostra foram os mais importantes e mais originais no modo como foram tratados. A repercussão da tese foi imediata e seus resultados muito debatidos – a favor e contra – em mesas redondas e seminários, no Rio de Janeiro e outros estados, mas especialmente na Região Nordeste. A pesquisa revelou a importância dos espaços institucionais ocupados pela elite política regional na condução do processo de desenvolvimento e do ethos nele implicado. A questão Nordeste, tão discutida e imposta à nação como um destino manifesto às avessas pôde ter uma nova maneira de ser pensada. Fui convidada para uma longa entrevista no Caderno Ideias do Jornal do Brasil, para debates na televisão, além de comentários em Editorial do JB. Ou seja, a tese ganhou a rua. A editora Bertrand Brasil ofereceu-se para publicar o livro. Mas eu já estava de malas prontas para o pós-doutorado e adiei a publicação para a volta. Em 1992, meu primeiro livro, “O mito da necessidade. Discurso e prática do regionalismo nordestino” foi lançado. Mais debates e polêmicas, mas principalmente a consolidação de um tema e de uma abordagem que continuaria a produzir resultados acadêmicos importantes, como artigos e teses de doutorado, ironicamente na própria Região Nordeste e também na vizinha Argentina, onde uma dissertação foi feita utilizando a mesma metodologia para abordar a Região do Chaco, com grandes analogias com o Nordeste brasileiro. Não posso deixar de mencionar a frieza com que o livro foi recebido em boa parte da geografia brasileira. Afinal, ele tratava da ideia de região a partir do discurso identitário elaborado por atores políticos e recorria a uma literatura teórico conceitual que não era usual na geografia crítica então praticada e não usava o jargão do materialismo histórico, embora Gramsci tivesse sido muito utilizado. Era o momento de um radicalismo epistemológico estreito, sem lugar para debate, especialmente se conceitos como política, região e estado fossem abordados. Na França, quase que simultaneamente, mas só vim conhecer mais tarde, Yves Lacoste coordenava uma enorme obra, em três volumes, chamada “Géopolitique des régions françaises”, publicada em 1988. As regiões eram analisadas como recortes territoriais que construíam sua identidade e se diferenciavam a partir da história de suas elites políticas, seus discursos, interesses, conflitos e acordos. Todo o processo que eu analisei para compreender a Região Nordeste brasileira estava lá, em várias regiões francesas, o que reforçava minha convicção de que vieses ideológicos não são capazes de mudar a realidade estudada. Melhor ficar longe deles. Lacoste optou pelo uso do termo geopolítica ao invés de geografia política, que era o que se tratava na realidade. Essa estratégia escapista e simplificadora de usar o rótulo da geopolítica por negar sua tradição como disciplina tem consequências nefastas até o presente. A geopolítica do título apontava que todo este processo de construção se fazia no confronto com outros espaços regionais e com o poder central, mas o uso da palavra foi certamente uma recusa de tributo à geografia política, que ele tanto criticava, e que era afinal o conteúdo da obra, o que não deixou de ser provocativo. Ou seja, por via da política eu sempre chegava à geografia. Trinta anos depois, está sendo preparada uma reedição de O mito da necessidade por insistência de alguns colegas e ex-alunos. O ambiente intelectual hoje talvez esteja mais preparado para pensar a geografia em paralelo com os processos de formação da região e do regionalismo, com a política como negociação necessária frente aos conflitos de interesses, que não pode jamais ser reduzida ou substituída pela ideia de poder, e com centralidade territorial de mando e obediência do Estado, que permanece ainda como instituição inescapável da vida contemporânea. 2. OS ESPAÇOS O pós-doutorado na França (1990-1991); espaço de novas descobertas, a democracia e a cidadania como experiências do cotidiano; a França e o CEAQ Após o doutorado, o pós-doutorado foi o caminho natural para buscar uma interlocução no exterior. Neste ínterim, uma entrevista com o professor Michel Maffesoli, sociólogo da Universidade de Paris V - Rénée Descartes, Sorbonne, chamou minha atenção. O regionalismo era o tema analisado naquele momento. Consultei seus trabalhos e verifiquei como o “genius loci”, ou seja, a identidade da sociedade com o seu território era um objeto de investigação necessário. Eu continuava encontrando a geografia fora da geografia nacional. Apresentei meu projeto: Espaço regional e modernização tecnológica: limites e potencialidades do regionalismo, escrevi para ele, fui aceita para um estágio de pós-doutorado, obtive uma bolsa do CNPq e arrumei as malas para Paris. No ano de 1990 e primeiro semestre de 1991, participei das atividades do CEAQ – Centre de Recherche sur l’Actuel et Le Quotidien, na Université Réné Descartes. Além de seguir os seminários sobre imaginário político do professor Maffesoli, pude participar de dois dias de debates em torno da obra do antropólogo Gilbert Durand. Foi a oportunidade de acompanhar também os debates na geografia, especialmente a obra de Jacques Lévi e de Yves Lacoste e a polêmica entre eles. Tive também acesso a uma coletânea organizada por Phillippe Boudon, arquiteto preocupado com o problema epistemólogico da escala na arquitetura e que muito me ajudou a colocar o problema da escala com um pouco mais de precisão. A geografia, decididamente não estava só. A discussão de Edgard Morin sobre o problema epistemológico da complexidade, além de abordar a questão da escala, por sua vez, chamou minha atenção num momento em que eu me perguntava até onde era possível ir à busca de fundamentos conceituais mais consistentes para minhas indagações sobre a região e o regionalismo. Desde o doutorado, a ideia de que não é possível encontrar para a investigação um fundamento teórico conceitual único, capaz de dar respostas satisfatórias para os muitos problemas que somos capazes de identificar no mundo real permanecia como convicção. Ao final desse um ano e meio de leituras e de contatos com novas questões e novos temas, o que havia sido apenas intuído na minha pesquisa para a tese pôde emergir e ser aprofundado, ou seja, a questão do nexo entre o imaginário político e o território. E a Região Nordeste continuava sendo um interessante campo de estudo desse vínculo. Da mesma forma, o problema da região e seu recorte permitiu examinar com mais calma o problema da escala como medida adequada para observar o fenômeno, trabalhada por outros especialista tanto na França como nos Estados Unidos. Os produtos concretos desse período foram um artigo sobre “O problema da escala”, publicado originalmente na coletânea Geografia Conceitos e Temas, em 17ª Edição, organizado em parceria com os professores Paulo Cesar da Costa Gomes e Roberto Lobato Correa. Este artigo foi solicitado para ser publicado em inglês e espanhol na Revista Quaderns D'arquitetura i Urbanisme, de Barcelona, em 2002 e na coletânea Cuaderno de geografía brasileña, organizado por Graciela Uribe Ortega, no México. Além da escala, a questão do imaginário político, intuído na pesquisa para a tese de doutorado, foi também aprofundada e ampliada e as leituras do pós-doutorado conduziram ao novo projeto de pesquisa, ainda focado na Região Nordeste, mas agora tendo como questão central as diversas facetas do imaginário político nas suas relações com a natureza e a sociedade. O eixo continuava sendo o discurso, porém tratava-se agora da elite econômica vinculada à produção irrigada no semiárido. Novos produtos desta etapa da vida acadêmica: artigos e orientações vinculadas ao problema da relação do imaginário político e o território. Foi interessante verificar como o clima semiárido assumia uma dimensão completamente diferente para os empresários da fruticultura irrigada. Da tragédia anunciada pelos políticos porta vozes de um modelo social arcaico, para os modernos empresários a falta de chuva era um recurso potencial inestimável. Este debate encontra-se no artigo “Seca versus seca. Novos interesses, novos territórios, novos discursos no Nordeste”, publicado em outra coletânea “Brasil. Questões atuais da reorganização do território”, em 8ª Edição, organizada novamente com os colegas Paulo Cesar da Costa Gomes e Roberto Lobato Corrêa, também pela Bertrand Brasil, Rio de Janeiro. Ainda nesta linha foram publicados: “Natureza, imaginário e a reinvenção do Nordeste”, no livro “Paisagem, imaginário e espaço”, organizado por Zeny Rozendahl e Roberto Lobato Corrêa, editado pela EDUERJ em 2001; "Novos interesses, novos territórios e novas estratégias de desenvolvimento no Nordeste brasileiro.", no livro Desarollo local y regional en Iberoamérica, organizado por R. González, R. Caldas e J. M. Bisneto, em Santiago de Compostela em 1999; e também, “Imaginário político e território. Natureza, regionalismo e representação” no livro Explorações geográficas, organizado por mim, Paulo Cesar da Costa Gomes e Roberto Lobato Corrêa, publicado pela Bertrand Brasil em 1997, em 5ª edição. Esta foi ainda uma temática profícua na atração de estudantes interessados em desenvolver dissertações de mestrado e teses de doutorado. Nesta última modalidade foram 6 teses orientadas, todas realizadas por professores de universidades de estados nordestinos: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco (2) e Bahia (2), que explicitarei adiante. Refazendo esse percurso não posso deixar de comentar as críticas que recebi pela opção de escolher como objeto de investigação as elites política e econômica nordestinas, na tese de doutorado como em pesquisas posteriores. Compreendi imediatamente que o problema é que eu não fazia parte dos que aderiram sem muita reflexão à geografia crítica, que na época substituiu o determinismo da natureza pelo determinismo do modo de produção capitalista e a luta de classes inerente. Esta chave mágica que abria as portas a todos os problemas e tudo explicava. Neste ambiente acadêmico, falar em elite política e empresariado rural soava como heresia imperdoável no momento em que o importante era o oprimido, não o opressor. Para mim, no entanto, numa perspectiva de Celso Furtado e mesmo gramisciana, que acredito ainda não estava em voga na época, era necessário justamente compreender os mecanismos de reprodução das desigualdades profundas da Região e analisar o papel dos novos atores econômicos regionais que disputavam espaços com a velha elite. A confusão entre epistemologia e ideologia, que não era restrita à geografia, confundia a escolha do objeto de pesquisa como recurso para compreender a realidade com engajamento político, o que infelizmente empobreceu o debate na geografia com impactos importantes para sua vertente política. Esta foi substituída por uma pretensa geografia do poder, que até hoje não quer dizer muita coisa, mas apenas uma tautologia. Confundiu-se os conflitos produtivos que pertencem ao campo da economia com os conflitos distributivos que pertencem ao campo da política. A submissão da política à economia produziu muitos reducionismos e não favoreceu a compreensão da realidade que teima em não se enquadrar aos moldes de um modelo explicativo previamente estabelecidos. Felizmente hoje há críticas importantes a essa deriva da disciplina, que começa a se abrir para um pluralismo conceitual mais saudável, que tem reduzido a desconfiança sobre a geografia política. Voltando ao estágio em Paris, este me ofereceu muito mais. Tendo saído do Brasil no confuso início do governo Collor, vivenciando o processo de inflação sem controle que dificultava avaliar os limites do orçamento doméstico, mergulhar num ambiente de estabilidade, de democracia e de cidadania como experiências do cotidiano, deixou marcas que não mais se apagaram. Minha sensibilidade para a política como viagem intelectual era cada vez mais reforçada como viagem existencial. A descoberta da alteridade, o compartilhamento da diversidade – étnica, religiosa, de nacionalidade – nos espaços e transportes públicos era um exercício cotidiano de se reconhecer como brasileira, para o bem e para o mal. A experiência de viver um tempo fora da “concha protetora” na expressão de Bachelard, no estrangeiro é um privilégio que o mundo acadêmico oferece e deveria ser aproveitado. Estimulei todos os meus alunos a buscarem doutorado, bolsa sanduíche ou pós-doutorado no exterior. Os que souberam aproveitar reconhecem a importância da experiência. Mas, que fique claro, não é fácil mergulhar em outra cultura, grandes esforços e alguns sacrifícios são exigidos, mas os ganhos são para toda a vida. Morar na Paris do início da década de 1990, partilhar de um espaço institucional no qual a praça e o palácio se confrontam, mas acima de tudo interagem, se reforçam e se respeitam por que sabem, como disse uma vez Norberto Bobbio, que “o palácio sem a praça perde a legitimidade e a praça sem o palácio perde o rumo”. Meu desconforto com os tempos da ditadura e a experiência do respeito que as instituições públicas devem aos cidadãos eram fundamentos sobre os quais minhas opções de temas de pesquisas, mais amadurecidas a partir da tese de doutorado, acabaram progressivamente se encaminhando. Este percurso possibilitou reforçar minha sensibilidade pela política e definir o nicho da geografia no qual me encontro e que hoje vai muito além da Região Nordeste como problema e do imaginário político como substrato das análises sobre o território. Minha perspectiva da geografia política está na interface dos fenômenos políticos, perfeitamente inseridos na sociedade, com o espaço que ela organiza. Utilizando aqui as palavras de John Agnew, minha preocupação é de como a geografia é hoje cada vez mais informada pela política e, na mesma linha, a perspectiva de Jacques Lévy para quem mais do que geografia política nos moldes clássicos é importante hoje fazer uma geografia do político. E nesta direção, a centralidade territorial do Estado como fundamento da autonomia do seu poder, como discute Michael Mann, define uma agenda de pesquisa inovadora, que incorpora as múltiplas escalas com as quais o campo da geografia deve lidar. A escala do Estado-Nação, duramente criticada na retomada da geografia política desde a década de 1970, adquire significado bem diferente quando considerada a partir das entranhas do estado, ou seja, das suas instituições e dos vínculos destas com a sociedade e seu território. Não há divórcio entre a formação da sociedade e aquela dos aparatos para o seu governo, que na modernidade assumiu o formato do Estado moderno, como um olhar mais apressado para algumas das polêmicas entre a sociologia e a ciência política pode fazer crer. Na realidade, Estado é um “locus” de poder, mas do poder político, e a tentativa de substituí-lo na agenda por uma geografia do poder é no mínimo ingênua. Neste sentido, o Estado é retomado da agenda da geografia política clássica, porém, menos nos seus conteúdos formais ou na relação com outros Estados, tema central da geopolítica e das relações internacionais, mas como uma escala política consistente que define um território pleno de problemas, conflitos e contradições. A ordem espacial e social que resulta desta dinâmica oferece uma agenda temática estimulante e também provocativa que, ao aceitar a multidisciplinaridade, recorre a matrizes intelectuais que transcendem ao campo da geografia e se estendem ao domínio mais amplo das ciências sociais. Uma lição de Milton Santos, em sua curta passagem pelo nosso departamento, foi bem aprendida: as ciências crescem nas suas margens. 3. A CARREIRA ACADÊMICA Inserção na graduação da UFRJ; Ensino e Pesquisa; A inserção na pós-graduação: Disciplinas - Projetos de pesquisa – Orientações; participação na vida universitária: Administração acadêmica, Representação em colegiados, Atividades de Extensão Concluído o doutorado e o estágio de pós-doutorado, a bagagem acadêmica se consolidava e o oferecimento de cursos uma oportunidade de levar aos alunos da graduação em geografia a renovação do debate na geografia e a dimensão política como ingrediente necessário. O retorno do pós-doutorado me “credenciou" para finalmente reivindicar uma disciplina no curso de geografia e passar para outro novato os cursos do IFCS. A disciplina “Trabalho de Campo” foi a primeira, que acumulei durante algum tempo com as do IFCS, e ensejou pôr em prática, agora na posição de responsável, a experiência de conduzir os alunos pela aventura da investigação, da definição da questão adequada, da observação, do aprendizado de como obter informações relevantes, de selecionar e de abordar atores sociais apropriados. Algumas experiências foram importantes: O Estágio de Campo III requer uma permanência mais prolongada dos estudantes, o que favorece a escolha de destinos mais distantes. Por duas vezes fomos explorar no Norte de Minas Gerais, a área dos projetos de irrigação da CODEVASF. As possibilidades de articular as decisões de políticas públicas federais, os atores sociais dos sindicatos rurais, os empresários, as cooperativas, a tecnologia necessária, as burocracias das prefeituras e muitos outros aspectos daquele espaço constituíram um aprendizado prático inestimável. Em outra oportunidade, no Estágio de Campo I, que requer saídas de um dia para estudar um aspecto específico, no caso, a relação entre o espaço urbano e a política habitacional selecionei uma visita à Zona Oeste do Rio de Janeiro, espaço ocupado por grandes conjuntos habitacionais construídos pelos institutos de previdência corporativos – IAPC, IAPI etc., conhecido como Moça Bonita, na década de 1950 e, mais especialmente, a Vila Kennedy, construída no início da década de 1960 e que já havia sido meu objeto de investigação há 20 anos. Esta experiência, diante da deterioração dos conjuntos habitacionais me levou a escrever um artigo publicado no Jornal do Brasil: “Moça Bonita e os limites da democracia”, em 2000. Porém, como a exposição na mídia sempre produz mais impacto, o aprofundamento da questão levantada por aquela experiência resultou em artigo sobre a paisagem urbana brasileira e o imaginário nela subentendida e publicada com o título “Paisagem e Turismo. O paradoxo das cidades brasileiras”, no livro Turismo e paisagem, organizado por Eduardo Yázigi, colega da USP. As disciplinas teóricas favoreciam a consolidação do meu interesse pela dimensão política do espaço: A Geografia Política, a Geopolítica, os Tópicos Especiais em Geografia Política e, mais recentemente, a Geografia política das eleições no Brasil tem constituído momentos de selecionar leituras e orientar debates fortemente articulados ao meu campo de pesquisa. A Geopolítica, que tive oportunidade de ministrar por curto período, é importante por resgatar a dimensão clássica da disciplina e o papel das estratégias de disputas entre os Estados nacionais. A escala privilegiada para sua análise é a global. Seu conteúdo é tema cada vez mais importante nos cursos de relações internacionais, revalorizados num mundo globalizado onde não apenas os Estados Maiores, mas também as empresas necessitam definir estratégias para uma competição ampliada. Por opção passei ao largo da “geopolítica crítica”, hoje sob intenso debate e crítica. Tópicos Especiais em Geografia Política é uma disciplina eletiva que possui conteúdo variado, definido pelo professor responsável no período em que é oferecida. Nas oportunidades de oferecê-la, optei por discutir a territorialidade do Estado brasileiro através do levantamento e análise da distribuição regional da burocracia federal: tipos de órgãos, cargos, funcionários. Trabalhos foram realizados pelos alunos e alguns decidiram aprofundá-los e transformá-los em monografia. Mais recentemente, foi criada a disciplina eletiva Geografia política das eleições no Brasil, que tem despertado grande interesse dos estudantes, tanto pelo tema sempre polêmico das eleições como pela possibilidade de fazer uma verdadeira geografia eleitoral, com mapeamentos e análises dos resultados. Este tem sido tema de monografias e já foi objeto de uma dissertação e de outra em andamento, além de uma tese de doutorado sobre a territorialidade da representação parlamentar. A geografia política, finalmente, firmou-se como o centro em torno do qual tenho desenvolvido minhas reflexões, meus projetos de pesquisa, minhas orientações. No entanto, algumas dificuldades foram imediatamente percebidas no momento de definir um conteúdo atual e compreensível para os alunos do curso de graduação e para obter material de leitura adequado e em português. Alguns livros importantes e traduzidos foram em algum momento utilizados: Geografía política de André-Louis Sanguin (em espanhol), A geografia serve, antes de tudo, para fazer a guerra, de Yves Lacoste, Geografia e poder, de Paul Claval, Por uma geografia do poder de Claude Raffestin, Geopolítica e geografia política, de Wanderley Messias da Costa, além de outros livros importantes. No entanto, nenhuma dessas leituras esgotava aquilo que eu considerava de inovador na geografia política, ou seja, a recuperação do recorte nacional como um espaço político por excelência no qual instituições fazem a mediação com os interesses conflitantes da sociedade. Esta direção pode ser encontrada especialmente em geógrafos franceses como Jacques Lévy e Michel Bussi ou de alguns anglo saxões como Graham Smith, John Agnew, Clive Barnet, Murray Law ou John O’Loughlin. Além desses, toda uma gama ampla e variada de artigos na revista Political Geography, acessível no Portal Capes, mas em inglês. Esses autores menos “clássicos” têm sido importantes por contribuir para uma nova agenda da geografia política que resgata alguns temas clássicos da disciplina, como a geografia eleitoral, criada por Siegfried, mas abandonada pela geografia e utilizada pela ciência política, ou mesmo as questões colocadas por Gottmann em seu The significance of territory, menos conhecido do que o La politique des États et leur géographie. Como era difícil estabelecer uma grade de leitura satisfatória e ao alcance dos alunos para evitar o hábito de tirar xerox de capítulos ou páginas avulsas, fui progressivamente preparando um material didático que acabou resultando no livro Geografia e política. Territórios, escalas de ação e instituições, editado pela Bertrand Brasil em 2005 e hoje em 7ª edição. Este livro constitui o produto de uma etapa madura do meu desenvolvimento intelectual e profissional que me permitiu elaborar um quase manual para os estudantes e interessados na geografia política. Digo quase por que não se trata do conteúdo que seria necessário para abranger todos os temas da disciplina, mas que reflete a direção e as escolhas que tenho feito. Neste sentido, o livro tem atendido a uma agenda da geografia política que abrange problemas conceituais da disciplina, suas escalas mais significativas e questões sobre uma geografia política brasileira. Alguns temas como federalismo, geografia eleitoral, cidadania e democracia tem sido aprofundado em teses de mestrado e doutorado. Os dois últimos tem sido objeto de minhas inquietações mais recentes, que compartilho com os estudantes. É importante uma rápida menção à implantação do Curso Noturno de Geografia, objeto de grande debate no departamento, em meados da década de 90. Fui defensora do curso desde o seu início e só lamento o isolamento desses alunos e as poucas oportunidades que o espaço do IGEO lhes oferecia naquele momento. Como eram ainda poucos cursos, o horário noturno não favorecia para que eles usufruíssem da efervescência e da diversidade próprias da experiência de um curso superior. O convívio com esses alunos, mais maduros e com um cotidiano muito mais duro do que aquele dos jovens do curso diurno mostra como o ensino é acima de tudo um compromisso social. Felizmente este ambiente de isolamento mudou. Há muito mais alunos e interação entre eles no período noturno. A proximidade com os estudantes de graduação em geografia permitiu estimulá-los a refletir sobre a importância da política para o cotidiano de cada um, partindo da perspectiva teórica conceitual que existe uma autonomia do político que deve ser compreendida e tomada como suposto nas análises. Nesta perspectiva, o território é visto como uma arena onde conflitos e disputas de interesses afetam e são afetados pela ordem social. As muitas dimensões da política: histórica, econômica, urbana, rural etc. são exemplificadas com os conhecimentos que os estudantes trazem de outras disciplinas. Como não podia deixar de ser, o percurso da geografia política vem desembocando na reflexão sobre os espaços políticos, ou seja, aqueles espaços mobilizados para a ação política, seja o das casas legislativas, aqueles dos conselhos de representação para decisão sobre políticas públicas, seja o das ruas invadidas por passeatas e manifestações. Este é um nicho que já rendeu teses e dissertações e tem se mostrado cada vez mais desafiador intelectualmente. A inserção na pós-graduação se deu a partir de 1991, com a oportunidade de participar do Programa de Pós-Graduação em Geografia, o que representou a fase de amadurecimento profissional e intelectual na geografia. Esta foi a ocasião de definir conteúdos que dariam suporte às pesquisas dos mestrandos e doutorandos, mas também às minhas próprias indagações. Após o retorno da França e dando continuidade à minha bolsa do CNPq, desenvolvi no LAGET – Laboratório de Gestão Territorial entre 1992 e 1994 meu sexto projeto de pesquisa: Natureza e imaginário político-territorial. Antigo e moderno no semi-árido nordestino. A pesquisa realizada identificou a tensão entre os velhos atores políticos regionais e o seu discurso tradicional, alimentado pelos impactos da seca sobre a vulnerabilidade econômica e social do sertão, e o surgimento de novos atores, impulsionadores de novas atividades, sobre as quais um novo imaginário foi progressivamente sendo elaborado. Este processo de mudança possibilitou a inversão do determinismo climático tradicional, dando origem a outro tipo de discurso, elaborado por outro tipo de interesse com suporte justamente nas condições naturais, tradicionalmente vistas como desfavoráveis. As indagações da pesquisa de doutorado tinham se aprofundado e meu objeto de atenção tornou-se a elite empresarial nordestina que se beneficiava com as condições do clima semiárido. Identificá-la, analisar seus discursos sobre as vantagens da pouca chuva e o grande potencial que o clima semiárido representava permitiu aprofundar aquilo que a tese do doutorado já havia demonstrado, ou seja, como a imagem regional é uma elaboração social, jamais espontânea e sempre eivada de interesses. Mas, paralelamente, constatar a atualidade da leitura de La Boétie sobre “O discurso da servidão voluntária”. Neste tema foi defendida em março de 1993 a primeira dissertação de mestrado orientada por mim: “O imaginário oligárquico do programa de irrigação no Nordeste”, de Rejane Cristina Araújo Rodrigues. O tema já dava seus frutos que cresceram e amadureceram ao longo desses anos. O projeto incluía ainda estudantes de graduação (4); de Mestrado acadêmico (3) e de Doutorado (1). Além da pesquisa, o compromisso com as aulas e seminários estava também presente. Como tínhamos liberdade de criar nossas disciplinas de acordo com nossas linhas de pesquisa, propus discutir inicialmente Imaginário político e território e Região e Regionalismo, temas aos quais eu me dedicava. Posteriormente criei mais uma: Território e políticas públicas, adequada aos avanços de minhas questões. Além desse compromisso com as disciplinas do programa, somos chamados também a oferecer os Seminários de Doutorado, disciplina obrigatória a todos os alunos deste nível. O formato do seminário é interessante porque reúne os alunos de todas as áreas de concentração e deve, preferencialmente, estabelecer debates e discussões em torno de temas e questões metodológicos da geografia em particular ou da ciência em geral. Nos últimos anos tenho focado o debate na metodologia da ciência, no debate epistemológico sobre o conhecimento científico e nos formatos possíveis da pesquisa em diferentes áreas científicas. Procuro sempre convidar pesquisadores da geografia e de outras áreas tão diferentes como a física, a antropologia, a ciência política, a economia etc. para apresentar suas pesquisas e seus métodos de investigação. Os debates são acalorados e aprendemos sempre que fazer pesquisa científica não é simples nem fácil, mas que torna cativo todo aquele que nela se inicia. Por isso mesmo, o resultado é sempre surpreendente e os alunos que algumas vezes ficam reticentes quando o programa de leituras e de debates lhes é apresentado, ao fim são devidamente conquistados pela possibilidade de discutir questões do mundo da ciência, aparentemente distante de suas preocupações mais imediatas de tese, mas que contribuem fortemente para o enriquecimento intelectual e ampliação da visão sobre a ciência. Eles reconhecem que suas teses serão mais bem fundamentadas conceitualmente. O caminho natural das aulas, das pesquisas e das orientações foi consolidar a linha de pesquisa “Política e Território” com a criação em 1994 de um grupo de pesquisas, GEOPPOL – Grupo de Pesquisas sobre Política e Território, registrado no diretório dos grupos de pesquisas do CNPq. O Grupo é vinculado ao PPGG e reúne estudantes de Graduação, Pós-Graduação e Pós-Graduados em Geografia. O GEOPPOL tornou-se um espaço privilegiado de debates dos temas das pesquisas dos profissionais e estudantes, bem como de temas de interesse mais amplo da geografia política. É neste fórum de discussão que meus projetos de pesquisa têm se desenvolvido desde então, com a participação de bolsistas de Iniciação Científica, mestrandos e doutorandos. Já com uma bagagem de seis projetos de pesquisas que resultaram em publicações e elaboração de monografias e na primeira dissertação de mestrado orientada, mudo a cronologia para adequá-la aos tempos mais maduros de coordenação do GEOPPOL. A seguir indico os projetos de pesquisa e a importância que tiveram na produção acadêmica e formação de recursos humanos. 1994 – 1996: Natureza e imaginário político. A fruticultura irrigada e o novo imaginário do sertão. Neste projeto foram analisadas as mudanças no discurso político decorrentes do desenvolvimento da fruticultura irrigada no semi-árido nordestino. Esta atividade propiciou o surgimento de novos interesses, comandados pelos novos atores econômicos a ela vinculados. Pelas especificidades e exigências desta atividade, o discurso regional dela decorrente demonstrou ser um contraponto importante àquele tradicional, fortemente marcado pela miséria e pela seca. Novas ações têm sido projetadas como decorrência da expansão dessas novas atividades e de seus atores mais importantes. Participaram do projeto: dois estudantes de Graduação, três de Mestrado e três de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES. 1998 – 1999: Geografia, gestão do território e desenvolvimento sustentável. O projeto teve como objetivo consolidar uma linha interdisciplinar de pesquisas no âmbito do PPGG/UFRJ em colaboração com o Centre de Recherche et Documentation sur l'Amérique Latine - CREDAL da Universidade Paris III, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES, Comission de Cooperation France Brésil-COFECUB, e do CNPq. Participaram do projeto: um estudante de Graduação, um de Mestrado e um de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES. 1998-2001: “Novo imaginário político territorial e os sistemas territoriais de produção no semi-árido brasileiro”. Neste projeto a questão institucional já se insinuava com a incorporação dos sistemas territoriais de produção. Foram feitos levantamento e análise das atividades vinculadas à fruticultura irrigada no semi-árido nordestino, especialmente nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará que podem ser considerados sistemas territoriais de produção. O objetivo da pesquisa era identificar as mudanças que se colocaram em marcha nos territórios onde foram implantadas novas atividades produtivas nas últimas décadas, especialmente aquelas vinculadas à fruticultura. As mudanças mais importantes detectadas ocorreram nas relações de trabalho e na melhoria do nível de mobilização política da sociedade local, identificada pelo aumento de sindicatos e associações.Foram analisadas também as condições de suporte ou de resistência das estruturas institucionais das escalas estaduais. Participaram do projeto: Dois estudantes de Graduação, três de Mestrado e quatro de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES. 2002 – 2004: “Municípios, instituições e território. Possibilidades e limites ao exercício da cidadania no país”. Este projeto constituiu um avanço em relação às questões pesquisadas anteriormente. A questão institucional e o município como um espaço político-institucional por excelência no federalismo brasileiro se consolidaram. O objetivo da pesquisa foi analisar as densidades institucionais nos municípios para compreender o seu papel nos mecanismos de produção e reprodução dos espaços da desigualdade social, no processo de transformações do território e na ampliação da cidadania. Tomando como suposto que a escala local é fortemente afetada pela sua base infra-estrutural, propõe-se comparar e analisar os padrões de distribuição, no território brasileiro, dos indicadores de desenvolvimento humano e social e os recursos institucionais disponíveis para a democracia e o exercício da cidadania, a partir dos padrões de dispersão das estruturas municipais de gestão e suas correlações com indicadores econômicos e sociais. Participaram do projeto: três estudantes de Graduação, um de Mestrado e quatro de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES e do Institut de Recherche Pour Le Developpement Des Pays Du Sud-IRD. 2004 – 2007: “Inovação institucional, cidadania e território no Brasil. O município como problema e a localização como mediação”. A aproximação com as bases institucionais e territoriais da cidadania possibilitou amadurecer a relação entre a política e o território a partir das densidades institucionais necessárias ao seu exercício. Afinal a cidadania é direito, mas é no território que ele é exercido. Neste sentido o objetivo do projeto era de analisar o município como escala do fenômeno político institucional, o qual se materializa na gestão e organização do território, tratando o recorte municipal como objeto de análise na geografia política brasileira. Identificar o papel e os limites das densidades institucionais no processo de transformações do território e nos mecanismos de produção e de reprodução dos espaços da desigualdade social, que afetam as condições de acesso aos direitos sociais inscritos da cidadania. Tomando como suposto que a escala local é fortemente afetada pela sua base infra-estrutural, propõe-se comparar e analisar os padrões de localização, no território brasileiro, dos recursos institucionais disponíveis nos municípios, inserindo no espaço na discussão sobre a cidadania e a democracia no país. Participaram do projeto: quatro estudantes de Graduação, dois de Mestrado, um de Mestrado profissionalizante e três de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES, Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro-FAPERJ e Ministério da Defesa. 2008-2010: “O espaço político local. Problemas e significados da sobre-representação política no município”. Este é o tema com o qual venho trabalhando. A geografia do político se impôs e o sistema de representação política das democracias contemporâneas, que têm sido objeto de amplos debates nas ciências sociais, especialmente na ciência política, vem sendo cada vez mais objeto de atenção na geografia. Este debate tem se dado em torno das vantagens ou dos limites dos sistemas eleitorais adotados para transformar os votos dos eleitores dispersos nos territórios nacionais em representação no legislativo. No Brasil, os problemas atuais decorrentes do sistema eleitoral vigente têm colocado na pauta nacional a questão da possibilidade de implantação do voto distrital. A dimensão territorial do sistema de representação política é evidente e inexplicavelmente a geografia do país se coloca a parte nesse debate. O objeto da investigação é a representação política nos municípios brasileiros menos povoados, tendo em vista o significado dos seus impactos para a sociedade e o território locais. Este será tratado em dois níveis, um geral que se propõe aprofundar a perspectiva teórico-conceitual de uma problemática territorial da representação política, no sentido de ampliar o escopo da geografia política; e outro específico que possibilitará identificar padrões de distribuição do impacto da sobre-representação nos municípios menos povoados no território nacional. Duas questões gerais são aqui propostas. Uma, é até que ponto a natureza da organização do território nacional afeta os desequilíbrios identificados no sistema de representação política, tomando como caso o sistema proporcional adotado no Brasil. A outra, é sobre a relevância, ou não, das escalas políticas locais para pensar a representação e a democracia, a partir das consequências do modelo de representação proporcional adotado nos legislativos municipais brasileiros, tendo em vista o pacto federativo da Constituição de 1988. A fundamentação conceitual apóia-se no problema da dimensão territorial da representação política e na questão da escala e da configuração dos espaços políticos. Participaram do projeto: três estudantes de Graduação, dois de Mestrado, um de Mestrado profissionalizante e três de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES e Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro-FAPERJ. As orientações constituem um capítulo à parte na vida acadêmica. Em cada projeto sumarizado, alunos de graduação e de pós-graduação constituem aquilo que poderíamos chamar de “as esperanças do futuro. Algumas se concretizam de modo mais completo, mas todas foram realizações daquilo que é parte do ofício de professor e pesquisador: a formação de recursos humanos. As orientações de monografia são importantes porque qualificam os alunos para o exercício da profissão, mas também porque ensejam a continuidade na pós-graduação. Fazendo uma contabilidade rápida, verifico que das 15 monografias de graduação que orientei (o número é maior, mas me perdi nos levantamentos), sete continuaram no GEOPPOL e fizeram o mestrado e cinco ingressaram no doutorado dando continuidade ao seu engajamento nos temas de pesquisas do grupo. Destes, quatro hoje são professores em Instituições de prestígio, e já tem suas pesquisas e seus orientandos: destaco Rafael Winter Ribeiro, cuja tese “A invenção da diversidade: construção do Estado e diversificação territorial do Brasil (1889-1930)” aprofundou o problema da relação da natureza e do imaginário na construção de uma visão particular sobre o território. Rafael é hoje meu colega no Departamento de Geografia da UFRJ e Vice-Coordenador do GEOPPOL. Dou destaque aqui ao seu percurso, pois vem orientando monografias de graduação, está credenciado para participar do PPGG e já está orientando sua primeira dissertação de mestrado. Rejane Rodrigues defendeu tese de doutorado sobre a logística do porto de Sepetiba, destacando os conflitos institucionais e políticos nas diferentes fases do projeto do porto. Hoje é professora do curso de Geografia e do Progama de Pós-Graduação da PUC-Rio. Fabiano Magdaleno fez uma tese de doutorado ousada, sobre a territorialidade da representação parlamentar no estado do Rio de Janeiro. Utilizou como material empírico um longo levantamento sobre o destino das emendas parlamentares. Um cientista político foi convidado para a banca de defesa da tese e declarou que após ler seu trabalho ficou convencido de que existe realmente uma “territorialidade da política”! Sua tese já está publicada e ele já tem sido solicitado por políticos para mapear seus votos e suas emendas. Hoje é professor no CEFET-Rio. A mais jovem, Juliana Nunes Rodrigues, cuja tese de doutorado em Lyon co-orientei, ganhou uma bolsa PDJ/CNPQ (Pós-Doutorado Júnior) para atuar sob minha supervisão no GEOPPOL. Estes jovens doutores, que acompanhei desde o curso de graduação e no mestrado, hoje são profissionais competentes e reconhecidos, cada um delimitando seu próprio nicho de atuação. Destaco também o hoje professor da Universidade Federal Fluminense, Nelson Nóbrega Fernandes, que não orientei durante a graduação, mas que orientei no mestrado, com a dissertação “O rapto ideológico do conceito de subúrbio carioca”, em 1996, e no doutorado com “Festa, cultura popular e identidade nacional. As Escolas de Samba no Rio de Janeiro (1928-1949). Nos dois trabalhos, as possibilidades de explorar a política como questão, seja na construção de uma identidade perversa no espaço urbano seja no reforço da identidade nacional a partir de uma manifestação popular Dos sete que continuaram o mestrado, mas não ingressaram no doutorado, destaco dois: Fabio Neves que é professor Assistente na Universidade Estadual do Paraná e faz o doutorado em Curitiba. Nossos vínculos continuam fortes e de vez em quando sou solicitada para discutir um tema ou tirar uma dúvida. Fico feliz em vê-lo amadurecer intelectualmente e profissionalmente. O outro é Danilo Fiani, que fez uma brilhante dissertação de mestrado sobre a territorialidade da IURD (Igreja Universal do Reino de Deus) a partir do mapeamento dos votos dos políticos vinculados a ela no município do Rio de Janeiro. Seu projeto de continuar e ingressar no doutorado foi adiado após sua aprovação em concurso nacional para fazer parte do quadros da ANAC – Agência de Aviação Civil como geógrafo. Ele foi o primeiro colocado e contratado imediatamente. Tem um excelente plano de carreira, mas pensa em voltar para o doutorado. Destaco ainda Savio Raeder Oselieri, que após a monografia fez o mestrado na UFF, mas voltou para o doutorado e paralelamente foi também aprovado em concurso nacional para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Está em Brasilia, mas continua trabalhando a sua tese. Destaco também experiência de orientar a dissertação do estudante angolano Mario Caita Bastos sobre “As escalas institucionais e as bases étnicas na organização do poder e do território de Angola”. Esta foi uma aventura bem particular. Ainda nas orientações de mestrado, Maria Lucia Vilarinhos estudou a relação dos projetos da Universidade do Brasil com os debates e dilemas para a definição do seu local de implantação. A escolha da Ilha do Fundão para a localização do campus trouxe várias conseqüências, entre elas um território que mais separa do que integra a vida acadêmica. Retomando esta linha, porém com perspectiva bem diferente, o mestrando americano Brian Ackerman pesquisa os espaços de integração no campus para o fortalecimento da comunidade cívica para a cidadania, na linha de Robert Putnam, comparando com o campus da Universidade Estadual da Flórida. Outro mestrando, Vinicius Juwer, terminou sua monografia de graduação sobre a territorialidade das milícias e atualmente reforça a linha da Geografia eleitoral, já explorada no GEOPPOL por Danilo Fiani, através da ampliação de seu tema de investigação. Devo acrescentar meus orientandos de doutorado que são professores de universidades federais ou estaduais em estados da Região Nordeste e que vieram ao Rio de Janeiro, com bolsas da CAPES ou do CNPq, motivados pelos temas que eram discutidos no GEOPPOL. Estes profissionais foram impactados pela temática do imaginário nordestino apresentado em minha tese de doutorado e puderam ampliar para seus espaços e questões de interesse aquilo que tinha sido iniciado com a minha pesquisa. O primeiro deles foi José Lacerda Alves Felipe, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cuja tese foi “Memória e imaginário político na (re)invenção do lugar. Os Rosado e o país de Mossoró”, defendida em 2000. Esta tese tem lugar especial, por minha primeira orientação de doutorado e por discutir o imaginário político em um caso tão singular como o da família Rosado Maia, até hoje dominante no cenário político do oeste do Rio Grande do Norte. Em seguida, em 2003, outros defenderam teses: a professora Vera Lúcia Mayrink de Oliveira Mello, professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco, sensibilizada com a questão do imaginário, aplicou-o na tese “A paisagem do rio Capibaribe: um recorte de significados e representações”. O professor da Universidade Federal da Paraíba, Campus de Cajazeiras, Josias de Castro Galvão pesquisou “Água, a redenção para o Nordeste: discursos das elites políticas cearense e paraibana sobre obras hídricas redentoras e as práticas voltadas ao setor hídrico” o imaginário sobre a água como a redenção da Região foi aprofundado nessa tese. Da Bahia vieram dois professores da Universidade Estadual: Antonio Angelo Martins da Fonseca, do Campus de Feira de Santana, que estudou a “Descentralização e estratégias institucionais dos municípios para a capacitação de recursos: um estudo comparativo entre Feira de Santana, Ilhéus e Vitória da Conquista - BA (1997-2003)”. A vertente institucional e a questão do município como um território político-institucional se evidenciava e o território baiano mostrou-se um excelente campo de indagações e de estudos. Do Campus de Vitória da Conquista veio Renato Leone Miranda interessado em investigar e compreender as “Políticas públicas e a territoriralização do desenvolvimento turístico da Bahia: o caso da Chapada Diamantina”. Munido de excelente bagagem intelectual e de longa experiência sobre os conflitos e interesses na ocupação turística da Chapada Diamantina, a tese tem sido uma referência sobre as políticas públicas na área do turismo em Parques Nacionais. Em 2004, foi a vez de Caio Amorim Maciel focar, assim como Vera Mairink já havia feito, o tema do imaginário na perspectiva da geografia cultural. Sua tese “Metonímias Geográficas: imaginação e retórica da paisagem no semi-árido pernambucano” incorporou toda uma vertente teórica da geografia cultural e o problema das representações. Seu trabalho é também uma referência necessária ao tema. No Rio de Janeiro duas orientações de doutorado foram importantes, não apenas pela qualidade dos trabalhos realizados, mas também pelos vínculos institucionais que elas ensejaram para o GEOPPOL. Trata-se de Monica O’Neill, geógrafa do IBGE que desenvolveu um conjunto sofisticado de indicadores para elaborar a tese inovadora na geografia brasileira sobre as densidades institucionais no território nordestino e de Linovaldo Miranda Lemos sobre “O papel das políticas públicas na formação de capital social em municípios novos ricos fluminenses”em 2008. Como acredito que o contato com outras realidades é fundamental na formação da imaginação acadêmica, estimulo todos os meus estudantes a complementar sua formação no exterior. Nem sempre tenho sucesso pois a aventura de sair do país requer superar dificuldades que nem todos tem possibilidade. Mas tive sucesso com cinco: Para a Espanha foram Antonio Angelo M. Fonseca, no Instituto de Xeografia de Santiago de Compostela e Nelson N. Fernandes, em Barcelona; para a França, na Universidade de Pau, foram Caio Amorim Maciel e Rafael Winter Ribeiro. Os quatro foram beneficiados com bolsas sanduíche da CAPES. Juliana Nunes Rodrigues recebeu bolsa para a realização de doutorado pleno na Universidade de Lyon. Concluiu sua tese em quatro anos e teve menção “Très honorable avec félicitations du jury à l’unamité”, o que é cada vez mais raro nas universidades francesas, especialmente para alunos estrangeiros. Sendo levada pelas memórias dessas orientações verifico como cada estudante traz, com suas dúvidas, medos e inquietações, uma perspectiva, ou abordagem, ou dimensão nova para o eixo central da relação entre a política e o território. Usando a bacia semântica de Gilbert Durand como metáfora, o rio da geografia política vai ficando cada vez mais caudaloso com estes novos afluentes representados pelos livros, artigos e orientações que eles vêm produzindo. Mesmo se reconheço que contribui para a formação de cada um, tenho muito a agradecer a meus estudantes. Mas não posso deixar de assinalar que eles representam uma “descendência” intelectual, que tem fincado as bases para uma nova abordagem da geografia política brasileira em que o território nacional tem sido uma escala necessária e a comparação um recurso metodológico importante. Na administração acadêmica participei, no período de 1986-1987 da direção do Instituto de Geociências como Diretora Adjunta de Pós-Graduação e Pesquisa do CCMN/UFRJ quando tive oportunidade de conhecer os meandros da gestão acadêmica. Entre outras atribuições, cabia ao Diretor Adjunto facilitar os meios para que os programas de pós-graduação pudessem cumprir seus objetivos de formação de recursos humanos. Como prerrogativa do cargo eu tinha assento na Congregação do IGEO e no Conselho do CCMN, o que me dava oportunidade de identificar dificuldades dos programas e ajudar a saná-las, mas também, no Conselho do CCMN ser a voz da “minoria” uma vez que numa composição de representantes dos Institutos de Física, de Química e de Matemática, o Instituto de Geociências quase sempre saia perdendo. Os debates e defesa de interesses de cada um desses institutos permitiram uma visão mais ampla dos limites, inclusive financeiros e materiais da instituição. Percebi que argumentar é uma arte e que na democracia os “mais fracos” podem ter voz e até ganhar adesões importantes para decisões favoráveis. Esta foi também uma ocasião importante para reformular o Anuário do Instituto de Geociências, iniciado no início dos anos 1980, do qual me tornei pela primeira vez Editora em 1986. Voltei a assumir esta tarefa em 1992-1995. Este foi um periódico necessário, tanto para divulgação dos trabalhos dos pesquisadores do IGEO e fora dele, mas também um recurso que durante o tempo de sua existência permitiu à Biblioteca Central do CCMN manter a atualização do acervo dos numerosos periódicos nacionais e internacionais que ela disponibilizava. Durante os anos 80 e 90 este era o acervo mais completo e variado de revistas acadêmicas de geografia de alto nível. De agosto de 1992 a dezembro de 1994 fui Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGG. Este foi um momento crucial para implementar o programa de Doutorado que havia sido implantado na gestão anterior. Foi tempo de definir regras de ingresso, de exames de qualificação, disciplinas e de distribuição de bolsas neste tempo ainda muito escassas. Tive outras oportunidades de participar de colegiados da UFRJ. Fui eleita Representante dos Professores Adjuntos no Conselho do IGEO para o período 1989-1992, e em 1992 fui eleita representante dos professores adjuntos do IGEO para participar no Conselho do CCMN. Em agosto 2004 fui eleita para um mandato de três anos (até julho de 2007) como representante dos professores adjuntos do CCMN – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza no CEPEG – Conselho de Ensino e Pesquisa em Pós-Graduação, órgão de deliberação da Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Esta foi uma oportunidade ímpar de ter uma visão de conjunto da UFRJ, seus centros, departamentos, seus conflitos, as disputas de interesses entre as diversas áreas do conhecimento e seus lugares institucionais. O sistema de definição da pauta, debates, encaminhamentos e votações foi um aprendizado prático de como a democracia representativa funciona. Tensões, alianças e votos. Aos perdedores cabe aceitar e continuar debatendo sobre outros temas. Cansativo, mas fascinante. Nos biênios 2007/2008 e 2009/2010 fui Membro da Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação em Geografia, convidada pelo Coordenador do Programa. A participação nesta comissão é a contribuição do meu tempo às questões da gestão do Programa de Pós-Graduação. A experiência acumulada tem me permitido contribuir, sempre que possível com as tarefas mais prementes que cabem ao colegiado do PPGG. No triênio 2009, 2010 e 2011 fui indicada para participar como representante da área do Turismo no Comitê de Assessoramento das Ciências Sociais – CA / SA do CNPq. Esta tem sido uma oportunidade ímpar de desenvolver uma ampla visão da área no país, bem como participar das discussões com todo o Comitê de Assessoramento, inclusive de prestar colaboração, sempre que solicitada, à área de Geografia Humana. As atividades de extensão, devo confessar, tem sido menos prioritárias nas minhas atividades acadêmicas. Na realidade, esta não tem sido uma tradição do nosso departamento, embora este quadro venha mudando progressivamente. Em 2006 participei da atividade “A Escola vai a Universidade”, organizada pela professora Maria do Socorro Diniz com o objetivo de aproximar os professores de geografia do ensino médio com os debates e temas discutidos pelos professores pesquisadores do nosso departamento. Este foi um dia de trabalho para o GEOPPOL, parte da manhã e da tarde, quando as pesquisas em andamento e algumas já concluídas foram apresentadas e debatidas com os numerosos professores que procuraram a atividade. Foi um momento importante de treinamento para os professores e consciência, para nós, do quanto temos a oferecer. Outra atividade em que participei foi oferecida na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste caso foi um Curso de Especialização em Gestão de Políticas Públicas, aberto à comunidade, em Julho de 2006. De março a junho de 2008, ainda no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, participei no curso de Relações Internacionais. Na UNIOESTE – Universidade Estadual do Paraná, Marechal Cândido Rondon, em 17/06/2008, fui convidada a prestar assessoria técnico-científica para a implantação futura do programa de pós-graduação, cuja linha de concentração seria no âmbito da geografia política. Em 07/07/2008 tive oportunidade de debater questões relativas aos acordos e convênios internacionais com os pares da Cátedra Charles Morazé, na Universidade de Brasília. Além da UFRJ inserção nacional e internacional: Projetos – Cursos – Eventos. A inserção internacional iniciou-se com meu estágio pós-doutoral na França. Nesta oportunidade, além das atividades do CEAQ, já abordadas, entre dezembro de 1990 e fevereiro de 1991 pude me aproximar do Centre de Recherche sur le Brésil Contemporain na École de Hautes Études em Sciences Sociales – EHESS, Paris, dirigido pelo Professor Ignacy Sachs. Ainda na EHESS, tive oportunidade de participar das atividades do grupo do sociólogo Jean Prevot. Esta inserção tem tido continuidade seja na condição de pesquisadora em convênios de cooperação internacional, como naqueles financiados pela CAPES, seja em estágios obtidos em outras instituições. Em todos os casos a inserção tem aberto canais de diálogo e cooperação que passam a constituir espaços para a indicação e aceitação de doutorandos em estágio de Bolsa Sanduíche. Entre 1999-1992, participei do acordo CAPES – MINCyT com Elza Laurelli na Argentina, através do LAGET (Laboratório de Gestão Territorial). Em maio e junho de 1994 obtive uma bolsa do Programme Bourse de Recherche Brésil, oferecida pelo governo do Canadá, após ter meu projeto sobre “O discurso regionalista do Québec” indicado em primeiro lugar numa seleção nacional. As atividades incluíam levantamentos e contatos com pesquisadores em Otawa, Montreal e Québec. Entre 1996 e 1997 tive oportunidade de participar do acordo CAPES-COFECUB, com o Institut de Hautes Études de L’Amérique Latine – IHEAL, com Martine Droulers, na França. Em 1998 obtive bolsa da CAPES para um projeto de um semestre de estudos e participação nos seminários e atividades do IEHAL – CREDAL em Paris, em cooperação com Martine Droulers. Em resposta a um edital do IRD – Institut de Recherche pour Le Développement, apresentei um projeto que foi selecionado para dois semestres de atividades de pesquisa, em 2001 e 2002. O trabalho foi desenvolvido na École Normale Superieure do Boulevard Jourdan, em parceria com Philippe Vaniez e Hervé Thérry. Entre 2005 e 2007, também no quadro do acordo CAPES-COFECUB, mas desta vez com o Laboratório SET – Société, Environement et Territoire, na Université de Pau, França, coordenado por Vincent Berdoulay, tive participação nas atividades de pesquisa e nos seminários organizados com os alunos de pós-graduação e com pesquisadores. Todas estas ocasiões representaram oportunidades de dar a conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido no GEOPPOL, bem como debater e avançar questões novas e, principalmente, buscar visibilidade através de publicações conjuntas. Neste sentido, a aproximação com Philippe Vaniez e com Vincent Berdoulay foram particularmente fecundas, seja pela possibilidade de um retorno à quantificação, no caso do primeiro, como a de trabalhar o tema espaço público na perspectiva da política institucional e suas regras e constrangimentos. Devo destacar o curso oferecido em setembro de 1977 na Maestria em Politicas Ambientales e territoriales da Universidade de Buenos Aires, Argentina, como professora convidada, quando foi ministrada a disciplina “Política e território. Discussão sobre as bases regionais da ação estatal”, com créditos para o dilpoma de mestrado na instituição. Cada uma dessas ocasiões, além das atividades específicas a elas vinculadas, propiciou publicações conjuntas ou individuais, participação, em colóquios, simpósios e seminários internacionais, assim como em bancas de defesa de teses de doutorado, todas sempre bem vindas na construção da carreira acadêmica. INSERÇÃO NACIONAL, EVENTOS No Brasil, a demanda para oferecer cursos em diferentes programas de pós-graduação se somaram aos muitos convites para palestras, conferências, participação em mesas redondas, oportunidades de debates e apresentação dos resultados das pesquisas. Devo destacar alguns desses cursos: em 1994 para o curso de Pós-Graduação, Especialização na Universidade do Ceará; em duas ocasiões, 1997 e 1998, para o curso de Especialização em Geografia da Universidade Estadual de Feira de Santana; em 1999 para o curso de mestrado do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília. Foram oferecidos também cursos nos programas de pós-graduação de da Universidade Federal de Sergipe, da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal de Santa Catarina. Em Brasilia, como professora visitante no primeiro semestre de 2005, tive oportunidade de desenvolver o projeto “Território e cidadania nos municípios da Região do Entorno do Distrito Federal” em conjunto com a professora Marília Peluso, nos termos do acordo GEOPPOL/LATER– Laboratório de Análise Territorial do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Mas, voltando um pouco no tempo, devo acrescentar que desde a divulgação de minha tese de doutorado a repercussão, especialmente nos estados da Região Nordeste, propiciou uma série de convites para palestras e debates, na maioria das vezes bastante acalorados sobre o meu trabalho. Destaco o convite da Secretaria de Cultura do Ceará, no projeto “Conversa Afiada” para debater e fazer o lançamento do livro “O mito da necessidade” que havia sido editado no final de 1992. A partir dessa visibilidade, as possibilidades de divulgar meus trabalhos tem sido freqüentes. É claro que se “o mito” foi um marco importante na minha carreira acadêmica e ainda dá frutos – afinal, é lento o processo de mudança do imaginário político, inclusive para boa parte da elite nordestina -, o tempo tem demonstrado que novas questões se impuseram e precisam ser investigadas. Ambas as inserções se consolidaram com as publicações de livros individuais e coletâneas, artigos em anais e periódicos no Brasil, bem como artigos em coletâneas, em periódicos e em anais no exterior. A participação em eventos encontra-se entrelaçada em todas estas oportunidades. Estes são espaços privilegiados de exposição de ideias, críticas e de debates, mas constituem também uma amostra do impacto intelectual das ideias na medida em que somos convidados para conferências e palestras. Devo destacar os debates acalorados em muitas oportunidades quando da exposição de trabalhos cuja referência de fundo era o problema do Estado, da cidadania ou da democracia. Quanto mais esta vertente recebia crítica de alguns dos meus pares, mais eu me convencia da importância de aprofundá-las. Nas participações em eventos no exterior era interessante perceber a curiosidade e o desconhecimento sobre o Brasil. O mapeamento sobre a desigualdade na distribuição dos recursos institucionais da cidadania, assim como a questão da especificidade do federalismo brasileiro e do seu sistema político eram objeto de debate e de perspectivas comparativas. Mas a oportunidade de ouvir a exposição de colegas de outros países ampliava minha visão dos novos eixos da pesquisa na geografia e a sensação confortável de que eu não estava só. Não recupero aqui a lista de eventos de que participei por demasiado longa. Todos, grandes ou pequenos, próximos ou distantes, organizados por alunos ou por professores, no meio acadêmico ou fora dele são importantes por reunir idéias diferentes que se completam ou se enfrentam. Por isso mesmo reafirmo minha convicção de que essas são atividades necessárias à vida acadêmica, são espaços de visibilidade, de críticas, de debates; enfim, do duro escrutínio a que devem ser submetidos todos os trabalhos de pesquisa. 4. PRODUÇÃO ACADÊMICA A procura de uma geografia política mais criativa Esta é a parte das memórias de revisão da minha obra e que pretendo seja também conclusiva. Ao fazer este longo percurso reflito sobre os rumos, os meandros, as influências e os desafios dos meus escritos. Como talvez seja a única geógrafa brasileira com doutorado em ciência política, adquiri alguns vícios, especialmente aquele de olhar a ordem espacial, que afinal nos interessa, pelo viés do conflito de interesses que não se esgota no conflito produtivo, mas pelo viés do conflito distributivo que se encontra no campo da política, o que me levou a incorporar a política como tema para ampliar a agenda da geografia política. Mas não poderia percorrer esta linha do tempo temático sem destacar o trabalho coletivo com meus colegas Paulo Gomes e Roberto Lobato. A discussão dos temas e a escolha dos autores refletiram aquilo que considerávamos propostas avançadas para a agenda da geografia em cada momento. As re-edições dos livros: Conceitos e temas, Questões atuais da reorganização do território e Explorações geográficas sugerem que tínhamos razão. Continuando esta aventura, encontra-se no prelo da editora Bertrand Brasil mais uma obra coletiva: Olhares geográficos. Modos ver e viver o espaço, cujo eixo são as muitas possibilidades conceituais e empíricas de recortar e analisar o nosso objeto. Minha contribuição individual expressa o interesse e resultado do trabalho em cada momento. Na primeira coletânea, o artigo sobre “O problema da escala”, ao que parece veio em boa hora, pois alem de traduzido para o francês e o espanhol tornou-se uma referência no debate sobre a questão na geografia brasileira. Na segunda, “Questões atuais...” foi a oportunidade de sistematizar a pesquisa sobre a fruticultura irrigada no Sertão nordestino e as implicações desta atividade na formação de uma nova elite agrária e um discurso diferente sobre a região estabelecendo os fundamentos de novas imagens da natureza semi-árida. Na terceira, “Explorações...” minha contribuição possibilitou discutir os fundamentos conceituais do problema do imaginário, estabelecer as relações possíveis com a natureza e aplicá-lo como modelo para análise dos regionalismos e das representações no país. Na última, o compromisso dos textos é mais conceitual. Minha contribuição contempla a política sob o ponto de vista do papel normativo dos conflitos de interesses e aquele dos arranjos e estratégias espaciais do fato político subjacentes à noção de espaço político. Nesta perspectiva, o texto é significativo das possibilidades do olhar geográfico para a espacialidade da política, quase sempre ignorada pelos politólogos. Há ainda neste trabalho um diálogo implícito com a noção de espaço público e a tentativa de distinguir os espaços políticos pela tensão fundadora entre força e poder, característica do instituído, que se expressa em diferentes escalas e que estabelece a métrica e a substância desses espaços. “O mito da necessidade...” já foi abordado antes, mas o recupero aqui apenas como referência das etapas do percurso. Seu tema continua atual e objeto de debate entre aqueles que se debruçam sobre o papel nada inocente de uma elite política regional. O outro livro individual, “Geografia e Política...” também abordado antes, encontra-se em segunda edição e tem cumprido seu papel como suporte para a disciplina geografia política, mas tem ido além e tem servido de consulta para pesquisas e para pós-graduação. Ambos os resultados indicam as lacunas e demandas para uma geografia política brasileira que deve, cada vez mais, demonstrar a inescapável espacialidade da política. Retomando o percurso temporal, volto ao universo acadêmico geográfico da dissertação de mestrado que definiu uma tendência de olhar o território e suas diferenças a partir de suas unidades políticas menores que são os municípios, porém muito mais como unidades estatísticas do que como espaços significativos politicamente. Eram tempos de gestão centralizada e o município um espaço para a aplicação de políticas, como aqueles que foram identificados no âmbito da minha experiência no Ministério da Previdência e Assistência Social. Mas os artigos: “Classificação dos municípios das Regiões Metropolitanas segundo níveis de urbanização”, publicado na Revista Brasileira de Geografia em 1978, assim como o “Conjunto habitacional: ampliando a controvérsia sobre a remoção de favelas”, publicado na Revista Dados em 1983 e no mesmo ano em inglês na Revista Geográfica do IPGH marcam uma transição para as questões muito fortes na agenda da geografia urbana brasileira da época, da qual muitos de nós fomos de certo modo signatários. O curso de doutorado me fez abandonar esta última e abriu novas vertentes e novos horizontes com a incorporação de temas da ciência política, de vieses mais teóricos como: “A dinâmica social e os partidos políticos” e "Conflitos coletivos e acomodação democrática” publicado em Debates Sociais em 1984 e 1986 respectivamente, assim como o artigo “O Estado no pensamento liberal clássico. Uma contribuição ao debate político na Geografia” publicado no Anuário do Instituto de Geociências/UFRJ em 1983. Estes eram produtos fortemente influenciados pelas leituras teóricas do doutorado e significativos do esforço de aplicá-las à geografia. Mas como esta nunca deixou de ser o meu ofício, novas leituras tanto teóricas como aplicadas eram imediatamente remetidas às questões espaciais. A escolha do projeto de tese e seu encaminhamento abriu o campo de discussões sobre o regionalismo, que permitiu resgatar o problema da região, o imaginário político e o problema da escala como a medida adequada do fenômeno que se quer analisar. A tese gerou subprodutos que destaco aqui: “Política e território. Evidências da prática regionalista no Brasil” publicada em Dados em 1989 e também “Imaginário político e realidade econômica. O marketing da seca nordestina” publicado em Nova Economia (UFMG) em 1991. Porém, a questão do imaginário regional despertou novas indagações e novas pesquisas, especialmente sobre os novos atores políticos na região que disputam espaços de poder com os atores tradicionais. O campo da irrigação mostrou-se fértil para a construção outro discurso no qual as potencialidades da Região são centrais. Esta nova pesquisa resultou novos escritos: “Escalas e redes de interesses no semi-árido nordestino: velhos e novos discursos, velhos e novos territórios” publicado no Anuário do Instituto de Geociências/UFRJ em 1994. A relação entre o território brasileiro e as representações sobre ele constituem fonte inesgotável de estudos e debates. Neste sentido fui convidada a expandir a discussão do imaginário regional para o problema mais amplo de construção da nacionalidade e o substrato da natureza implicado neste processo. Esta solicitação resultou no artigo “Resposta à maldição. Brasil tropical e viável”, que compõe a Enciclopédia da brasilidade, de 2005. Esta perspectiva permitiu ainda resgatar a riqueza da obra de Jean Gottmann no texto “Identidade versus globalização: a dialética dos conceitos de iconografia e circulação de Jean Gottmann”, Fortaleza, 2005. Nestes debates, o problema da região e do federalismo foram incorporados à agenda com: “Região - lugar político e da política. Representação e território no Brasil”, Cadernos Laget, 1995 e “Solidariedade territorial e representação. Novas questões para o pacto federativo nacional”, Território, 1996. E continuaram nela por mais algum tempo com “A região como problema para Milton Santos”, Barcelona, 2002 e “Regionalismo hoje. Do que se trata no Nordeste” em 2006 Mas percebo também que o problema político e de suas instituições já se insinuava fortemente como eixo importante de investigação, na linha dos institucionalistas e na vertente das densidades institucionais de Ash Amin e Nigel Thrift. Nesta perspectiva foram publicados “Territorialidade das instituições participativas no Brasil. A localização como razão da diferença”, em 2004 e “Territorialidade e institucionalidade das desigualdades sociais no Brasil. Potenciais de ruptura e de conservação da escala local” em 2005. O problema das instituições e sua distribuição no território apontou para a questão da cidadania, que mais que conceito abstrato é uma prática cotidiana que se dá nos espaços de circulação e de convivência. Este eixo conduziu às pesquisas e aos trabalhos: “Instituições e cidadania no território nordestino”, MERCATOR, 2003; “Instituições e territórios. Possibilidades e limites ao exercício da cidadania”, 1999; “Desigualdades regionais, cidadania e representação proporcional no Brasil”, 1997. Também “Instituições e território no Brasil. Algumas possíveis razões das diferenças”, Rio Claro, SP, 2004. Esta vertente foi publicada também na França: “Territorialité des ressources instituionnelles au Brésil. Communes, mobilization et participation“, Paris, 2003 ; “Des dimensions teritoriales et institutionnelles des inegalités sociales au Brésil. Potenciels de rupture et de conservation de l'échelle politique locale“ publicado na coletânea : Territoires en action et dans l'action, Rennes, 2007 e “Resources institutionnelles, territoire et gestion municipale au Brésil“, 2003, Paris. A questão das instituições e da cidadania, longe de se esgotar em sua vertente geográfica, aponta para o problema da democracia que representa o que poderíamos chamar de “l’air du temps” atual. Esta é uma perspectiva que tem se incorporado à agenda geográfica e tem estimulado pesquisadores franceses, bem como anglo-saxões já referenciados em outra parte destas memórias. A geografia política se enriquece, suas múltiplas escalas e o recurso necessário ao método comparativo encontram terreno fértil na temática. Algumas reflexões já foram publicadas: “Morar e votar. A razão da moradia e a produção do espaço político na cidade”, 2005, Fortaleza; “Isonomie et diversité. Le dileme des législatives municipales au Brésil“, 2008, Reims, também “Décentralisation, démocratie et répresentation législative locale au Brésil ", 2007, Rouen. Ainda, "O problema da sobre-representação no legislativo municipal brasileiro", 2007, Bogotá; “O espaço político local como condição de construção (mas também de negação) da democracia”, 2006 e “Do espaço político ao capital social. O problema da sobre-representação legislativa nos municípios pequenos”, 2008. Mas o problema do regionalismo, que aparentemente havia ficado para trás, foi resgatado no I Simpósio Nacional de Geografia Regional, promovido por jovens colegas da UNIFESSPA em 2019, ocorrido em Xinguara no Pará. Foi uma grata surpresa ver o interesse pelo tema e, mesmo tendo resistido no início, retomei e atualizei minhas discussões. Confesso que acabei gostando da tarefa e me dei conta do quanto a realidade é mais resiliente do que nossa interesse em compreendê-la. No segundo SINGER em 2020, virtual, apresentei a versão aprofundada e ampliada das questões contemporâneas do regionalismo. Fiquei orgulhosa, feliz e muito agradecida por ter sido a geógrafa homenageada do evento. Pena que com as restrições da implacável pandemia do COVID 19 não pude estar novamente com meus jovens colegas na icônica região amazônica e poder abraçá-los pessoalmente. As reflexões sobre a democracia como questão para a geografia têm possibilitado também a aproximação com as questões em torno do espaço público, objeto de atenção de outros colegas, Paulo Cesar da Costa Gomes e Vincent Berdoulay, com quem tenho tido oportunidade de debates sempre enriquecedores. Tenho considerado que o aprofundamento teórico se impõe e o problema da passagem do espaço público para o espaço político emerge como fundamento da realidade e da visibilidade da democracia, que por sua vez demarca a dimensão política da ação no espaço, que tende a ser minimizada na geografia cultural. No trabalho “Espaces publics: entre publicité et politique”, 2004, este ponto de vista começou a ser intuído. Também o texto “Imagens públicas da desordem no Rio de Janeiro: uma nova ordem ou o "ridículo de Pascal"?”, de 2008 o problema do político no espaço urbano é argumentado. Questões de ordem teórica e empírica se entrelaçam nesta jornada. O problema do Estado, negado pela prisão conceitual adotada na disciplina, tem sido objeto de teorização e reflexão útil para a geografia e foi esboçado no texto publicado por ocasião do Encontro da ANPEGE de 2009: “O território e o poder autônomo do Estado. Uma discussão a partir da teoria de Michael Mann”. Este é um debate aberto com outras vertentes da geografia política que consideram esta escala sem significado para o mundo atual e privilegiam as escalas locais e globais. Outros trabalhos foram publicados em temáticas que tangenciam meu centro de preocupação como o artigo “Turismo e ética” que me foi solicitado para o Segundo Encontro sobre o turismo na Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. Tentei recusar argumentando que o turismo não era o meu tema de eleição e havia o risco de cair em banalidades. Mas a professora Luzia Neide foi enfática sobre a necessidade de discutir a ética no turismo, pois esta era uma linha em construção e a minha contribuição seria importante. Mergulhei na filosofia e, afinal, gostei de escrever o artigo. Tenho tido informações de que ele tem sido leitura frequente entre os estudantes do turismo na geografia. Também a relação da paisagem com o turismo que faz parte da coletânea organizada pelo professor Eduardo Yázigi da USP teve estória semelhante. Tendo lido meu artigo no Jornal do Brasil sobre a deterioração dos conjuntos habitacionais no Rio de Janeiro foi sugerido que eu o ampliasse para compor a coletânea que ele estava organizando sobre “Turismo e paisagem”. Aqui o mergulho no tema da paisagem foi mais fácil e me deparei com o paradoxo brasileiro: um imaginário que valoriza a natureza como paisagem, importante para o marketing turístico, e ao mesmo tempo permite a deterioração da paisagem urbana. Para não ser completamente injusta admito que haja exceções, mas nossas cidades ganhariam facilmente concursos de feiura. Recentemente, em projeto conjunto com meu ex-aluno e hoje parceiro na coordenação do GEOPPOL Rafael Winter, o tema da dimensão política da paisagem vem sendo trabalhado. Nesta vertente, pesquisamos como as políticas públicas são capazes de produzir paisagens políticas características e o que estas nos dizem. Ou seja, como a geografia pode “ler” estas paisagens. O entrelaçamento da mobilização nos espaços públicos transformando-os em espaços políticos abertos, efêmeros, mas de claras consequências sobre decisões tomadas por gestores ou legisladores tem sido objeto de pesquisas em teses do GEOPPOL. Há enormes possibilidades para a geografia de analisar as grandes mobilizações que têm ocorrido no país e no mundo, interrompidas momentaneamente nesses tempos de pandemia, mas certamente serão retomadas. O modo como os espaços públicos são mobilizados para a política, a paisagem política que emerge destes movimentos e as consequências concretas para o espaço e para a sociedade traz um caudal de indagações que não devem ser ignorados pela geografia política. Teses já foram defendidas, artigos e coletâneas publicadas. Deixo de nomeá-los para não alongar ainda mais este relato, que já está além do razoável. Todo este caudal da minha “bacia temática” tem sido fortemente influenciado pelos debates e polêmicas na geografia e fora dela. Percebo o quanto me coloquei à margem dos paradigmas unívocos dominantes na disciplina, nas últimas décadas, o que me permitiu liberdade para maiores voos teóricos, conceituais e metodológicos para a compreensão da realidade, que afinal é o que interessa. Este percurso vem me conduzindo para o desafio de pensar conceitualmente os espaços da democracia e uma geografia da democracia capaz de recuperar a tradição tanto de filósofos como de historiadores e de geógrafos. Textos, teses e coletâneas já foram publicados sobre as possibilidades de a geografia abordar a democracia numa perspectiva do espaço geográfico. Desde 2016, após minha aposentadoria e minhas atividades no quadro de Professor Voluntário do Departamento de Geografia e do Programa de Pós Graduação tenho continuado a exercer minha liberdade de pensar, um privilégio que a vida acadêmica nos concede num ambiente democrático. Que fique bem claro, uma vez que há entre alunos e até mesmo colegas, pretensamente progressistas que negam que tenhamos uma. Democracias pode ser imperfeitas e é preciso estar sempre atento para melhorá-las, mas é preciso estar atento também para os arautos de uma democracia perfeita, popular, direta nos termos rousseaunianos, ou daqueles mais modernos que propõe democratizar a democracia como ideia da única possibilidade de justiça social e espacial. A essência filosófica dessas vertentes, quando teve possibilidade de ser aplicada conduziu as sociedades à trágicos autoritarismos. Aqui fica lição de Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância e manter-se livre é uma tarefa permanente. Ainda nesse período, criamos no GEOPPOL o blog Observatório de Geografia Política (www.observatoriodegeografiapolitica.com), um espaço na web onde os membros do grupo são instados a escrever textos curtos, em linguagem acessível a um público maior do que aqueles que temos na academia. A ideia é analisar e debater temas contemporâneos a partir do olhar de cada um e dos recursos analíticos que suas pesquisas ajudam a produzir. É um espaço aberto à criatividade dos pesquisadores e estudantes, que já publicaram ótimos textos sobre os temas mais variados. E como a realidade é inesgotável na criação de fatos e eventos a única limitação tem sido ainda a falta de hábito dos nossos estudantes e colegas de se deixarem levar. Finalizando estas anotações, da mesma forma que na minha temática de doutorado exorcizei o fantasma da região que rondava a geografia, com a democracia como questão geográfica espero poder exorcizar o fantasma dos autoritarismos que rondaram minha trajetória, desde aquele que caçou bons anos da minha cidadania na juventude, intimidando e limitando minhas opções de leituras e escolhas de debates, até aquele da imposição na geografia de uma vertente conceitual unívoca que rondou minha trajetória profissional. Da mesma forma que a região continua um objeto de investigação interessante, também a democracia e a ordem institucional que ela instaura e os espaços que ela mobiliza na sociedade brasileira, que por tantos anos foi capaz de viver sem ela é uma dívida para com as novas gerações. Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2021
INÁ ELIAS DE CASTRO MEMÓRIAS DA MINHA CARREIRA ACADÊMICA INTRODUÇÃO Estas notas foram originalmente organizadas para o Memorial apresentado no meu concurso para Professor Titular na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ em 2011. Ao retomá-las fui fazendo as atualizações, embora o essencial da minha trajetória esteja contemplado no documento apresentado. Ao relê-lo me dou conta de uma longa carreira acadêmica que acompanhou boa parte da minha vida e que continua até o presente. É como se ao entrar na escola aos seis anos de idade jamais tivesse saído dela. A carreira acadêmica pode ter percalços, desafios, mas nunca é monótona. Na minha geração o ápice era o concurso para Professor Titular, mas muitos não tiveram essa possibilidade. A falta de vagas, no caso das universidades federais, fez com que chegassem à aposentadoria antes. Independente da importância do título e do ritual acadêmico do concurso, esse é o momento de reflexão e revisão de toda uma vida. É essa revisão que compõe boa parte do que será aqui apresentado. Aquela foi a ocasião de resgatar uma longa história, de mais de 40 anos de formação, de atividades de docência, de pesquisas, de orientação e formação de recursos humanos, de administração e de representação, além de momentos curtos, mas importantes, de atividades de gestão pública. Poder percorrer a memória desse tempo vivido, condensá-la, ampliá-la após dez anos da titulação e trazê-la a público é um privilégio. Trata-se aqui de uma viagem em tempos e espaços. No meu tempo, no tempo do país e no tempo da geografia. Embora o tempo não seja linear e nem sempre o passado explique o presente, ao resgatar o passado e refletir sobre ele encontro as raízes (ou seriam razões?) das escolhas dos muitos presentes vividos nesta trajetória, especialmente o interesse pela geografia política e pela polêmica em torno das questões de uma geografia, hoje cada vez mais informada pela política, dimensão inescapável da vida em sociedade e do espaço que ela organiza. As escolhas profissionais são escolhas de vida, nem sempre claras no momento em que são decididas, mas sempre influenciadas pelos lugares de vida, contextos familiares, social, cultural e político. Oriunda de uma família de migrantes, nordestino meu pai e portugueses meus avós maternos, nascida no subúrbio do Rio de Janeiro, na época a capital da República, meu horizonte do desejo, os limites de possibilidade de mobilidade social foram delineados neste ambiente. A condição de migrantes, e seus sonhos, e a opção dos meus pais pelo protestantismo definiram desde muito cedo a importância do esforço e da ética do trabalho para atingir metas mais elevadas. Para as meninas a profissão mais adequada era ser professora. Não era ainda muito importante no momento definir “de que”, mas de qualquer forma para que a meta fosse alcançada era preciso estudar e ir muito além da prática corrente das famílias da classe trabalhadora da época, que tiravam os filhos da escola logo que aprendessem a ler e a escrever.Era momento de arranjar um emprego e ajudar no orçamento doméstico ou quiçá um marido bom provedor. Meus pais eram sonhadores e perceberam que suas três filhas poderiam ir mais longe. Tínhamos acesso às redes do ensino público e de saúde com qualidade. Estes recursos institucionais do Estado brasileiro, disponível em partes muito restritas do território do país e para uma minoria deixava claro que morar na capital do país fazia diferença. E fez toda a diferença para mim e para minhas irmãs. Ratzel tinha razão quando elegeu a cidade capital como um tema necessário. Ser professora era então um destino e a geografia estava latente e se manifestava esporadicamente no prazer de ouvir as histórias de meus avós e do meu pai sobre suas terras distantes e a saga das viagens. A curiosidade sobre estas terras e as condições impostas às pessoas obrigadas a abandoná-las apontavam para uma visão em que o social devia ser explicado. Paralelamente, o prazer em viajar revelava a curiosidade permanente sobre terras, pessoas e seu modo de vida, seus costumes, suas normas. Tudo isto foi potencializado desde o ensino secundário. Nunca entendi bem por que, mas minhas melhores notas eram sempre em geografia. Meus professores do segundo grau perceberam e sempre me estimulavam. Houve, porém um fato que não deve ser esquecido nesta narrativa, embora eu não tenha ainda avaliado plenamente o seu grau de determinação. Minha irmã mais velha que eu (a do meio das três) e minha companheira de brincadeiras escolheu fazer geografia um ano antes, pelos mesmos motivos que eu. Fazer o vestibular para disciplina foi o caminho quase natural para mim. Estas foram as razões primárias e até ingênuas da escolha, mas o futuro mostrou que a decisão foi acertada. Nas 4 partes que se seguem faço o relato da minha trajetória, demarcada pelo tempo e pelos espaços que de algum modo deram significado a cada uma. A vida acadêmica é sempre múltipla, nunca monótona e de ritmos variados. Cada compromisso com aulas, pesquisa, orientação, participação em eventos, redação de textos, administração, extensão, representação em colegiado implica tempos e movimentos exclusivos. Alguns mais acelerados outros menos. Mas, quaisquer que sejam estes ritmos, confesso que vivi cada um deles e que a carreira acadêmica é composta de ciclos nos quais o ofício de pensar, indagar e ensinar estimulam a imaginação e reforçam o compromisso ético com a sociedade, que afinal é quem nos suporta e anima e para quem nosso trabalho deve ser útil. 1. OS TEMPOS Tempo de formação - a graduação e o golpe militar (1964-1967); (FNFi), trabalhos de campo, bolsista de IC do Centro de Pesquisas de Geografia do Brasil (CPGB); descoberta da pesquisa: a curiosidade e a dúvida como vocações. A graduação e o golpe militar (1964-1967) - O vestibular para o curso de geografia da então Faculdade Nacional de Filosofia – FNFi da Universidade do Brasil foi um sucesso. Segundo lugar na média, mas primeiro na prova de geografia. Aos 18 anos eu fazia parte dos menos de 2% que no país tinham acesso ao ensino superior, mas desde o ano anterior, ainda secundarista, eu participava das ebulições da universidade acompanhando minha irmã e seus amigos do Diretório Acadêmico. Era o governo trabalhista do Presidente João Goulart e a luta para o aumento de vagas na universidade já havia começado, apesar da resistência dos professores mais conservadores que temiam a queda de qualidade com a “massificação” do ensino superior. As universidades públicas eram para os ricos. O ano de 1963 foi um marco no crescimento das vagas. Na geografia, a turma deste ano tinha cerca de 20 alunos, assim como a de 1964 que eu frequentei. Para alguns mestres isto tornaria a tarefa de ensinar muito mais difícil! No início do meu primeiro ano letivo em março de 1964 o país passava por tensões políticas importantes e no então Estado da Guanabara (hoje município do Rio de Janeiro), governado pelo conservador Carlos Lacerda, a FNFi era o epicentro do movimento estudantil a favor do governo Goulart. Meu primeiro dia de aula no início de março foi inesquecível. Os estudantes bloqueavam a porta do prédio da Avenida Antônio Carlos, no centro da cidade, para impedir que o governador entrasse na universidade. Atraída pela geografia fiz minha estreia política: na força dos grupos sociais quando se organizam no espaço adequado. Era o espaço público ocupado e mobilizado para a ação, a praça contra o palácio, e uma semente que tem germinado desde então como questão para reflexão e pesquisa. Mas a geografia me esperava dentro das salas da FNFi. Menos política do que na estreia, porém fornecendo instrumentos para perceber e interpretar a realidade. Muitos professores foram marcantes na minha formação de graduação: de geografia, Lysia Bernardes, Bertha Becker, Marina Sant’Anna, Manuel Maurício de história, Marina Vasconcelos de antropologia cultural, além outros que não cito por pura fraqueza de memória e não por falta de importância. Mas não posso deixar de fazer meu registro muito especial à professora Maria do Carmo Correa Galvão. Com ela aprendi coisas essenciais nos conteúdos oferecidos na sala de aula e nos muitos trabalhos de campo, alguns que chegaram a durar 30 dias. Ela mostrou o caminho da prática da pesquisa daquele tempo: a necessária relação entre a natureza e a sociedade, ou o que atualizaríamos hoje para os modos como cada sociedade doma sua natureza e organiza seu espaço; além da disciplina de ir a campo, de observar para discutir e analisar. Viajamos com ela para o Centro-Oeste, para a Região Sul, para o interior de São Paulo e do Rio de Janeiro. Visitamos propriedades rurais, pequenas e grandes, e todos nós pegávamos o seu jeito de abordar os camponeses com um sorridente e sonoro “bom dia moço”. Visitamos indústrias como a Volkswagen no ABC paulista, a indústria de tecidos Renner em Porto Alegre, a porcelana Schmit e a malharia Hering em Blumenau, minas de carvão em Criciúma (até descemos numa, apesar da superstição dos mineiros quanto ao azar que a presença feminina traz), usinas de açúcar em Campos, a destilaria do Conhaque de Alcatrão de São João da Barra etc. Nesta última ganhamos pequenos frascos de amostras dos produtos: cachaça e conhaque. Como sempre voltávamos depois de o sol se pôr, extenuados na carroceria do caminhão que segundo ela era o único veículo que permitia uma ampla visão do terreno, neste dia enfrentamos um forte temporal. Temendo que nos gripássemos, pois chegamos gelados e encharcados aos nossos alojamentos, ela nos fez beber nossas amostrinhas que guardávamos para ocasião mais festiva. Nesta noite ela nos dispensou do relatório. Como sua bolsista de Iniciação Científica do CNPq em 1966 e 1967 (à época chamada de Auxiliar de Pesquisa) tive a oportunidade de ir além e de participar em trabalhos de campo dos seus projetos de pesquisa, como o do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, que entre outras peripécias me levou ao CEASA paulista de madrugada para entrevistar os atacadistas, mas acima de tudo para observar e sentir aquele espaço e sua atmosfera impregnada de uma das dimensões da relação campo-cidade. Outro projeto foi o da geografia dos transportes do Brasil. Tive a tarefa de colher dados sobre os transportes rodoviários e ferroviários, seus fluxos, suas cargas. Eu ia às instituições indicadas por ela e voltava carregada de tabelas, mapas e muitas informações fornecidas por técnicos, funcionários e diretores. A obtenção de informações, onde elas estivessem deixou de ser mistério para mim e tem sido útil até hoje. Seja para minhas próprias pesquisas seja para orientar meus alunos. Não tenho dúvidas que “quem procura acha”, como dizia minha mãe antes da palmada, e que pesquisar é uma arte que se aprende na escola. Enquanto isto, a praça se agitava. Eram tempos de mobilizações estudantis, cassações, censura à imprensa, delações e intrigas. O ambiente da FNFi era de efervescência, onde convivíamos com colegas da filosofia, da sociologia e de outras disciplinas engajados na resistência política à ditadura e perseguidos. Minha casa foi abrigo e ponto de passagem para muitos jovens colegas fugitivos. Meus pais não entendiam muito do que se tratava, mas eram solidários e nunca negaram o teto e uma mesa acolhedora. Mas dentro dos muros da universidade a geografia como conhecimento passava ao largo da agitação política. Hoje acredito que mais pelas convicções de muitos de nossos mestres do que por uma deriva conservadora própria da natureza positivista do conhecimento produzido pela disciplina, como lhe foi atribuído alguns anos mais tarde. Afinal nossas leituras incluíam os mestres franceses como Pierre George, Bernard Kaiser, Yves Lacoste, Elisée Reclus, Max Sorre, Jean Lablache, Jean Brunhe, Richard Hartshorne além dos brasileiros Josué de Castro e Darcy Ribeiro. Passávamos por Ratzel e Lablache na inesgotável querela sobre o determinismo e o possibilismo, sobre o método regional ou sistemático, sobre a importância da observação e descrição rigorosas para a posterior interpretação e análise e sobre a pretensão da geografia em destacar-se como ciência de síntese, cuja melhor expressão no nosso aprendizado foi a professora Maria do Carmo. Posteriormente todos esses procedimentos seriam duramente criticados; era o tempo da pós-graduação, que vamos percorrer adiante. A história continua. Mas este era também o tempo da geografia ativa, engajada no planejamento urbano, regional e nacional quando a geografia era chamada para diagnósticos e alguns geógrafos participavam diretamente da gestão pública, fato posteriormente criticado por Yves Lacoste como o papel de “conselheiro do príncipe” do profissional. Nossa professora Lysia Bernardes, que nos ministrava longas aulas sobre metodologia destacava esse papel, que ela mesma passou a exercer. A proximidade da nossa formação com o IBGE era grande. Tanto espacial, éramos vizinhos, como intelectual através das suas publicações, especialmente a Revista Brasileira de Geografia. O legado desta formação inclui a descoberta da pesquisa, a curiosidade e a dúvida sobre consensos absolutos como vocações. A formação didática foi uma experiência do último ano do curso, em 1967, às vésperas dos sombrios anos de chumbo do governo Médici da ditadura militar, que se impuseram em 1968. Enfrentar os alunos inteligentes, irrequietos e politizados do CAp – Colégio de Aplicação da UFRJ era um novo desafio e uma nova aventura. Muitos ativistas políticos e representantes legislativos saíram daquelas turmas. Alguns colegas sucumbiram naquele turbilhão. Eu sobrevivi e, apesar do nervosismo dos iniciantes, fui capaz de enfrentar as questões daquelas pequenas feras que dentro daqueles muros podiam respirar liberdade, participação e democracia, mesmo se lá fora tudo isto desaparecia. Descobri que o prazer de dar aulas vinha do debate, do aprendizado que o ensino possibilita. Muitos anos mais tarde, no agradecimento aos meus alunos, lembrei a sabedoria dos franceses que tem um mesmo vocábulo para ensinar e aprender. Mas devo fazer justiça, minha sólida formação me salvou. Tempo de trabalho - A dupla vocação – prazer de ensinar e de indagar, Ensino médio e superior nos anos de chumbo (1968-1974) O último semestre do curso de graduação foi sombrio. A colação de grau no início de 1968 foi melancólica, não fizemos festa, seria um acinte aos colegas que se perderam pelo caminho. Era hora de trabalhar com diploma e deixar de ser explorada por colégios de segunda linha e cursinhos que afinal nos garantiam uma pequena renda adicional e nos permitiam praticar o ensino. Foi um tempo de aplicar o conhecimento acumulado na graduação e de continuar aprendendo com cursos rápidos sobre temas variados oferecidos por geógrafos do IBGE ou por outros professores de outras universidades. Mas este tempo me permitiu consolidar minha dupla vocação: o prazer de ensinar e de indagar. Este último, porém, ficou relegado, ou limitado aos debates em aula. Na verdade, as chances de praticar a pesquisa do modo como fui treinada na universidade estavam fora de cogitação e mergulhei na experiência de ser professora do ensino médio por pelo menos quatro anos. De 1967, no último ano de graduação, como estagiária do ensino médio estadual até 1970 quando fui convidada a trabalhar na Universidade Gama Filho e tive meu primeiro contato com o ensino em curso superior. Mas a sombra da repressão espreitava nas salas de aula. Dar aula de geografia para adolescentes foi uma experiência única e hoje percebo que o sucesso com meus estudantes vinha da intuição da geografia como uma experiência no mundo que nos cerca e como uma perspectiva que ajuda a perceber nosso lugar nele. Jovens são sensíveis e curiosos sobre o mundo que os cerca. O uso dos atlas escolares disponíveis, dos livros didáticos e do estímulo à imaginação sobre o distante e o diferente foram recursos inestimáveis. Em 1970, as aulas na Universidade Gama Filho iniciaram minha incursão pelo ensino superior e a vontade crescente de fazer pós-graduação. Mas foi também o momento da minha experiência de trabalhar no ambiente opressivo de um regime de exceção, de me sentir vigiada em relação aos livros indicados e aos debates em sala de aula. Fui chamada a atenção muitas vezes: porque discutia com meus alunos a exploração do minério da Serra do Navio por empresas americanas, ou por indicar os livros de Yves Lacoste. Não cheguei a perder meus empregos, mas estive em risco algumas vezes. Como eu era uma professora bem avaliada pelos alunos, os pragmáticos Diretores das instituições privadas eram permissivos; nos colégios estaduais a tolerância era explícita e apenas falávamos mais baixo. O exercício do magistério me fez ver logo que o professor é um eterno aprendiz. Mas eu já estava inoculada pelo veneno da pesquisa. Eu queria dar aulas, mas também indagar, abrir novas frentes no meu conhecimento e na minha formação. Nesse tempo eu já estava convencida da minha escolha profissional e da minha vontade de continuar na escola: para ensinar, para aprender e para ampliar minha visão de mundo e repassá-la aos meus estudantes. Sempre que as ofertas se apresentavam eu voltava aos “bancos” para fazer cursos de Aperfeiçoamento e Especialização de média duração que possibilitaram aprofundar temas estudados na graduação recentemente concluída. Entre estes destaco “As grandes regiões clímato-botânicas”, na AGB-RJ em 1968, ministrado pela professora Maria do Carmo Galvão e “Desenvolvimento regional”, no Instituto de Geociências da UFRJ, em 1969, com a professora Bertha Becker. Ainda não era tempo de escrever, esta experiência veio mais tarde com a pós-graduação. Caminho natural para minhas ambições e compromissos profissionais. Tempo de pós-graduação e de pesquisa; mestrado (1972-1975); A descoberta de novos espaços para o conhecimento geográfico; A geografia ativa: Consultoria e inserção na gestão pública (1977-1980); Professor Assistente da UFRJ - A experiência no IFCS; A descoberta de novos espaços para o conhecimento geográfico Em 1972 teve início o Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ. Se não fui a primeira a me inscrever na primeira turma de mestrado, certamente estava entre os primeiros que buscaram o novo curso. Nestes tempos, a FNFi já não existia e a Universidade do Brasil tornou-se UFRJ. A geografia e o CPGB (Centro de Pesquisa de Geografia do Brasil) ocupavam temporariamente o prédio do Largo do São Francisco, antes ocupado pela Escola de Engenharia e hoje pelo IFCS (Instituto de Filosofia e Ciências Sociais), enquanto o prédio da Ilha do Fundão não ficava pronto. Lá fora a repressão apertava seus tenazes. Ainda era tempo de silêncio e medo. A geografia também mudara. A revolução quantitativa estava em marcha. Nosso conhecimento de campo, de observação, de descrição e de análise já não servia para grande coisa. Precisávamos agora de um claro recorte conceitual capaz de nos conduzir com segurança a mensurar adequadamente os fenômenos a serem analisados. Nossos mestres eram outros: David Harvey do Explanation in Geography, Brian Berry e os métodos quantitativos e classificatórios, Petter Hagget e Richard Chorley com seu Models in Geography, Abler, Adams e Gould com seu inescapável Spatial organization: The geographer’s view of the world. A regionalização passou a ser uma questão de classificação de áreas e a região um recorte adequado para o fenômeno a ser analisado. Ou seja, nossos métodos também mudaram e as tentativas de resgatar o debate levantado por Harstchorne não foram suficientes para manter nossos vínculos com o passado. Tudo era muito atordoante, mas nem desconfiávamos do que ainda estava por vir... A quantificação abriu novos campos, polêmicas e debates acalorados sobre o “novo” e o “velho” na disciplina. Alguns de nossos professores do curso de mestrado eram os mesmos da graduação e seus esforços para seguir a nova onda teórico-metodológica eram enormes. Tínhamos a matemática e a estatística como disciplinas obrigatórias, além da Teoria Geral de Sistemas. A informática dava seus passos e nós éramos levados a montar algoritmos e entender a linguagem binária daquelas máquinas sinistras, muito diferentes das amigáveis interfaces de hoje dos sistemas Windows ou da Apple. Tudo era novo, novamente, e vivíamos uma fase de transição. O eixo de concentração do curso de mestrado era o desenvolvimento urbano-regional. A interdisciplinaridade com a economia espacial era evidente e devíamos percorrer a literatura sobre as teorias do desenvolvimento regional, a economia regional, disparidades espaciais do desenvolvimento e foram recuperados os modelos e padrões espaciais de Christaller e Lösch. Mas estávamos ainda longe do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky. Nossos mestres vinham de uma formação liberal com pinceladas de socialdemocracia de matriz keynesiana e era dentro deste campo que o debate se fazia e a questão era sobre as pré-condições e os percursos do processo. Lemos as teorias de W. W. Rostow (The stages of economic growth) sobre as etapas do desenvolvimento dos países e as condições para o “take off”. Também Gunnar Myrdal e seu livro sobre “Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas”, além do inescapável estudo de Friedman sobre os padrões espaciais do desenvolvimento, cujo modelo das relações centro periferia foi amplamente aplicado por nossos mestres, especialmente pela professora Bertha Becker. Na maioria dessas leituras o Estado era explícita ou implicitamente presente como um indutor do processo de desenvolvimento. A questão do planejamento era central e as políticas públicas para o desenvolvimento regional eram estudadas de várias maneiras. Estávamos no tempo da CEPAL na América Latina e Celso Furtado e SUDENE no Brasil e da versão do nacional desenvolvimentismo conduzido pelos governos militares. Como os métodos quantitativos estavam na ordem do dia na geografia, novas exigências metodológicas estimulavam a busca de cursos, mesmo que rápidos, e palestras que complementassem a nova formação e ajudassem as atividades de pesquisas que se avizinhavam. Destaco a “Evolução recente da pesquisa histórica”, com o professor Frédéric Mauro, em 1972 e o de “Métodos quantitativos aplicados à regionalização”, com a professora Olga Buarque de Lima em 1974. Em ambos foram apresentados os métodos e as dificuldades enfrentadas naquele momento para a conceituação e quantificação nas ciências sociais. Neste ambiente acadêmico aconteceram minhas primeiras incursões pela escrita de artigos científicos. No meu tempo de graduação, estudantes ficavam restritos a trabalhos das disciplinas e não eram estimulados a publicar seus textos ou apresentá-los em Congressos, como fazemos hoje com nossos bolsistas de IC. Mas o mestrado era uma etapa nova e, como hoje, éramos estimulados a publicar nossos textos bem avaliados nas disciplinas. Mas como eram tempos de transição, verifico quanto os textos sobre Madureira e Maricá, escritos com outros colegas refletem este momento. Fomos a campo, observamos, descrevemos, colhemos informações, analisamos, mas aplicamos o modelo de Christaller! O primeiro projeto de pesquisa foi o desafio de conduzir uma investigação que, mesmo sob supervisão, colocava à prova minha capacidade escolher um tema, um problema e definir as etapas e os procedimentos necessários para alcançar um resultado que atendesse às exigências para o título de mestre. A dissertação, como não poderia deixar de ser, foi uma aplicação daquilo que nos foi oferecido como recurso para a pesquisa. O tema do desenvolvimento espacial em um país tão desigual como nosso me atraiu e a literatura sobre este processo trazia ao debate a questão sobre a diferença entre desenvolvimento e crescimento e sobre os mecanismos de ambos os processos. O computador permitiu fazer uma análise fatorial de todos os municípios brasileiros, a partir de variáveis previamente selecionadas, com dados obtidos no IBGE para identificar e analisar “Os desequilíbrios e os padrões espaciais do desenvolvimento brasileiro”, utilizando informações estatísticas e selecionar variáveis para todos os municípios brasileiros. O tema era também importante naquele momento e minha orientadora, a professora Lysia Bernardes, dispunha de bagagem prática sobre o assunto. A dissertação de mestrado teve boa repercussão, pois tratava da questão dos desequilíbrios espaciais, permanente questão do processo de desenvolvimento das nações periféricas. O segundo projeto de pesquisa foi fruto dessa experiência e possibilitou expandir os resultados a partir do foco na construção de indicadores sociais, uma perspectiva que, naquele momento, vinha se impondo, especialmente no IBGE. Com base na metodologia utilizada na dissertação, novos dados foram incorporados e os resultados foram ampliados para construir os indicadores e definir uma tipologia e classificação dos níveis de desenvolvimento dos municípios para a Fundação MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização de Adultos) e outra para os municípios das Regiões Metropolitanas utilizada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS). O primeiro foi publicado no formato brochura pela Fundação e distribuído por todos os municípios onde suas bases estavam organizadas, ou seja, praticamente todos. A demanda por este tipo de material para a análise era grande e a curiosidade sobre o universo dos municípios brasileiros no contexto de uma análise comparativa resultou em matéria que destacou a importância do trabalho no Jornal do Brasil, noticiário importante no período. Minha primeira experiência de divulgação do trabalho fora do ambiente acadêmico foi gratificante e me dei conta da importância de poder oferecer à sociedade informações que possam ser apropriadas e utilizadas. Já estávamos no governo Ernesto Geisel e a preocupação com as grandes obras de infraestrutura para a modernização da economia. Era o governo autoritário dirigindo o Estado e tomando as rédeas da direção do processo. O planejamento estava na ordem do dia e a geografia dava sua contribuição através de levantamentos e análises do território, suas características e diferenças. Este era um conhecimento do qual nenhum Estado pode abrir mão, aliás, em nenhum tempo e lugar. Entre 1977 e 1980 foi a oportunidade de trabalhos de consultoria e inserção na gestão pública, ou seja, a geografia ativa tão valorizada no momento. Este foi um tempo novas práticas e de algumas publicações que expressavam esta atividade no período. As portas abertas pelo mestrado favoreceram uma experiência bem diferente daquela da sala de aula, seja para ensinar seja para aprender. A competência do geógrafo era requisitada para produzir informações e análises direcionadas a ajudar a tomada de decisões. Tratava-se aqui de um outro formato de pesquisa, mas com aplicação do mesmo rigor do método de investigação e do conhecimento produzido, destinado, porém a um público para além dos muros da escola. A experiência foi um desafio que fui capaz de cumprir, embora tenha descoberto que os trabalhos sob encomenda me motivavam menos por que eu preferia a liberdade da pesquisa acadêmica. Este não se consolidou como um nicho adequado às minhas indagações, embora reconheça a importância do conhecimento geográfico para a sociedade e, certamente, para os seus governos. Entre 1973 e 1987 tive a oportunidade de consultorias no Centro de Documentação da Fundação MOBRAL, do Ministério de Educação (1973-1975); na Companhia Morrisson-Knudsen de Engenharia para a Proposta de Projeto Educacional para a área da Superintendência da Amazônia (SUDAM, 1975); no Grupo de Trabalho para o Plano de Localização das Unidades de Serviço do Instituto Nacional da Previdência Social, do Convênio IPEA/INPS, para o Diagnóstico das Áreas Metropolitanas para a Regionalização dos Serviços de Saúde; no Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, para a elaboração de estudos e documentos referentes às áreas Social e Institucional do Brasil (1978-1979); na Fundação Legião Brasileira de Assistência para a Coordenação do Projeto de Regionalização dos Municípios para Programas de Assistência Social (1978); na Fundação Legião Brasileira de Assistência para a Organização da informações sobre as atividades e a elaboração de um Sistema de Indicadores para Avaliação de Desempenho e para o Planejamento dos Programas Institucionais (1987). Ainda nesse período (1976-1979) ocorreu minha rápida inserção na gestão pública. Fui a primeira geógrafa contratada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS e encarregada de definir qual seria a função deste especialista. Não lembro exatamente os termos da definição no estatuto daquele novo Ministério, mas sei que sua tarefa seria construir uma base de informações que pudessem ser úteis à tomada de decisões dos agentes públicos. Hoje percebo o quão pretensioso isso era, mas de qualquer forma era a importância do conhecimento geográfico como recurso para as políticas públicas. Inicialmente estive lotada na Secretaria de Assistência Social desse ministério e posteriormente na Secretaria de Articulação entre Estados e Municípios – SAREM do então Ministério do Planejamento. Neste período pude ter uma perspectiva do processo decisório e das políticas públicas em ação, ou da geografia ativa, como diriam os franceses. Pude perceber a importância do conhecimento que o geógrafo é capaz de oferecer para instituições públicas e privadas e meu pouco talento executivo na burocracia estatal e o quanto meu interesse continuava sendo investigar e analisar a complexidade do território e do federalismo no país, apesar do centralismo federal das decisões. A negociação e a mediação com os níveis de gestão dos estados e municípios eram necessárias, por mais que o poder estivesse concentrado. Esta experiência foi reveladora dos meandros do poder na base institucional do Estado e tem sido útil para a reflexão e teorização, desde a tese de doutorado. A possibilidade de participar da administração federal foi fruto de laços familiares. Meu companheiro, que havia sido meu professor no mestrado, era um competente quadro da direção do MOBRAL e me convenceu da importância de vivenciar o processo de definição e de aplicação de políticas públicas. Ante minhas hesitações em fazer parte de um sistema que eu criticava e rejeitava, ele chamou a atenção para a grande diferença entre Estado, governo e sociedade e a lição de que para que haja transformação é preciso conhecer os mecanismos de reprodução daquilo que se quer transformar. Lição que aprendi e que aprofundei no meu doutorado e que é sempre recuperada. A sociedade brasileira era maior que seus governos autoritários e sobreviveria a eles. E eu não podia esquecer o quanto havia sido beneficiada por políticas sociais como ensino público de qualidade, saúde, bolsas de estudo de iniciação científica e de mestrado. Ou seja, o Estado não devia ser ignorado, mas ajustado aos interesses e necessidade da sociedade. Aprendi mais tarde que o Estado pode ser coercitivo no limite da sua legitimidade, mas que os governos não tem esse direito. O Leviatã não deveria ser aniquilado, mas domado e colocado a serviço da sociedade. Este conhecimento prático tem me ajudado a não abandonar na geografia política a escala estatal, mas ao contrário, tentar compreendê-la cada vez mais, inclusive na sua dimensão territorial. Mas, nesse período, não abandonei minhas atividades de magistério superior, que agora incluíam também a PUC Rio de Janeiro e a própria UFRJ onde ingressei em 1979 como Professor Assistente após um concurso. Como é comum acontecer, aos novatos são atribuídos os cursos menos atraentes e eu fui indicada para ministrar Geografia Humana e Econômica para o curso de Ciências Sociais e Geografia Regional para o curso de História, ambos no IFCS (Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ). Oferecer cursos nas ciências sociais era o terror dos professores de geografia. Novo desafio, agora de enfrentar os estudantes de sociologia intelectualmente libertários, politicamente ativos e mergulhados na atmosfera que anunciava o fim dos governos militares. Este contato direto com as perspectivas epistemológicas que delineavam a visão de mundo e da sociedade nas ciências sociais abriu novos horizontes e mais tarde ajudou na difícil escolha do curso de doutorado. Esta experiência favoreceu o diálogo com as ciências sociais, incorporando questões novas colocadas por eles e ao mesmo tempo lhes demonstrando como a incorporação da dimensão espacial complementava e enriquecia a análise sociológica. Estávamos no tempo do David Harvey de “Social justice and the city” e dos problemas colocados pela rápida expansão do espaço urbano no país. Os futuros sociólogos aprenderam que não era possível compreender a sociedade urbana sem compreender seu espaço. Essa influência ajudou a configurar meu terceiro projeto de pesquisa e o balanço desse período no Largo do São Francisco foi bem positivo. Alguns alunos de história e de ciências sociais foram cursar geografia, porque descobriram que a disciplina era interessante tanto para o magistério como para pesquisa. Meu primeiro bolsista de Iniciação Científica era aluno de sociologia e morava na Vila Kennedy, conjunto habitacional na Zona Oeste do Rio de Janeiro, construído no processo de remoção de favelas durante o governo Carlos Lacerda, e acabou se engajando no meu primeiro projeto de pesquisa como professora Assistente do Departamento de Geografia: “Políticas públicas e estruturação interna urbana – um estudo de caso no Rio de Janeiro” entre 1980 e 1981. O tema estava na agenda de pesquisas das ciências sociais e na geografia urbana e era um excelente campo para a interdisciplinaridade. Duas monografias de graduação foram concluídas neste projeto. Poucos anos depois, os achados desta pesquisa resultou no artigo “Conjunto habitacional: ampliando a controvérsia sobre a remoção de favelas”, tema que na época mobilizava corações e mentes em várias especialidades no país, e foi publicado na prestigiosa Dados - Revista de Ciências Sociais, em 1983. Este foi também apresentado no Congresso da UGI e publicado em inglês, no mesmo ano, como "Housing projects - elarging the controversy about squatter removes” na Revista Geográfica do Instituto Panamericano de Geografia e História. Alguns anos mais tarde, quando eu já estava no doutorado, fui convidada pela professora de Metodologia da Pesquisa no IFCS para um seminário com seus alunos sobre essa pesquisa. Ela revelou que há alguns semestres vinha adotando o artigo da Revista Dados como exemplo de metodologia correta na condução de uma investigação. Fiquei realmente muito feliz e me senti recompensada por contribuir para a interface da geografia com as ciências sociais e especialmente por deixar claro o quanto temos a oferecer. Agora, depois de tanto tempo, revendo meus consultos percebo como as relações do espaço com a política me instigaram desde sempre! Mas deve ser registrada ainda a dissertação de mestrado de Jurandyr Carvalho Ferrari Leite, também aluno de ciências sociais que buscou mais tarde o PPGG e minha orientação para sua pesquisa: “Projeto geopolítico e terra indígena. Dimensões territoriais da política indigenista”, defendida em 1999. Esta foi mais uma aproximação de estudantes do IFCS que tiveram seus interesses despertados pela geografia. Nos primeiros anos como professora assistente da UFRJ, reconheço que era grande o sofrimento dos meus alunos, da geografia ou das ciências sociais, com as novas leituras metodológicas que eu lhes impingia como resultado da conclusão do mestrado e dos novos ventos que começavam a soprar na geografia. Através das dúvidas que eles apresentavam eu tomava consciência da confusão mental que algumas vezes eu mesma vivia. A transição da formação da graduação para a pós-graduação foi dolorosa e nem um pouco linear, e ao final da dissertação de mestrado e de aplicação dos métodos quantitativos que eu tão ciosamente utilizara, a geografia crítica fez sua aparição em Fortaleza, em 1968. O David Harvey do Explanation in geogragraphy metamorfoseara-se no de Social Justice and the city. O Milton Santos do Manual de geografia urbana era o de Por uma nova geografia. Eram tempos duros para um geógrafo novato. Mas era também tempo de debates estimulantes, de muita polêmica e do confronto de ideias, fundamentais para os avanços do conhecimento e do enriquecimento da agenda da geografia. Embora as questões das políticas públicas e seus impactos sobre o espaço urbano fossem um campo aberto e minha inserção nele já houvesse dado alguns frutos, o problema regional que emerge da escala nacional, como ponto de vista para a análise do processo de desenvolvimento e suas disparidades territoriais, continuava sendo para mim apaixonante. Confesso que, apesar da competência de importantes mentores intelectuais, entre eles o David Harvey do Explanation in geography, nunca fiquei muito convencida sobre o recorte regional como mera “classificação de área” ou como um recurso a ser aplicado para definir uma determinada área para uma ação específica e que só tem existência no curso desta ação. Afinal, meu pai era da Região Nordeste e esta não é uma noção trivial. Este debate estava longe de ser esgotado e percebi mais tarde que a região se tornou um fantasma que de vez em quando me assombrava. O doutorado me permitiu exorcizá-lo. O tempo de doutorado (1982-1988) implicou uma difícil escolha. O país vivia a distensão e a redemocratização e na geografia era tempo de novos fundamentos teóricos e metodológicos. Na política vivíamos em tempos de uma “abertura lenta e gradual” para o encerramento do ciclo de governos militares. Ainda não era a democracia, mas respirávamos um pouco melhor. Na geografia, as novas reviravoltas teórico-metodológicas que eclodiram no 3° Encontro Nacional de Geógrafos, realizado em julho de 1978 em Fortaleza – CE, com o confronto entre a "geografia clássica" e "geografia crítica", se impunham com grande vigor. Críticas contundentes ao passado positivista da disciplina eram lançadas e, mais uma vez, o que havíamos aprendido antes deveria ser revisto. Tanto a formação da graduação, definida como descritiva e alienada, e a da pós-graduação como um aprofundamento desta visão, apenas reforçada por métodos estatísticos que mais obscureciam do que revelavam a realidade. Era neste ambiente de polêmicas e efervescência intelectual que, já professora assistente e tendo oportunidade de continuar minhas pesquisas, impunha-se a realização do doutorado. As opções no Brasil eram muito limitadas e outros colegas do departamento estavam diante da mesma circunstância e as escolhas foram variadas: Inglaterra, França, Estados Unidos, Espanha, Portugal. Para mim havia a possibilidade de cursá-lo na França, Inglaterra ou em Portugal, mas problemas pessoais do momento me impediram de fazer a escolha de atravessar o Atlântico. Da mesma forma, não me via percorrendo a Via Dutra ou a ponte aérea Rio - São Paulo uma vez que ainda não havia curso de doutorado em geografia no Rio de Janeiro. Mas havia por aqui o IUPERJ – Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e centro de excelência na pós-graduação em Ciência Política e Sociologia, sugerido por uma colega do Departamento e que vinha ao encontro do meu interesse pela política e da minha familiaridade com os temas das ciências sociais. O doutorado em ciência política tornou-se uma possibilidade concreta. Minhas indagações e dúvidas epistemológicas e a convivência com os alunos de ciências sociais, suas inquietações, discussões e polêmicas apontavam para o doutorado no IUPERJ. Cedo percebi que, mesmo de modo um tanto paradoxal, meu contato com a nova agenda e os novos debates da geografia, influenciados pelos princípios teórico-metodológicos do marxismo, estava longe de ser tranquilo ou trivial. Fui selecionada para o curso de doutorado. A primeira geógrafa aceita com alguma desconfiança no ambiente exclusivo dos cientistas sociais. Meu orientador foi o professor Sérgio Abranches, jovem e competente e com grande interesse pelas políticas públicas e com grande sensibilidade para a geografia. Meu professor de teoria política clássica foi Wanderley Guilherme dos Santos, seguramente o cientista político mais brilhante e inovador do país; de história política do Brasil foi José Murilo de Carvalho, membro da Academia Brasileira de Letras, intelectual do ano e pesquisador irrequieto. Outros professores foram Olavo Brasil, Amaury de Souza, Elisa Reis, Eli Diniz, Renato Borghi, Carlos Hasenbalg, Cesar Guimarães, Simon Schwartzman. Para cada um deles a perspectiva teórica era fundamental e percorremos a literatura dos clássicos da filosofia política: “O príncipe” de Maquiavel, “O Leviatã” de Hobbes, “O segundo discurso sobre o governo” de Locke, “O contrato Social” de Rousseau, “Do Espírito das Leis” de Montesquieu, “O antigo regime” e “Da democracia na América” de Tocqueville, “Economia e sociedade” de Weber, o “Dezoito Brumário” de Marx, além de muitos outros como Gramsci, Lênin, Trotsky, Robert Michels, Gaetano Mosca, Norberto Bobbio etc. No final do curso fui apresentada por Elisa Reis aos textos de Michael Mann e o comentário de que finalmente ela entendera, com este autor, o porquê da minha insistência em incluir o território nas discussões da ciência política. O mergulho nesse universo teórico conceitual plural e a experiência dos debates que ideias contraditórias suscitam foi um aprendizado duro no início, mas que acabei incorporando como modo de refletir e de enfrentar problemas novos. Além disso, para minha grande surpresa cada vez mais eu encontrava a geografia subsumida ou explícita nesses textos: a relação entre o controle do território e o poder era clara em Maquiavel e em Rousseau, o problema do determinismo da natureza teve em Montesquieu legitimação teórica, a relação entre o território e suas disponibilidades de recursos como condição necessária para a democracia em Tocqueville. Essas eram algumas das fontes de nossos teóricos, mas eu não tinha, até então, uma visão clara. O Estado como problema e a questão de “porque existe governo” são centrais na ciência política. Em ambos os casos o território encontra-se subsumido e a relação com a geografia é evidente. Foi nesse desdobramento possível que procurei definir o tema e a questão central da minha tese de doutorado. E aqui o fantasma da região se materializou na indagação sobre o papel da política no recorte regional. A interdisciplinaridade era clara e o tema atendia à exigência do curso de que a tese fosse de ciência política e a minha de não me afastar da geografia. Afinal este continuava sendo o meu ofício. A tese de doutorado foi meu quarto projeto de pesquisa: a importância da Região Nordeste e de sua elite política no histórico suporte ao poder central, fosse ele democrático ou autoritário, ia pouco a pouco se delineando para mim como uma questão que merecia ser investigada. Fui estimulada pelo meu orientador a seguir em frente e elaborar este novo projeto, diferente do que havia apresentado para ingressar no doutorado, influenciado pelas minhas incursões nas questões das políticas públicas na cidade. Após ser impactada por todas as leituras do primeiro ano de curso, a questão da política habitacional e do espaço urbano no país, meu projeto original, pareceu menos instigador do que a inserção territorial das estratégias se sobrevivência da velha, mas sempre renovada, elite política nordestina. O tema não foi bem aceito por alguns pares da geografia. Era tempo da crítica radical ao conceito de região, da negação da política e da crítica ao Estado como um instrumento dos interesses capitalistas. Afinal, o que tinha relevância para as lideranças intelectuais na disciplina eram a economia política e seus atores privilegiados, ou seja, aqueles no comando das grandes empresas capitalistas, e o desenvolvimento desigual e combinado. Política e região eram vistas como resquícios do passado positivista e conservador da disciplina e a perspectiva de estudar a elite regional remetia a algo pior, ao pensamento liberal, considerado por definição aquiescente com injustiças. Mas, felizmente, a minha tese era em ciência política, pouco afeita a reducionismos, e espaço intelectual de convivência e diálogo entre matrizes teóricas as mais variadas. Pude passar ao largo das críticas e desenvolver minha pesquisa que pôs à prova minha capacidade de investigar e meu aprendizado de campo que vinha da graduação. A dimensão quase religiosa da adesão a paradigmas que não comportam dissensos e polêmicas era para mim incômoda na geografia desde a década de 1980. Em se tratando de ciência percebi que meu ateísmo foi de grande ajuda. Para minha tese a base conceitual utilizada foi a dos debates sobre a região, que eram bem mais frequentes na geografia, e sobre o regionalismo mais presentes na ciência política e na sociologia. Os temas do regionalismo e da identidade regional na nossa disciplina eram abordados em diferentes perspectivas conceituais. Na década de 1980 muita tinta se gastou nessas discussões e algumas polêmicas importantes opunham as correntes materialistas às outras abordagens, fossem humanistas, institucionalistas ou econômicas. No conjunto das ciências sociais e da geografia, a bibliografia disponível era considerável, especialmente na França e na Inglaterra, o que indicava a importância do tema e as muitas discordâncias em torno da melhor forma de abordá-lo. A inclusão da elite – política, econômica ou cultural – não era estranha, embora menos frequente. Como o meu interesse era identificar o modus operandi da elite política regional, a operacionalização foi feita com recurso ao material empírico disponibilizado pelos discursos parlamentares das legislaturas de 1945 a 1987 na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. Outras fontes e informações foram utilizadas, mas a análise temática dos discursos selecionados através de amostra foram os mais importantes e mais originais no modo como foram tratados. A repercussão da tese foi imediata e seus resultados muito debatidos – a favor e contra – em mesas redondas e seminários, no Rio de Janeiro e outros estados, mas especialmente na Região Nordeste. A pesquisa revelou a importância dos espaços institucionais ocupados pela elite política regional na condução do processo de desenvolvimento e do ethos nele implicado. A questão Nordeste, tão discutida e imposta à nação como um destino manifesto às avessas pôde ter uma nova maneira de ser pensada. Fui convidada para uma longa entrevista no Caderno Ideias do Jornal do Brasil, para debates na televisão, além de comentários em Editorial do JB. Ou seja, a tese ganhou a rua. A editora Bertrand Brasil ofereceu-se para publicar o livro. Mas eu já estava de malas prontas para o pós-doutorado e adiei a publicação para a volta. Em 1992, meu primeiro livro, “O mito da necessidade. Discurso e prática do regionalismo nordestino” foi lançado. Mais debates e polêmicas, mas principalmente a consolidação de um tema e de uma abordagem que continuaria a produzir resultados acadêmicos importantes, como artigos e teses de doutorado, ironicamente na própria Região Nordeste e também na vizinha Argentina, onde uma dissertação foi feita utilizando a mesma metodologia para abordar a Região do Chaco, com grandes analogias com o Nordeste brasileiro. Não posso deixar de mencionar a frieza com que o livro foi recebido em boa parte da geografia brasileira. Afinal, ele tratava da ideia de região a partir do discurso identitário elaborado por atores políticos e recorria a uma literatura teórico conceitual que não era usual na geografia crítica então praticada e não usava o jargão do materialismo histórico, embora Gramsci tivesse sido muito utilizado. Era o momento de um radicalismo epistemológico estreito, sem lugar para debate, especialmente se conceitos como política, região e estado fossem abordados. Na França, quase que simultaneamente, mas só vim conhecer mais tarde, Yves Lacoste coordenava uma enorme obra, em três volumes, chamada “Géopolitique des régions françaises”, publicada em 1988. As regiões eram analisadas como recortes territoriais que construíam sua identidade e se diferenciavam a partir da história de suas elites políticas, seus discursos, interesses, conflitos e acordos. Todo o processo que eu analisei para compreender a Região Nordeste brasileira estava lá, em várias regiões francesas, o que reforçava minha convicção de que vieses ideológicos não são capazes de mudar a realidade estudada. Melhor ficar longe deles. Lacoste optou pelo uso do termo geopolítica ao invés de geografia política, que era o que se tratava na realidade. Essa estratégia escapista e simplificadora de usar o rótulo da geopolítica por negar sua tradição como disciplina tem consequências nefastas até o presente. A geopolítica do título apontava que todo este processo de construção se fazia no confronto com outros espaços regionais e com o poder central, mas o uso da palavra foi certamente uma recusa de tributo à geografia política, que ele tanto criticava, e que era afinal o conteúdo da obra, o que não deixou de ser provocativo. Ou seja, por via da política eu sempre chegava à geografia. Trinta anos depois, está sendo preparada uma reedição de O mito da necessidade por insistência de alguns colegas e ex-alunos. O ambiente intelectual hoje talvez esteja mais preparado para pensar a geografia em paralelo com os processos de formação da região e do regionalismo, com a política como negociação necessária frente aos conflitos de interesses, que não pode jamais ser reduzida ou substituída pela ideia de poder, e com centralidade territorial de mando e obediência do Estado, que permanece ainda como instituição inescapável da vida contemporânea. 2. OS ESPAÇOS O pós-doutorado na França (1990-1991); espaço de novas descobertas, a democracia e a cidadania como experiências do cotidiano; a França e o CEAQ Após o doutorado, o pós-doutorado foi o caminho natural para buscar uma interlocução no exterior. Neste ínterim, uma entrevista com o professor Michel Maffesoli, sociólogo da Universidade de Paris V - Rénée Descartes, Sorbonne, chamou minha atenção. O regionalismo era o tema analisado naquele momento. Consultei seus trabalhos e verifiquei como o “genius loci”, ou seja, a identidade da sociedade com o seu território era um objeto de investigação necessário. Eu continuava encontrando a geografia fora da geografia nacional. Apresentei meu projeto: Espaço regional e modernização tecnológica: limites e potencialidades do regionalismo, escrevi para ele, fui aceita para um estágio de pós-doutorado, obtive uma bolsa do CNPq e arrumei as malas para Paris. No ano de 1990 e primeiro semestre de 1991, participei das atividades do CEAQ – Centre de Recherche sur l’Actuel et Le Quotidien, na Université Réné Descartes. Além de seguir os seminários sobre imaginário político do professor Maffesoli, pude participar de dois dias de debates em torno da obra do antropólogo Gilbert Durand. Foi a oportunidade de acompanhar também os debates na geografia, especialmente a obra de Jacques Lévi e de Yves Lacoste e a polêmica entre eles. Tive também acesso a uma coletânea organizada por Phillippe Boudon, arquiteto preocupado com o problema epistemólogico da escala na arquitetura e que muito me ajudou a colocar o problema da escala com um pouco mais de precisão. A geografia, decididamente não estava só. A discussão de Edgard Morin sobre o problema epistemológico da complexidade, além de abordar a questão da escala, por sua vez, chamou minha atenção num momento em que eu me perguntava até onde era possível ir à busca de fundamentos conceituais mais consistentes para minhas indagações sobre a região e o regionalismo. Desde o doutorado, a ideia de que não é possível encontrar para a investigação um fundamento teórico conceitual único, capaz de dar respostas satisfatórias para os muitos problemas que somos capazes de identificar no mundo real permanecia como convicção. Ao final desse um ano e meio de leituras e de contatos com novas questões e novos temas, o que havia sido apenas intuído na minha pesquisa para a tese pôde emergir e ser aprofundado, ou seja, a questão do nexo entre o imaginário político e o território. E a Região Nordeste continuava sendo um interessante campo de estudo desse vínculo. Da mesma forma, o problema da região e seu recorte permitiu examinar com mais calma o problema da escala como medida adequada para observar o fenômeno, trabalhada por outros especialista tanto na França como nos Estados Unidos. Os produtos concretos desse período foram um artigo sobre “O problema da escala”, publicado originalmente na coletânea Geografia Conceitos e Temas, em 17ª Edição, organizado em parceria com os professores Paulo Cesar da Costa Gomes e Roberto Lobato Correa. Este artigo foi solicitado para ser publicado em inglês e espanhol na Revista Quaderns D'arquitetura i Urbanisme, de Barcelona, em 2002 e na coletânea Cuaderno de geografía brasileña, organizado por Graciela Uribe Ortega, no México. Além da escala, a questão do imaginário político, intuído na pesquisa para a tese de doutorado, foi também aprofundada e ampliada e as leituras do pós-doutorado conduziram ao novo projeto de pesquisa, ainda focado na Região Nordeste, mas agora tendo como questão central as diversas facetas do imaginário político nas suas relações com a natureza e a sociedade. O eixo continuava sendo o discurso, porém tratava-se agora da elite econômica vinculada à produção irrigada no semiárido. Novos produtos desta etapa da vida acadêmica: artigos e orientações vinculadas ao problema da relação do imaginário político e o território. Foi interessante verificar como o clima semiárido assumia uma dimensão completamente diferente para os empresários da fruticultura irrigada. Da tragédia anunciada pelos políticos porta vozes de um modelo social arcaico, para os modernos empresários a falta de chuva era um recurso potencial inestimável. Este debate encontra-se no artigo “Seca versus seca. Novos interesses, novos territórios, novos discursos no Nordeste”, publicado em outra coletânea “Brasil. Questões atuais da reorganização do território”, em 8ª Edição, organizada novamente com os colegas Paulo Cesar da Costa Gomes e Roberto Lobato Corrêa, também pela Bertrand Brasil, Rio de Janeiro. Ainda nesta linha foram publicados: “Natureza, imaginário e a reinvenção do Nordeste”, no livro “Paisagem, imaginário e espaço”, organizado por Zeny Rozendahl e Roberto Lobato Corrêa, editado pela EDUERJ em 2001; "Novos interesses, novos territórios e novas estratégias de desenvolvimento no Nordeste brasileiro.", no livro Desarollo local y regional en Iberoamérica, organizado por R. González, R. Caldas e J. M. Bisneto, em Santiago de Compostela em 1999; e também, “Imaginário político e território. Natureza, regionalismo e representação” no livro Explorações geográficas, organizado por mim, Paulo Cesar da Costa Gomes e Roberto Lobato Corrêa, publicado pela Bertrand Brasil em 1997, em 5ª edição. Esta foi ainda uma temática profícua na atração de estudantes interessados em desenvolver dissertações de mestrado e teses de doutorado. Nesta última modalidade foram 6 teses orientadas, todas realizadas por professores de universidades de estados nordestinos: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco (2) e Bahia (2), que explicitarei adiante. Refazendo esse percurso não posso deixar de comentar as críticas que recebi pela opção de escolher como objeto de investigação as elites política e econômica nordestinas, na tese de doutorado como em pesquisas posteriores. Compreendi imediatamente que o problema é que eu não fazia parte dos que aderiram sem muita reflexão à geografia crítica, que na época substituiu o determinismo da natureza pelo determinismo do modo de produção capitalista e a luta de classes inerente. Esta chave mágica que abria as portas a todos os problemas e tudo explicava. Neste ambiente acadêmico, falar em elite política e empresariado rural soava como heresia imperdoável no momento em que o importante era o oprimido, não o opressor. Para mim, no entanto, numa perspectiva de Celso Furtado e mesmo gramisciana, que acredito ainda não estava em voga na época, era necessário justamente compreender os mecanismos de reprodução das desigualdades profundas da Região e analisar o papel dos novos atores econômicos regionais que disputavam espaços com a velha elite. A confusão entre epistemologia e ideologia, que não era restrita à geografia, confundia a escolha do objeto de pesquisa como recurso para compreender a realidade com engajamento político, o que infelizmente empobreceu o debate na geografia com impactos importantes para sua vertente política. Esta foi substituída por uma pretensa geografia do poder, que até hoje não quer dizer muita coisa, mas apenas uma tautologia. Confundiu-se os conflitos produtivos que pertencem ao campo da economia com os conflitos distributivos que pertencem ao campo da política. A submissão da política à economia produziu muitos reducionismos e não favoreceu a compreensão da realidade que teima em não se enquadrar aos moldes de um modelo explicativo previamente estabelecidos. Felizmente hoje há críticas importantes a essa deriva da disciplina, que começa a se abrir para um pluralismo conceitual mais saudável, que tem reduzido a desconfiança sobre a geografia política. Voltando ao estágio em Paris, este me ofereceu muito mais. Tendo saído do Brasil no confuso início do governo Collor, vivenciando o processo de inflação sem controle que dificultava avaliar os limites do orçamento doméstico, mergulhar num ambiente de estabilidade, de democracia e de cidadania como experiências do cotidiano, deixou marcas que não mais se apagaram. Minha sensibilidade para a política como viagem intelectual era cada vez mais reforçada como viagem existencial. A descoberta da alteridade, o compartilhamento da diversidade – étnica, religiosa, de nacionalidade – nos espaços e transportes públicos era um exercício cotidiano de se reconhecer como brasileira, para o bem e para o mal. A experiência de viver um tempo fora da “concha protetora” na expressão de Bachelard, no estrangeiro é um privilégio que o mundo acadêmico oferece e deveria ser aproveitado. Estimulei todos os meus alunos a buscarem doutorado, bolsa sanduíche ou pós-doutorado no exterior. Os que souberam aproveitar reconhecem a importância da experiência. Mas, que fique claro, não é fácil mergulhar em outra cultura, grandes esforços e alguns sacrifícios são exigidos, mas os ganhos são para toda a vida. Morar na Paris do início da década de 1990, partilhar de um espaço institucional no qual a praça e o palácio se confrontam, mas acima de tudo interagem, se reforçam e se respeitam por que sabem, como disse uma vez Norberto Bobbio, que “o palácio sem a praça perde a legitimidade e a praça sem o palácio perde o rumo”. Meu desconforto com os tempos da ditadura e a experiência do respeito que as instituições públicas devem aos cidadãos eram fundamentos sobre os quais minhas opções de temas de pesquisas, mais amadurecidas a partir da tese de doutorado, acabaram progressivamente se encaminhando. Este percurso possibilitou reforçar minha sensibilidade pela política e definir o nicho da geografia no qual me encontro e que hoje vai muito além da Região Nordeste como problema e do imaginário político como substrato das análises sobre o território. Minha perspectiva da geografia política está na interface dos fenômenos políticos, perfeitamente inseridos na sociedade, com o espaço que ela organiza. Utilizando aqui as palavras de John Agnew, minha preocupação é de como a geografia é hoje cada vez mais informada pela política e, na mesma linha, a perspectiva de Jacques Lévy para quem mais do que geografia política nos moldes clássicos é importante hoje fazer uma geografia do político. E nesta direção, a centralidade territorial do Estado como fundamento da autonomia do seu poder, como discute Michael Mann, define uma agenda de pesquisa inovadora, que incorpora as múltiplas escalas com as quais o campo da geografia deve lidar. A escala do Estado-Nação, duramente criticada na retomada da geografia política desde a década de 1970, adquire significado bem diferente quando considerada a partir das entranhas do estado, ou seja, das suas instituições e dos vínculos destas com a sociedade e seu território. Não há divórcio entre a formação da sociedade e aquela dos aparatos para o seu governo, que na modernidade assumiu o formato do Estado moderno, como um olhar mais apressado para algumas das polêmicas entre a sociologia e a ciência política pode fazer crer. Na realidade, Estado é um “locus” de poder, mas do poder político, e a tentativa de substituí-lo na agenda por uma geografia do poder é no mínimo ingênua. Neste sentido, o Estado é retomado da agenda da geografia política clássica, porém, menos nos seus conteúdos formais ou na relação com outros Estados, tema central da geopolítica e das relações internacionais, mas como uma escala política consistente que define um território pleno de problemas, conflitos e contradições. A ordem espacial e social que resulta desta dinâmica oferece uma agenda temática estimulante e também provocativa que, ao aceitar a multidisciplinaridade, recorre a matrizes intelectuais que transcendem ao campo da geografia e se estendem ao domínio mais amplo das ciências sociais. Uma lição de Milton Santos, em sua curta passagem pelo nosso departamento, foi bem aprendida: as ciências crescem nas suas margens. 3. A CARREIRA ACADÊMICA Inserção na graduação da UFRJ; Ensino e Pesquisa; A inserção na pós-graduação: Disciplinas - Projetos de pesquisa – Orientações; participação na vida universitária: Administração acadêmica, Representação em colegiados, Atividades de Extensão Concluído o doutorado e o estágio de pós-doutorado, a bagagem acadêmica se consolidava e o oferecimento de cursos uma oportunidade de levar aos alunos da graduação em geografia a renovação do debate na geografia e a dimensão política como ingrediente necessário. O retorno do pós-doutorado me “credenciou" para finalmente reivindicar uma disciplina no curso de geografia e passar para outro novato os cursos do IFCS. A disciplina “Trabalho de Campo” foi a primeira, que acumulei durante algum tempo com as do IFCS, e ensejou pôr em prática, agora na posição de responsável, a experiência de conduzir os alunos pela aventura da investigação, da definição da questão adequada, da observação, do aprendizado de como obter informações relevantes, de selecionar e de abordar atores sociais apropriados. Algumas experiências foram importantes: O Estágio de Campo III requer uma permanência mais prolongada dos estudantes, o que favorece a escolha de destinos mais distantes. Por duas vezes fomos explorar no Norte de Minas Gerais, a área dos projetos de irrigação da CODEVASF. As possibilidades de articular as decisões de políticas públicas federais, os atores sociais dos sindicatos rurais, os empresários, as cooperativas, a tecnologia necessária, as burocracias das prefeituras e muitos outros aspectos daquele espaço constituíram um aprendizado prático inestimável. Em outra oportunidade, no Estágio de Campo I, que requer saídas de um dia para estudar um aspecto específico, no caso, a relação entre o espaço urbano e a política habitacional selecionei uma visita à Zona Oeste do Rio de Janeiro, espaço ocupado por grandes conjuntos habitacionais construídos pelos institutos de previdência corporativos – IAPC, IAPI etc., conhecido como Moça Bonita, na década de 1950 e, mais especialmente, a Vila Kennedy, construída no início da década de 1960 e que já havia sido meu objeto de investigação há 20 anos. Esta experiência, diante da deterioração dos conjuntos habitacionais me levou a escrever um artigo publicado no Jornal do Brasil: “Moça Bonita e os limites da democracia”, em 2000. Porém, como a exposição na mídia sempre produz mais impacto, o aprofundamento da questão levantada por aquela experiência resultou em artigo sobre a paisagem urbana brasileira e o imaginário nela subentendida e publicada com o título “Paisagem e Turismo. O paradoxo das cidades brasileiras”, no livro Turismo e paisagem, organizado por Eduardo Yázigi, colega da USP. As disciplinas teóricas favoreciam a consolidação do meu interesse pela dimensão política do espaço: A Geografia Política, a Geopolítica, os Tópicos Especiais em Geografia Política e, mais recentemente, a Geografia política das eleições no Brasil tem constituído momentos de selecionar leituras e orientar debates fortemente articulados ao meu campo de pesquisa. A Geopolítica, que tive oportunidade de ministrar por curto período, é importante por resgatar a dimensão clássica da disciplina e o papel das estratégias de disputas entre os Estados nacionais. A escala privilegiada para sua análise é a global. Seu conteúdo é tema cada vez mais importante nos cursos de relações internacionais, revalorizados num mundo globalizado onde não apenas os Estados Maiores, mas também as empresas necessitam definir estratégias para uma competição ampliada. Por opção passei ao largo da “geopolítica crítica”, hoje sob intenso debate e crítica. Tópicos Especiais em Geografia Política é uma disciplina eletiva que possui conteúdo variado, definido pelo professor responsável no período em que é oferecida. Nas oportunidades de oferecê-la, optei por discutir a territorialidade do Estado brasileiro através do levantamento e análise da distribuição regional da burocracia federal: tipos de órgãos, cargos, funcionários. Trabalhos foram realizados pelos alunos e alguns decidiram aprofundá-los e transformá-los em monografia. Mais recentemente, foi criada a disciplina eletiva Geografia política das eleições no Brasil, que tem despertado grande interesse dos estudantes, tanto pelo tema sempre polêmico das eleições como pela possibilidade de fazer uma verdadeira geografia eleitoral, com mapeamentos e análises dos resultados. Este tem sido tema de monografias e já foi objeto de uma dissertação e de outra em andamento, além de uma tese de doutorado sobre a territorialidade da representação parlamentar. A geografia política, finalmente, firmou-se como o centro em torno do qual tenho desenvolvido minhas reflexões, meus projetos de pesquisa, minhas orientações. No entanto, algumas dificuldades foram imediatamente percebidas no momento de definir um conteúdo atual e compreensível para os alunos do curso de graduação e para obter material de leitura adequado e em português. Alguns livros importantes e traduzidos foram em algum momento utilizados: Geografía política de André-Louis Sanguin (em espanhol), A geografia serve, antes de tudo, para fazer a guerra, de Yves Lacoste, Geografia e poder, de Paul Claval, Por uma geografia do poder de Claude Raffestin, Geopolítica e geografia política, de Wanderley Messias da Costa, além de outros livros importantes. No entanto, nenhuma dessas leituras esgotava aquilo que eu considerava de inovador na geografia política, ou seja, a recuperação do recorte nacional como um espaço político por excelência no qual instituições fazem a mediação com os interesses conflitantes da sociedade. Esta direção pode ser encontrada especialmente em geógrafos franceses como Jacques Lévy e Michel Bussi ou de alguns anglo saxões como Graham Smith, John Agnew, Clive Barnet, Murray Law ou John O’Loughlin. Além desses, toda uma gama ampla e variada de artigos na revista Political Geography, acessível no Portal Capes, mas em inglês. Esses autores menos “clássicos” têm sido importantes por contribuir para uma nova agenda da geografia política que resgata alguns temas clássicos da disciplina, como a geografia eleitoral, criada por Siegfried, mas abandonada pela geografia e utilizada pela ciência política, ou mesmo as questões colocadas por Gottmann em seu The significance of territory, menos conhecido do que o La politique des États et leur géographie. Como era difícil estabelecer uma grade de leitura satisfatória e ao alcance dos alunos para evitar o hábito de tirar xerox de capítulos ou páginas avulsas, fui progressivamente preparando um material didático que acabou resultando no livro Geografia e política. Territórios, escalas de ação e instituições, editado pela Bertrand Brasil em 2005 e hoje em 7ª edição. Este livro constitui o produto de uma etapa madura do meu desenvolvimento intelectual e profissional que me permitiu elaborar um quase manual para os estudantes e interessados na geografia política. Digo quase por que não se trata do conteúdo que seria necessário para abranger todos os temas da disciplina, mas que reflete a direção e as escolhas que tenho feito. Neste sentido, o livro tem atendido a uma agenda da geografia política que abrange problemas conceituais da disciplina, suas escalas mais significativas e questões sobre uma geografia política brasileira. Alguns temas como federalismo, geografia eleitoral, cidadania e democracia tem sido aprofundado em teses de mestrado e doutorado. Os dois últimos tem sido objeto de minhas inquietações mais recentes, que compartilho com os estudantes. É importante uma rápida menção à implantação do Curso Noturno de Geografia, objeto de grande debate no departamento, em meados da década de 90. Fui defensora do curso desde o seu início e só lamento o isolamento desses alunos e as poucas oportunidades que o espaço do IGEO lhes oferecia naquele momento. Como eram ainda poucos cursos, o horário noturno não favorecia para que eles usufruíssem da efervescência e da diversidade próprias da experiência de um curso superior. O convívio com esses alunos, mais maduros e com um cotidiano muito mais duro do que aquele dos jovens do curso diurno mostra como o ensino é acima de tudo um compromisso social. Felizmente este ambiente de isolamento mudou. Há muito mais alunos e interação entre eles no período noturno. A proximidade com os estudantes de graduação em geografia permitiu estimulá-los a refletir sobre a importância da política para o cotidiano de cada um, partindo da perspectiva teórica conceitual que existe uma autonomia do político que deve ser compreendida e tomada como suposto nas análises. Nesta perspectiva, o território é visto como uma arena onde conflitos e disputas de interesses afetam e são afetados pela ordem social. As muitas dimensões da política: histórica, econômica, urbana, rural etc. são exemplificadas com os conhecimentos que os estudantes trazem de outras disciplinas. Como não podia deixar de ser, o percurso da geografia política vem desembocando na reflexão sobre os espaços políticos, ou seja, aqueles espaços mobilizados para a ação política, seja o das casas legislativas, aqueles dos conselhos de representação para decisão sobre políticas públicas, seja o das ruas invadidas por passeatas e manifestações. Este é um nicho que já rendeu teses e dissertações e tem se mostrado cada vez mais desafiador intelectualmente. A inserção na pós-graduação se deu a partir de 1991, com a oportunidade de participar do Programa de Pós-Graduação em Geografia, o que representou a fase de amadurecimento profissional e intelectual na geografia. Esta foi a ocasião de definir conteúdos que dariam suporte às pesquisas dos mestrandos e doutorandos, mas também às minhas próprias indagações. Após o retorno da França e dando continuidade à minha bolsa do CNPq, desenvolvi no LAGET – Laboratório de Gestão Territorial entre 1992 e 1994 meu sexto projeto de pesquisa: Natureza e imaginário político-territorial. Antigo e moderno no semi-árido nordestino. A pesquisa realizada identificou a tensão entre os velhos atores políticos regionais e o seu discurso tradicional, alimentado pelos impactos da seca sobre a vulnerabilidade econômica e social do sertão, e o surgimento de novos atores, impulsionadores de novas atividades, sobre as quais um novo imaginário foi progressivamente sendo elaborado. Este processo de mudança possibilitou a inversão do determinismo climático tradicional, dando origem a outro tipo de discurso, elaborado por outro tipo de interesse com suporte justamente nas condições naturais, tradicionalmente vistas como desfavoráveis. As indagações da pesquisa de doutorado tinham se aprofundado e meu objeto de atenção tornou-se a elite empresarial nordestina que se beneficiava com as condições do clima semiárido. Identificá-la, analisar seus discursos sobre as vantagens da pouca chuva e o grande potencial que o clima semiárido representava permitiu aprofundar aquilo que a tese do doutorado já havia demonstrado, ou seja, como a imagem regional é uma elaboração social, jamais espontânea e sempre eivada de interesses. Mas, paralelamente, constatar a atualidade da leitura de La Boétie sobre “O discurso da servidão voluntária”. Neste tema foi defendida em março de 1993 a primeira dissertação de mestrado orientada por mim: “O imaginário oligárquico do programa de irrigação no Nordeste”, de Rejane Cristina Araújo Rodrigues. O tema já dava seus frutos que cresceram e amadureceram ao longo desses anos. O projeto incluía ainda estudantes de graduação (4); de Mestrado acadêmico (3) e de Doutorado (1). Além da pesquisa, o compromisso com as aulas e seminários estava também presente. Como tínhamos liberdade de criar nossas disciplinas de acordo com nossas linhas de pesquisa, propus discutir inicialmente Imaginário político e território e Região e Regionalismo, temas aos quais eu me dedicava. Posteriormente criei mais uma: Território e políticas públicas, adequada aos avanços de minhas questões. Além desse compromisso com as disciplinas do programa, somos chamados também a oferecer os Seminários de Doutorado, disciplina obrigatória a todos os alunos deste nível. O formato do seminário é interessante porque reúne os alunos de todas as áreas de concentração e deve, preferencialmente, estabelecer debates e discussões em torno de temas e questões metodológicos da geografia em particular ou da ciência em geral. Nos últimos anos tenho focado o debate na metodologia da ciência, no debate epistemológico sobre o conhecimento científico e nos formatos possíveis da pesquisa em diferentes áreas científicas. Procuro sempre convidar pesquisadores da geografia e de outras áreas tão diferentes como a física, a antropologia, a ciência política, a economia etc. para apresentar suas pesquisas e seus métodos de investigação. Os debates são acalorados e aprendemos sempre que fazer pesquisa científica não é simples nem fácil, mas que torna cativo todo aquele que nela se inicia. Por isso mesmo, o resultado é sempre surpreendente e os alunos que algumas vezes ficam reticentes quando o programa de leituras e de debates lhes é apresentado, ao fim são devidamente conquistados pela possibilidade de discutir questões do mundo da ciência, aparentemente distante de suas preocupações mais imediatas de tese, mas que contribuem fortemente para o enriquecimento intelectual e ampliação da visão sobre a ciência. Eles reconhecem que suas teses serão mais bem fundamentadas conceitualmente. O caminho natural das aulas, das pesquisas e das orientações foi consolidar a linha de pesquisa “Política e Território” com a criação em 1994 de um grupo de pesquisas, GEOPPOL – Grupo de Pesquisas sobre Política e Território, registrado no diretório dos grupos de pesquisas do CNPq. O Grupo é vinculado ao PPGG e reúne estudantes de Graduação, Pós-Graduação e Pós-Graduados em Geografia. O GEOPPOL tornou-se um espaço privilegiado de debates dos temas das pesquisas dos profissionais e estudantes, bem como de temas de interesse mais amplo da geografia política. É neste fórum de discussão que meus projetos de pesquisa têm se desenvolvido desde então, com a participação de bolsistas de Iniciação Científica, mestrandos e doutorandos. Já com uma bagagem de seis projetos de pesquisas que resultaram em publicações e elaboração de monografias e na primeira dissertação de mestrado orientada, mudo a cronologia para adequá-la aos tempos mais maduros de coordenação do GEOPPOL. A seguir indico os projetos de pesquisa e a importância que tiveram na produção acadêmica e formação de recursos humanos. 1994 – 1996: Natureza e imaginário político. A fruticultura irrigada e o novo imaginário do sertão. Neste projeto foram analisadas as mudanças no discurso político decorrentes do desenvolvimento da fruticultura irrigada no semi-árido nordestino. Esta atividade propiciou o surgimento de novos interesses, comandados pelos novos atores econômicos a ela vinculados. Pelas especificidades e exigências desta atividade, o discurso regional dela decorrente demonstrou ser um contraponto importante àquele tradicional, fortemente marcado pela miséria e pela seca. Novas ações têm sido projetadas como decorrência da expansão dessas novas atividades e de seus atores mais importantes. Participaram do projeto: dois estudantes de Graduação, três de Mestrado e três de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES. 1998 – 1999: Geografia, gestão do território e desenvolvimento sustentável. O projeto teve como objetivo consolidar uma linha interdisciplinar de pesquisas no âmbito do PPGG/UFRJ em colaboração com o Centre de Recherche et Documentation sur l'Amérique Latine - CREDAL da Universidade Paris III, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES, Comission de Cooperation France Brésil-COFECUB, e do CNPq. Participaram do projeto: um estudante de Graduação, um de Mestrado e um de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES. 1998-2001: “Novo imaginário político territorial e os sistemas territoriais de produção no semi-árido brasileiro”. Neste projeto a questão institucional já se insinuava com a incorporação dos sistemas territoriais de produção. Foram feitos levantamento e análise das atividades vinculadas à fruticultura irrigada no semi-árido nordestino, especialmente nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará que podem ser considerados sistemas territoriais de produção. O objetivo da pesquisa era identificar as mudanças que se colocaram em marcha nos territórios onde foram implantadas novas atividades produtivas nas últimas décadas, especialmente aquelas vinculadas à fruticultura. As mudanças mais importantes detectadas ocorreram nas relações de trabalho e na melhoria do nível de mobilização política da sociedade local, identificada pelo aumento de sindicatos e associações.Foram analisadas também as condições de suporte ou de resistência das estruturas institucionais das escalas estaduais. Participaram do projeto: Dois estudantes de Graduação, três de Mestrado e quatro de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES. 2002 – 2004: “Municípios, instituições e território. Possibilidades e limites ao exercício da cidadania no país”. Este projeto constituiu um avanço em relação às questões pesquisadas anteriormente. A questão institucional e o município como um espaço político-institucional por excelência no federalismo brasileiro se consolidaram. O objetivo da pesquisa foi analisar as densidades institucionais nos municípios para compreender o seu papel nos mecanismos de produção e reprodução dos espaços da desigualdade social, no processo de transformações do território e na ampliação da cidadania. Tomando como suposto que a escala local é fortemente afetada pela sua base infra-estrutural, propõe-se comparar e analisar os padrões de distribuição, no território brasileiro, dos indicadores de desenvolvimento humano e social e os recursos institucionais disponíveis para a democracia e o exercício da cidadania, a partir dos padrões de dispersão das estruturas municipais de gestão e suas correlações com indicadores econômicos e sociais. Participaram do projeto: três estudantes de Graduação, um de Mestrado e quatro de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES e do Institut de Recherche Pour Le Developpement Des Pays Du Sud-IRD. 2004 – 2007: “Inovação institucional, cidadania e território no Brasil. O município como problema e a localização como mediação”. A aproximação com as bases institucionais e territoriais da cidadania possibilitou amadurecer a relação entre a política e o território a partir das densidades institucionais necessárias ao seu exercício. Afinal a cidadania é direito, mas é no território que ele é exercido. Neste sentido o objetivo do projeto era de analisar o município como escala do fenômeno político institucional, o qual se materializa na gestão e organização do território, tratando o recorte municipal como objeto de análise na geografia política brasileira. Identificar o papel e os limites das densidades institucionais no processo de transformações do território e nos mecanismos de produção e de reprodução dos espaços da desigualdade social, que afetam as condições de acesso aos direitos sociais inscritos da cidadania. Tomando como suposto que a escala local é fortemente afetada pela sua base infra-estrutural, propõe-se comparar e analisar os padrões de localização, no território brasileiro, dos recursos institucionais disponíveis nos municípios, inserindo no espaço na discussão sobre a cidadania e a democracia no país. Participaram do projeto: quatro estudantes de Graduação, dois de Mestrado, um de Mestrado profissionalizante e três de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES, Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro-FAPERJ e Ministério da Defesa. 2008-2010: “O espaço político local. Problemas e significados da sobre-representação política no município”. Este é o tema com o qual venho trabalhando. A geografia do político se impôs e o sistema de representação política das democracias contemporâneas, que têm sido objeto de amplos debates nas ciências sociais, especialmente na ciência política, vem sendo cada vez mais objeto de atenção na geografia. Este debate tem se dado em torno das vantagens ou dos limites dos sistemas eleitorais adotados para transformar os votos dos eleitores dispersos nos territórios nacionais em representação no legislativo. No Brasil, os problemas atuais decorrentes do sistema eleitoral vigente têm colocado na pauta nacional a questão da possibilidade de implantação do voto distrital. A dimensão territorial do sistema de representação política é evidente e inexplicavelmente a geografia do país se coloca a parte nesse debate. O objeto da investigação é a representação política nos municípios brasileiros menos povoados, tendo em vista o significado dos seus impactos para a sociedade e o território locais. Este será tratado em dois níveis, um geral que se propõe aprofundar a perspectiva teórico-conceitual de uma problemática territorial da representação política, no sentido de ampliar o escopo da geografia política; e outro específico que possibilitará identificar padrões de distribuição do impacto da sobre-representação nos municípios menos povoados no território nacional. Duas questões gerais são aqui propostas. Uma, é até que ponto a natureza da organização do território nacional afeta os desequilíbrios identificados no sistema de representação política, tomando como caso o sistema proporcional adotado no Brasil. A outra, é sobre a relevância, ou não, das escalas políticas locais para pensar a representação e a democracia, a partir das consequências do modelo de representação proporcional adotado nos legislativos municipais brasileiros, tendo em vista o pacto federativo da Constituição de 1988. A fundamentação conceitual apóia-se no problema da dimensão territorial da representação política e na questão da escala e da configuração dos espaços políticos. Participaram do projeto: três estudantes de Graduação, dois de Mestrado, um de Mestrado profissionalizante e três de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES e Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro-FAPERJ. As orientações constituem um capítulo à parte na vida acadêmica. Em cada projeto sumarizado, alunos de graduação e de pós-graduação constituem aquilo que poderíamos chamar de “as esperanças do futuro. Algumas se concretizam de modo mais completo, mas todas foram realizações daquilo que é parte do ofício de professor e pesquisador: a formação de recursos humanos. As orientações de monografia são importantes porque qualificam os alunos para o exercício da profissão, mas também porque ensejam a continuidade na pós-graduação. Fazendo uma contabilidade rápida, verifico que das 15 monografias de graduação que orientei (o número é maior, mas me perdi nos levantamentos), sete continuaram no GEOPPOL e fizeram o mestrado e cinco ingressaram no doutorado dando continuidade ao seu engajamento nos temas de pesquisas do grupo. Destes, quatro hoje são professores em Instituições de prestígio, e já tem suas pesquisas e seus orientandos: destaco Rafael Winter Ribeiro, cuja tese “A invenção da diversidade: construção do Estado e diversificação territorial do Brasil (1889-1930)” aprofundou o problema da relação da natureza e do imaginário na construção de uma visão particular sobre o território. Rafael é hoje meu colega no Departamento de Geografia da UFRJ e Vice-Coordenador do GEOPPOL. Dou destaque aqui ao seu percurso, pois vem orientando monografias de graduação, está credenciado para participar do PPGG e já está orientando sua primeira dissertação de mestrado. Rejane Rodrigues defendeu tese de doutorado sobre a logística do porto de Sepetiba, destacando os conflitos institucionais e políticos nas diferentes fases do projeto do porto. Hoje é professora do curso de Geografia e do Progama de Pós-Graduação da PUC-Rio. Fabiano Magdaleno fez uma tese de doutorado ousada, sobre a territorialidade da representação parlamentar no estado do Rio de Janeiro. Utilizou como material empírico um longo levantamento sobre o destino das emendas parlamentares. Um cientista político foi convidado para a banca de defesa da tese e declarou que após ler seu trabalho ficou convencido de que existe realmente uma “territorialidade da política”! Sua tese já está publicada e ele já tem sido solicitado por políticos para mapear seus votos e suas emendas. Hoje é professor no CEFET-Rio. A mais jovem, Juliana Nunes Rodrigues, cuja tese de doutorado em Lyon co-orientei, ganhou uma bolsa PDJ/CNPQ (Pós-Doutorado Júnior) para atuar sob minha supervisão no GEOPPOL. Estes jovens doutores, que acompanhei desde o curso de graduação e no mestrado, hoje são profissionais competentes e reconhecidos, cada um delimitando seu próprio nicho de atuação. Destaco também o hoje professor da Universidade Federal Fluminense, Nelson Nóbrega Fernandes, que não orientei durante a graduação, mas que orientei no mestrado, com a dissertação “O rapto ideológico do conceito de subúrbio carioca”, em 1996, e no doutorado com “Festa, cultura popular e identidade nacional. As Escolas de Samba no Rio de Janeiro (1928-1949). Nos dois trabalhos, as possibilidades de explorar a política como questão, seja na construção de uma identidade perversa no espaço urbano seja no reforço da identidade nacional a partir de uma manifestação popular Dos sete que continuaram o mestrado, mas não ingressaram no doutorado, destaco dois: Fabio Neves que é professor Assistente na Universidade Estadual do Paraná e faz o doutorado em Curitiba. Nossos vínculos continuam fortes e de vez em quando sou solicitada para discutir um tema ou tirar uma dúvida. Fico feliz em vê-lo amadurecer intelectualmente e profissionalmente. O outro é Danilo Fiani, que fez uma brilhante dissertação de mestrado sobre a territorialidade da IURD (Igreja Universal do Reino de Deus) a partir do mapeamento dos votos dos políticos vinculados a ela no município do Rio de Janeiro. Seu projeto de continuar e ingressar no doutorado foi adiado após sua aprovação em concurso nacional para fazer parte do quadros da ANAC – Agência de Aviação Civil como geógrafo. Ele foi o primeiro colocado e contratado imediatamente. Tem um excelente plano de carreira, mas pensa em voltar para o doutorado. Destaco ainda Savio Raeder Oselieri, que após a monografia fez o mestrado na UFF, mas voltou para o doutorado e paralelamente foi também aprovado em concurso nacional para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Está em Brasilia, mas continua trabalhando a sua tese. Destaco também experiência de orientar a dissertação do estudante angolano Mario Caita Bastos sobre “As escalas institucionais e as bases étnicas na organização do poder e do território de Angola”. Esta foi uma aventura bem particular. Ainda nas orientações de mestrado, Maria Lucia Vilarinhos estudou a relação dos projetos da Universidade do Brasil com os debates e dilemas para a definição do seu local de implantação. A escolha da Ilha do Fundão para a localização do campus trouxe várias conseqüências, entre elas um território que mais separa do que integra a vida acadêmica. Retomando esta linha, porém com perspectiva bem diferente, o mestrando americano Brian Ackerman pesquisa os espaços de integração no campus para o fortalecimento da comunidade cívica para a cidadania, na linha de Robert Putnam, comparando com o campus da Universidade Estadual da Flórida. Outro mestrando, Vinicius Juwer, terminou sua monografia de graduação sobre a territorialidade das milícias e atualmente reforça a linha da Geografia eleitoral, já explorada no GEOPPOL por Danilo Fiani, através da ampliação de seu tema de investigação. Devo acrescentar meus orientandos de doutorado que são professores de universidades federais ou estaduais em estados da Região Nordeste e que vieram ao Rio de Janeiro, com bolsas da CAPES ou do CNPq, motivados pelos temas que eram discutidos no GEOPPOL. Estes profissionais foram impactados pela temática do imaginário nordestino apresentado em minha tese de doutorado e puderam ampliar para seus espaços e questões de interesse aquilo que tinha sido iniciado com a minha pesquisa. O primeiro deles foi José Lacerda Alves Felipe, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cuja tese foi “Memória e imaginário político na (re)invenção do lugar. Os Rosado e o país de Mossoró”, defendida em 2000. Esta tese tem lugar especial, por minha primeira orientação de doutorado e por discutir o imaginário político em um caso tão singular como o da família Rosado Maia, até hoje dominante no cenário político do oeste do Rio Grande do Norte. Em seguida, em 2003, outros defenderam teses: a professora Vera Lúcia Mayrink de Oliveira Mello, professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco, sensibilizada com a questão do imaginário, aplicou-o na tese “A paisagem do rio Capibaribe: um recorte de significados e representações”. O professor da Universidade Federal da Paraíba, Campus de Cajazeiras, Josias de Castro Galvão pesquisou “Água, a redenção para o Nordeste: discursos das elites políticas cearense e paraibana sobre obras hídricas redentoras e as práticas voltadas ao setor hídrico” o imaginário sobre a água como a redenção da Região foi aprofundado nessa tese. Da Bahia vieram dois professores da Universidade Estadual: Antonio Angelo Martins da Fonseca, do Campus de Feira de Santana, que estudou a “Descentralização e estratégias institucionais dos municípios para a capacitação de recursos: um estudo comparativo entre Feira de Santana, Ilhéus e Vitória da Conquista - BA (1997-2003)”. A vertente institucional e a questão do município como um território político-institucional se evidenciava e o território baiano mostrou-se um excelente campo de indagações e de estudos. Do Campus de Vitória da Conquista veio Renato Leone Miranda interessado em investigar e compreender as “Políticas públicas e a territoriralização do desenvolvimento turístico da Bahia: o caso da Chapada Diamantina”. Munido de excelente bagagem intelectual e de longa experiência sobre os conflitos e interesses na ocupação turística da Chapada Diamantina, a tese tem sido uma referência sobre as políticas públicas na área do turismo em Parques Nacionais. Em 2004, foi a vez de Caio Amorim Maciel focar, assim como Vera Mairink já havia feito, o tema do imaginário na perspectiva da geografia cultural. Sua tese “Metonímias Geográficas: imaginação e retórica da paisagem no semi-árido pernambucano” incorporou toda uma vertente teórica da geografia cultural e o problema das representações. Seu trabalho é também uma referência necessária ao tema. No Rio de Janeiro duas orientações de doutorado foram importantes, não apenas pela qualidade dos trabalhos realizados, mas também pelos vínculos institucionais que elas ensejaram para o GEOPPOL. Trata-se de Monica O’Neill, geógrafa do IBGE que desenvolveu um conjunto sofisticado de indicadores para elaborar a tese inovadora na geografia brasileira sobre as densidades institucionais no território nordestino e de Linovaldo Miranda Lemos sobre “O papel das políticas públicas na formação de capital social em municípios novos ricos fluminenses”em 2008. Como acredito que o contato com outras realidades é fundamental na formação da imaginação acadêmica, estimulo todos os meus estudantes a complementar sua formação no exterior. Nem sempre tenho sucesso pois a aventura de sair do país requer superar dificuldades que nem todos tem possibilidade. Mas tive sucesso com cinco: Para a Espanha foram Antonio Angelo M. Fonseca, no Instituto de Xeografia de Santiago de Compostela e Nelson N. Fernandes, em Barcelona; para a França, na Universidade de Pau, foram Caio Amorim Maciel e Rafael Winter Ribeiro. Os quatro foram beneficiados com bolsas sanduíche da CAPES. Juliana Nunes Rodrigues recebeu bolsa para a realização de doutorado pleno na Universidade de Lyon. Concluiu sua tese em quatro anos e teve menção “Très honorable avec félicitations du jury à l’unamité”, o que é cada vez mais raro nas universidades francesas, especialmente para alunos estrangeiros. Sendo levada pelas memórias dessas orientações verifico como cada estudante traz, com suas dúvidas, medos e inquietações, uma perspectiva, ou abordagem, ou dimensão nova para o eixo central da relação entre a política e o território. Usando a bacia semântica de Gilbert Durand como metáfora, o rio da geografia política vai ficando cada vez mais caudaloso com estes novos afluentes representados pelos livros, artigos e orientações que eles vêm produzindo. Mesmo se reconheço que contribui para a formação de cada um, tenho muito a agradecer a meus estudantes. Mas não posso deixar de assinalar que eles representam uma “descendência” intelectual, que tem fincado as bases para uma nova abordagem da geografia política brasileira em que o território nacional tem sido uma escala necessária e a comparação um recurso metodológico importante. Na administração acadêmica participei, no período de 1986-1987 da direção do Instituto de Geociências como Diretora Adjunta de Pós-Graduação e Pesquisa do CCMN/UFRJ quando tive oportunidade de conhecer os meandros da gestão acadêmica. Entre outras atribuições, cabia ao Diretor Adjunto facilitar os meios para que os programas de pós-graduação pudessem cumprir seus objetivos de formação de recursos humanos. Como prerrogativa do cargo eu tinha assento na Congregação do IGEO e no Conselho do CCMN, o que me dava oportunidade de identificar dificuldades dos programas e ajudar a saná-las, mas também, no Conselho do CCMN ser a voz da “minoria” uma vez que numa composição de representantes dos Institutos de Física, de Química e de Matemática, o Instituto de Geociências quase sempre saia perdendo. Os debates e defesa de interesses de cada um desses institutos permitiram uma visão mais ampla dos limites, inclusive financeiros e materiais da instituição. Percebi que argumentar é uma arte e que na democracia os “mais fracos” podem ter voz e até ganhar adesões importantes para decisões favoráveis. Esta foi também uma ocasião importante para reformular o Anuário do Instituto de Geociências, iniciado no início dos anos 1980, do qual me tornei pela primeira vez Editora em 1986. Voltei a assumir esta tarefa em 1992-1995. Este foi um periódico necessário, tanto para divulgação dos trabalhos dos pesquisadores do IGEO e fora dele, mas também um recurso que durante o tempo de sua existência permitiu à Biblioteca Central do CCMN manter a atualização do acervo dos numerosos periódicos nacionais e internacionais que ela disponibilizava. Durante os anos 80 e 90 este era o acervo mais completo e variado de revistas acadêmicas de geografia de alto nível. De agosto de 1992 a dezembro de 1994 fui Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGG. Este foi um momento crucial para implementar o programa de Doutorado que havia sido implantado na gestão anterior. Foi tempo de definir regras de ingresso, de exames de qualificação, disciplinas e de distribuição de bolsas neste tempo ainda muito escassas. Tive outras oportunidades de participar de colegiados da UFRJ. Fui eleita Representante dos Professores Adjuntos no Conselho do IGEO para o período 1989-1992, e em 1992 fui eleita representante dos professores adjuntos do IGEO para participar no Conselho do CCMN. Em agosto 2004 fui eleita para um mandato de três anos (até julho de 2007) como representante dos professores adjuntos do CCMN – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza no CEPEG – Conselho de Ensino e Pesquisa em Pós-Graduação, órgão de deliberação da Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Esta foi uma oportunidade ímpar de ter uma visão de conjunto da UFRJ, seus centros, departamentos, seus conflitos, as disputas de interesses entre as diversas áreas do conhecimento e seus lugares institucionais. O sistema de definição da pauta, debates, encaminhamentos e votações foi um aprendizado prático de como a democracia representativa funciona. Tensões, alianças e votos. Aos perdedores cabe aceitar e continuar debatendo sobre outros temas. Cansativo, mas fascinante. Nos biênios 2007/2008 e 2009/2010 fui Membro da Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação em Geografia, convidada pelo Coordenador do Programa. A participação nesta comissão é a contribuição do meu tempo às questões da gestão do Programa de Pós-Graduação. A experiência acumulada tem me permitido contribuir, sempre que possível com as tarefas mais prementes que cabem ao colegiado do PPGG. No triênio 2009, 2010 e 2011 fui indicada para participar como representante da área do Turismo no Comitê de Assessoramento das Ciências Sociais – CA / SA do CNPq. Esta tem sido uma oportunidade ímpar de desenvolver uma ampla visão da área no país, bem como participar das discussões com todo o Comitê de Assessoramento, inclusive de prestar colaboração, sempre que solicitada, à área de Geografia Humana. As atividades de extensão, devo confessar, tem sido menos prioritárias nas minhas atividades acadêmicas. Na realidade, esta não tem sido uma tradição do nosso departamento, embora este quadro venha mudando progressivamente. Em 2006 participei da atividade “A Escola vai a Universidade”, organizada pela professora Maria do Socorro Diniz com o objetivo de aproximar os professores de geografia do ensino médio com os debates e temas discutidos pelos professores pesquisadores do nosso departamento. Este foi um dia de trabalho para o GEOPPOL, parte da manhã e da tarde, quando as pesquisas em andamento e algumas já concluídas foram apresentadas e debatidas com os numerosos professores que procuraram a atividade. Foi um momento importante de treinamento para os professores e consciência, para nós, do quanto temos a oferecer. Outra atividade em que participei foi oferecida na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste caso foi um Curso de Especialização em Gestão de Políticas Públicas, aberto à comunidade, em Julho de 2006. De março a junho de 2008, ainda no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, participei no curso de Relações Internacionais. Na UNIOESTE – Universidade Estadual do Paraná, Marechal Cândido Rondon, em 17/06/2008, fui convidada a prestar assessoria técnico-científica para a implantação futura do programa de pós-graduação, cuja linha de concentração seria no âmbito da geografia política. Em 07/07/2008 tive oportunidade de debater questões relativas aos acordos e convênios internacionais com os pares da Cátedra Charles Morazé, na Universidade de Brasília. Além da UFRJ inserção nacional e internacional: Projetos – Cursos – Eventos. A inserção internacional iniciou-se com meu estágio pós-doutoral na França. Nesta oportunidade, além das atividades do CEAQ, já abordadas, entre dezembro de 1990 e fevereiro de 1991 pude me aproximar do Centre de Recherche sur le Brésil Contemporain na École de Hautes Études em Sciences Sociales – EHESS, Paris, dirigido pelo Professor Ignacy Sachs. Ainda na EHESS, tive oportunidade de participar das atividades do grupo do sociólogo Jean Prevot. Esta inserção tem tido continuidade seja na condição de pesquisadora em convênios de cooperação internacional, como naqueles financiados pela CAPES, seja em estágios obtidos em outras instituições. Em todos os casos a inserção tem aberto canais de diálogo e cooperação que passam a constituir espaços para a indicação e aceitação de doutorandos em estágio de Bolsa Sanduíche. Entre 1999-1992, participei do acordo CAPES – MINCyT com Elza Laurelli na Argentina, através do LAGET (Laboratório de Gestão Territorial). Em maio e junho de 1994 obtive uma bolsa do Programme Bourse de Recherche Brésil, oferecida pelo governo do Canadá, após ter meu projeto sobre “O discurso regionalista do Québec” indicado em primeiro lugar numa seleção nacional. As atividades incluíam levantamentos e contatos com pesquisadores em Otawa, Montreal e Québec. Entre 1996 e 1997 tive oportunidade de participar do acordo CAPES-COFECUB, com o Institut de Hautes Études de L’Amérique Latine – IHEAL, com Martine Droulers, na França. Em 1998 obtive bolsa da CAPES para um projeto de um semestre de estudos e participação nos seminários e atividades do IEHAL – CREDAL em Paris, em cooperação com Martine Droulers. Em resposta a um edital do IRD – Institut de Recherche pour Le Développement, apresentei um projeto que foi selecionado para dois semestres de atividades de pesquisa, em 2001 e 2002. O trabalho foi desenvolvido na École Normale Superieure do Boulevard Jourdan, em parceria com Philippe Vaniez e Hervé Thérry. Entre 2005 e 2007, também no quadro do acordo CAPES-COFECUB, mas desta vez com o Laboratório SET – Société, Environement et Territoire, na Université de Pau, França, coordenado por Vincent Berdoulay, tive participação nas atividades de pesquisa e nos seminários organizados com os alunos de pós-graduação e com pesquisadores. Todas estas ocasiões representaram oportunidades de dar a conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido no GEOPPOL, bem como debater e avançar questões novas e, principalmente, buscar visibilidade através de publicações conjuntas. Neste sentido, a aproximação com Philippe Vaniez e com Vincent Berdoulay foram particularmente fecundas, seja pela possibilidade de um retorno à quantificação, no caso do primeiro, como a de trabalhar o tema espaço público na perspectiva da política institucional e suas regras e constrangimentos. Devo destacar o curso oferecido em setembro de 1977 na Maestria em Politicas Ambientales e territoriales da Universidade de Buenos Aires, Argentina, como professora convidada, quando foi ministrada a disciplina “Política e território. Discussão sobre as bases regionais da ação estatal”, com créditos para o dilpoma de mestrado na instituição. Cada uma dessas ocasiões, além das atividades específicas a elas vinculadas, propiciou publicações conjuntas ou individuais, participação, em colóquios, simpósios e seminários internacionais, assim como em bancas de defesa de teses de doutorado, todas sempre bem vindas na construção da carreira acadêmica. INSERÇÃO NACIONAL, EVENTOS No Brasil, a demanda para oferecer cursos em diferentes programas de pós-graduação se somaram aos muitos convites para palestras, conferências, participação em mesas redondas, oportunidades de debates e apresentação dos resultados das pesquisas. Devo destacar alguns desses cursos: em 1994 para o curso de Pós-Graduação, Especialização na Universidade do Ceará; em duas ocasiões, 1997 e 1998, para o curso de Especialização em Geografia da Universidade Estadual de Feira de Santana; em 1999 para o curso de mestrado do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília. Foram oferecidos também cursos nos programas de pós-graduação de da Universidade Federal de Sergipe, da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal de Santa Catarina. Em Brasilia, como professora visitante no primeiro semestre de 2005, tive oportunidade de desenvolver o projeto “Território e cidadania nos municípios da Região do Entorno do Distrito Federal” em conjunto com a professora Marília Peluso, nos termos do acordo GEOPPOL/LATER– Laboratório de Análise Territorial do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Mas, voltando um pouco no tempo, devo acrescentar que desde a divulgação de minha tese de doutorado a repercussão, especialmente nos estados da Região Nordeste, propiciou uma série de convites para palestras e debates, na maioria das vezes bastante acalorados sobre o meu trabalho. Destaco o convite da Secretaria de Cultura do Ceará, no projeto “Conversa Afiada” para debater e fazer o lançamento do livro “O mito da necessidade” que havia sido editado no final de 1992. A partir dessa visibilidade, as possibilidades de divulgar meus trabalhos tem sido freqüentes. É claro que se “o mito” foi um marco importante na minha carreira acadêmica e ainda dá frutos – afinal, é lento o processo de mudança do imaginário político, inclusive para boa parte da elite nordestina -, o tempo tem demonstrado que novas questões se impuseram e precisam ser investigadas. Ambas as inserções se consolidaram com as publicações de livros individuais e coletâneas, artigos em anais e periódicos no Brasil, bem como artigos em coletâneas, em periódicos e em anais no exterior. A participação em eventos encontra-se entrelaçada em todas estas oportunidades. Estes são espaços privilegiados de exposição de ideias, críticas e de debates, mas constituem também uma amostra do impacto intelectual das ideias na medida em que somos convidados para conferências e palestras. Devo destacar os debates acalorados em muitas oportunidades quando da exposição de trabalhos cuja referência de fundo era o problema do Estado, da cidadania ou da democracia. Quanto mais esta vertente recebia crítica de alguns dos meus pares, mais eu me convencia da importância de aprofundá-las. Nas participações em eventos no exterior era interessante perceber a curiosidade e o desconhecimento sobre o Brasil. O mapeamento sobre a desigualdade na distribuição dos recursos institucionais da cidadania, assim como a questão da especificidade do federalismo brasileiro e do seu sistema político eram objeto de debate e de perspectivas comparativas. Mas a oportunidade de ouvir a exposição de colegas de outros países ampliava minha visão dos novos eixos da pesquisa na geografia e a sensação confortável de que eu não estava só. Não recupero aqui a lista de eventos de que participei por demasiado longa. Todos, grandes ou pequenos, próximos ou distantes, organizados por alunos ou por professores, no meio acadêmico ou fora dele são importantes por reunir idéias diferentes que se completam ou se enfrentam. Por isso mesmo reafirmo minha convicção de que essas são atividades necessárias à vida acadêmica, são espaços de visibilidade, de críticas, de debates; enfim, do duro escrutínio a que devem ser submetidos todos os trabalhos de pesquisa. 4. PRODUÇÃO ACADÊMICA A procura de uma geografia política mais criativa Esta é a parte das memórias de revisão da minha obra e que pretendo seja também conclusiva. Ao fazer este longo percurso reflito sobre os rumos, os meandros, as influências e os desafios dos meus escritos. Como talvez seja a única geógrafa brasileira com doutorado em ciência política, adquiri alguns vícios, especialmente aquele de olhar a ordem espacial, que afinal nos interessa, pelo viés do conflito de interesses que não se esgota no conflito produtivo, mas pelo viés do conflito distributivo que se encontra no campo da política, o que me levou a incorporar a política como tema para ampliar a agenda da geografia política. Mas não poderia percorrer esta linha do tempo temático sem destacar o trabalho coletivo com meus colegas Paulo Gomes e Roberto Lobato. A discussão dos temas e a escolha dos autores refletiram aquilo que considerávamos propostas avançadas para a agenda da geografia em cada momento. As re-edições dos livros: Conceitos e temas, Questões atuais da reorganização do território e Explorações geográficas sugerem que tínhamos razão. Continuando esta aventura, encontra-se no prelo da editora Bertrand Brasil mais uma obra coletiva: Olhares geográficos. Modos ver e viver o espaço, cujo eixo são as muitas possibilidades conceituais e empíricas de recortar e analisar o nosso objeto. Minha contribuição individual expressa o interesse e resultado do trabalho em cada momento. Na primeira coletânea, o artigo sobre “O problema da escala”, ao que parece veio em boa hora, pois alem de traduzido para o francês e o espanhol tornou-se uma referência no debate sobre a questão na geografia brasileira. Na segunda, “Questões atuais...” foi a oportunidade de sistematizar a pesquisa sobre a fruticultura irrigada no Sertão nordestino e as implicações desta atividade na formação de uma nova elite agrária e um discurso diferente sobre a região estabelecendo os fundamentos de novas imagens da natureza semi-árida. Na terceira, “Explorações...” minha contribuição possibilitou discutir os fundamentos conceituais do problema do imaginário, estabelecer as relações possíveis com a natureza e aplicá-lo como modelo para análise dos regionalismos e das representações no país. Na última, o compromisso dos textos é mais conceitual. Minha contribuição contempla a política sob o ponto de vista do papel normativo dos conflitos de interesses e aquele dos arranjos e estratégias espaciais do fato político subjacentes à noção de espaço político. Nesta perspectiva, o texto é significativo das possibilidades do olhar geográfico para a espacialidade da política, quase sempre ignorada pelos politólogos. Há ainda neste trabalho um diálogo implícito com a noção de espaço público e a tentativa de distinguir os espaços políticos pela tensão fundadora entre força e poder, característica do instituído, que se expressa em diferentes escalas e que estabelece a métrica e a substância desses espaços. “O mito da necessidade...” já foi abordado antes, mas o recupero aqui apenas como referência das etapas do percurso. Seu tema continua atual e objeto de debate entre aqueles que se debruçam sobre o papel nada inocente de uma elite política regional. O outro livro individual, “Geografia e Política...” também abordado antes, encontra-se em segunda edição e tem cumprido seu papel como suporte para a disciplina geografia política, mas tem ido além e tem servido de consulta para pesquisas e para pós-graduação. Ambos os resultados indicam as lacunas e demandas para uma geografia política brasileira que deve, cada vez mais, demonstrar a inescapável espacialidade da política. Retomando o percurso temporal, volto ao universo acadêmico geográfico da dissertação de mestrado que definiu uma tendência de olhar o território e suas diferenças a partir de suas unidades políticas menores que são os municípios, porém muito mais como unidades estatísticas do que como espaços significativos politicamente. Eram tempos de gestão centralizada e o município um espaço para a aplicação de políticas, como aqueles que foram identificados no âmbito da minha experiência no Ministério da Previdência e Assistência Social. Mas os artigos: “Classificação dos municípios das Regiões Metropolitanas segundo níveis de urbanização”, publicado na Revista Brasileira de Geografia em 1978, assim como o “Conjunto habitacional: ampliando a controvérsia sobre a remoção de favelas”, publicado na Revista Dados em 1983 e no mesmo ano em inglês na Revista Geográfica do IPGH marcam uma transição para as questões muito fortes na agenda da geografia urbana brasileira da época, da qual muitos de nós fomos de certo modo signatários. O curso de doutorado me fez abandonar esta última e abriu novas vertentes e novos horizontes com a incorporação de temas da ciência política, de vieses mais teóricos como: “A dinâmica social e os partidos políticos” e "Conflitos coletivos e acomodação democrática” publicado em Debates Sociais em 1984 e 1986 respectivamente, assim como o artigo “O Estado no pensamento liberal clássico. Uma contribuição ao debate político na Geografia” publicado no Anuário do Instituto de Geociências/UFRJ em 1983. Estes eram produtos fortemente influenciados pelas leituras teóricas do doutorado e significativos do esforço de aplicá-las à geografia. Mas como esta nunca deixou de ser o meu ofício, novas leituras tanto teóricas como aplicadas eram imediatamente remetidas às questões espaciais. A escolha do projeto de tese e seu encaminhamento abriu o campo de discussões sobre o regionalismo, que permitiu resgatar o problema da região, o imaginário político e o problema da escala como a medida adequada do fenômeno que se quer analisar. A tese gerou subprodutos que destaco aqui: “Política e território. Evidências da prática regionalista no Brasil” publicada em Dados em 1989 e também “Imaginário político e realidade econômica. O marketing da seca nordestina” publicado em Nova Economia (UFMG) em 1991. Porém, a questão do imaginário regional despertou novas indagações e novas pesquisas, especialmente sobre os novos atores políticos na região que disputam espaços de poder com os atores tradicionais. O campo da irrigação mostrou-se fértil para a construção outro discurso no qual as potencialidades da Região são centrais. Esta nova pesquisa resultou novos escritos: “Escalas e redes de interesses no semi-árido nordestino: velhos e novos discursos, velhos e novos territórios” publicado no Anuário do Instituto de Geociências/UFRJ em 1994. A relação entre o território brasileiro e as representações sobre ele constituem fonte inesgotável de estudos e debates. Neste sentido fui convidada a expandir a discussão do imaginário regional para o problema mais amplo de construção da nacionalidade e o substrato da natureza implicado neste processo. Esta solicitação resultou no artigo “Resposta à maldição. Brasil tropical e viável”, que compõe a Enciclopédia da brasilidade, de 2005. Esta perspectiva permitiu ainda resgatar a riqueza da obra de Jean Gottmann no texto “Identidade versus globalização: a dialética dos conceitos de iconografia e circulação de Jean Gottmann”, Fortaleza, 2005. Nestes debates, o problema da região e do federalismo foram incorporados à agenda com: “Região - lugar político e da política. Representação e território no Brasil”, Cadernos Laget, 1995 e “Solidariedade territorial e representação. Novas questões para o pacto federativo nacional”, Território, 1996. E continuaram nela por mais algum tempo com “A região como problema para Milton Santos”, Barcelona, 2002 e “Regionalismo hoje. Do que se trata no Nordeste” em 2006 Mas percebo também que o problema político e de suas instituições já se insinuava fortemente como eixo importante de investigação, na linha dos institucionalistas e na vertente das densidades institucionais de Ash Amin e Nigel Thrift. Nesta perspectiva foram publicados “Territorialidade das instituições participativas no Brasil. A localização como razão da diferença”, em 2004 e “Territorialidade e institucionalidade das desigualdades sociais no Brasil. Potenciais de ruptura e de conservação da escala local” em 2005. O problema das instituições e sua distribuição no território apontou para a questão da cidadania, que mais que conceito abstrato é uma prática cotidiana que se dá nos espaços de circulação e de convivência. Este eixo conduziu às pesquisas e aos trabalhos: “Instituições e cidadania no território nordestino”, MERCATOR, 2003; “Instituições e territórios. Possibilidades e limites ao exercício da cidadania”, 1999; “Desigualdades regionais, cidadania e representação proporcional no Brasil”, 1997. Também “Instituições e território no Brasil. Algumas possíveis razões das diferenças”, Rio Claro, SP, 2004. Esta vertente foi publicada também na França: “Territorialité des ressources instituionnelles au Brésil. Communes, mobilization et participation“, Paris, 2003 ; “Des dimensions teritoriales et institutionnelles des inegalités sociales au Brésil. Potenciels de rupture et de conservation de l'échelle politique locale“ publicado na coletânea : Territoires en action et dans l'action, Rennes, 2007 e “Resources institutionnelles, territoire et gestion municipale au Brésil“, 2003, Paris. A questão das instituições e da cidadania, longe de se esgotar em sua vertente geográfica, aponta para o problema da democracia que representa o que poderíamos chamar de “l’air du temps” atual. Esta é uma perspectiva que tem se incorporado à agenda geográfica e tem estimulado pesquisadores franceses, bem como anglo-saxões já referenciados em outra parte destas memórias. A geografia política se enriquece, suas múltiplas escalas e o recurso necessário ao método comparativo encontram terreno fértil na temática. Algumas reflexões já foram publicadas: “Morar e votar. A razão da moradia e a produção do espaço político na cidade”, 2005, Fortaleza; “Isonomie et diversité. Le dileme des législatives municipales au Brésil“, 2008, Reims, também “Décentralisation, démocratie et répresentation législative locale au Brésil ", 2007, Rouen. Ainda, "O problema da sobre-representação no legislativo municipal brasileiro", 2007, Bogotá; “O espaço político local como condição de construção (mas também de negação) da democracia”, 2006 e “Do espaço político ao capital social. O problema da sobre-representação legislativa nos municípios pequenos”, 2008. Mas o problema do regionalismo, que aparentemente havia ficado para trás, foi resgatado no I Simpósio Nacional de Geografia Regional, promovido por jovens colegas da UNIFESSPA em 2019, ocorrido em Xinguara no Pará. Foi uma grata surpresa ver o interesse pelo tema e, mesmo tendo resistido no início, retomei e atualizei minhas discussões. Confesso que acabei gostando da tarefa e me dei conta do quanto a realidade é mais resiliente do que nossa interesse em compreendê-la. No segundo SINGER em 2020, virtual, apresentei a versão aprofundada e ampliada das questões contemporâneas do regionalismo. Fiquei orgulhosa, feliz e muito agradecida por ter sido a geógrafa homenageada do evento. Pena que com as restrições da implacável pandemia do COVID 19 não pude estar novamente com meus jovens colegas na icônica região amazônica e poder abraçá-los pessoalmente. As reflexões sobre a democracia como questão para a geografia têm possibilitado também a aproximação com as questões em torno do espaço público, objeto de atenção de outros colegas, Paulo Cesar da Costa Gomes e Vincent Berdoulay, com quem tenho tido oportunidade de debates sempre enriquecedores. Tenho considerado que o aprofundamento teórico se impõe e o problema da passagem do espaço público para o espaço político emerge como fundamento da realidade e da visibilidade da democracia, que por sua vez demarca a dimensão política da ação no espaço, que tende a ser minimizada na geografia cultural. No trabalho “Espaces publics: entre publicité et politique”, 2004, este ponto de vista começou a ser intuído. Também o texto “Imagens públicas da desordem no Rio de Janeiro: uma nova ordem ou o "ridículo de Pascal"?”, de 2008 o problema do político no espaço urbano é argumentado. Questões de ordem teórica e empírica se entrelaçam nesta jornada. O problema do Estado, negado pela prisão conceitual adotada na disciplina, tem sido objeto de teorização e reflexão útil para a geografia e foi esboçado no texto publicado por ocasião do Encontro da ANPEGE de 2009: “O território e o poder autônomo do Estado. Uma discussão a partir da teoria de Michael Mann”. Este é um debate aberto com outras vertentes da geografia política que consideram esta escala sem significado para o mundo atual e privilegiam as escalas locais e globais. Outros trabalhos foram publicados em temáticas que tangenciam meu centro de preocupação como o artigo “Turismo e ética” que me foi solicitado para o Segundo Encontro sobre o turismo na Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. Tentei recusar argumentando que o turismo não era o meu tema de eleição e havia o risco de cair em banalidades. Mas a professora Luzia Neide foi enfática sobre a necessidade de discutir a ética no turismo, pois esta era uma linha em construção e a minha contribuição seria importante. Mergulhei na filosofia e, afinal, gostei de escrever o artigo. Tenho tido informações de que ele tem sido leitura frequente entre os estudantes do turismo na geografia. Também a relação da paisagem com o turismo que faz parte da coletânea organizada pelo professor Eduardo Yázigi da USP teve estória semelhante. Tendo lido meu artigo no Jornal do Brasil sobre a deterioração dos conjuntos habitacionais no Rio de Janeiro foi sugerido que eu o ampliasse para compor a coletânea que ele estava organizando sobre “Turismo e paisagem”. Aqui o mergulho no tema da paisagem foi mais fácil e me deparei com o paradoxo brasileiro: um imaginário que valoriza a natureza como paisagem, importante para o marketing turístico, e ao mesmo tempo permite a deterioração da paisagem urbana. Para não ser completamente injusta admito que haja exceções, mas nossas cidades ganhariam facilmente concursos de feiura. Recentemente, em projeto conjunto com meu ex-aluno e hoje parceiro na coordenação do GEOPPOL Rafael Winter, o tema da dimensão política da paisagem vem sendo trabalhado. Nesta vertente, pesquisamos como as políticas públicas são capazes de produzir paisagens políticas características e o que estas nos dizem. Ou seja, como a geografia pode “ler” estas paisagens. O entrelaçamento da mobilização nos espaços públicos transformando-os em espaços políticos abertos, efêmeros, mas de claras consequências sobre decisões tomadas por gestores ou legisladores tem sido objeto de pesquisas em teses do GEOPPOL. Há enormes possibilidades para a geografia de analisar as grandes mobilizações que têm ocorrido no país e no mundo, interrompidas momentaneamente nesses tempos de pandemia, mas certamente serão retomadas. O modo como os espaços públicos são mobilizados para a política, a paisagem política que emerge destes movimentos e as consequências concretas para o espaço e para a sociedade traz um caudal de indagações que não devem ser ignorados pela geografia política. Teses já foram defendidas, artigos e coletâneas publicadas. Deixo de nomeá-los para não alongar ainda mais este relato, que já está além do razoável. Todo este caudal da minha “bacia temática” tem sido fortemente influenciado pelos debates e polêmicas na geografia e fora dela. Percebo o quanto me coloquei à margem dos paradigmas unívocos dominantes na disciplina, nas últimas décadas, o que me permitiu liberdade para maiores voos teóricos, conceituais e metodológicos para a compreensão da realidade, que afinal é o que interessa. Este percurso vem me conduzindo para o desafio de pensar conceitualmente os espaços da democracia e uma geografia da democracia capaz de recuperar a tradição tanto de filósofos como de historiadores e de geógrafos. Textos, teses e coletâneas já foram publicados sobre as possibilidades de a geografia abordar a democracia numa perspectiva do espaço geográfico. Desde 2016, após minha aposentadoria e minhas atividades no quadro de Professor Voluntário do Departamento de Geografia e do Programa de Pós Graduação tenho continuado a exercer minha liberdade de pensar, um privilégio que a vida acadêmica nos concede num ambiente democrático. Que fique bem claro, uma vez que há entre alunos e até mesmo colegas, pretensamente progressistas que negam que tenhamos uma. Democracias pode ser imperfeitas e é preciso estar sempre atento para melhorá-las, mas é preciso estar atento também para os arautos de uma democracia perfeita, popular, direta nos termos rousseaunianos, ou daqueles mais modernos que propõe democratizar a democracia como ideia da única possibilidade de justiça social e espacial. A essência filosófica dessas vertentes, quando teve possibilidade de ser aplicada conduziu as sociedades à trágicos autoritarismos. Aqui fica lição de Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância e manter-se livre é uma tarefa permanente. Ainda nesse período, criamos no GEOPPOL o blog Observatório de Geografia Política (www.observatoriodegeografiapolitica.com), um espaço na web onde os membros do grupo são instados a escrever textos curtos, em linguagem acessível a um público maior do que aqueles que temos na academia. A ideia é analisar e debater temas contemporâneos a partir do olhar de cada um e dos recursos analíticos que suas pesquisas ajudam a produzir. É um espaço aberto à criatividade dos pesquisadores e estudantes, que já publicaram ótimos textos sobre os temas mais variados. E como a realidade é inesgotável na criação de fatos e eventos a única limitação tem sido ainda a falta de hábito dos nossos estudantes e colegas de se deixarem levar. Finalizando estas anotações, da mesma forma que na minha temática de doutorado exorcizei o fantasma da região que rondava a geografia, com a democracia como questão geográfica espero poder exorcizar o fantasma dos autoritarismos que rondaram minha trajetória, desde aquele que caçou bons anos da minha cidadania na juventude, intimidando e limitando minhas opções de leituras e escolhas de debates, até aquele da imposição na geografia de uma vertente conceitual unívoca que rondou minha trajetória profissional. Da mesma forma que a região continua um objeto de investigação interessante, também a democracia e a ordem institucional que ela instaura e os espaços que ela mobiliza na sociedade brasileira, que por tantos anos foi capaz de viver sem ela é uma dívida para com as novas gerações. Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2021 HELENA COPETTI CALLAI HELENA COPETTI CALLAI Nasci em Ijuí- RS em 13 de agosto de 1947, numa família de descendentes de imigrantes italianos, tanto de parte de pai como de mãe. A família do pai Antonio Cirilo Copetti tem origem na Itália, de Gemona del Friuli (província de Udine) e de Castello di Godego (Treviso). E, no Brasil e instalaram no Rio Grande do Sul no Núcleo Norte, hoje Ivorá, que pertencia à denominada 4ª Colonia- Silveira Martins. A família da mãe Nahyr Strapazon são originários de Arsié, uma pequena comuna da Província de Belluno e no Brasil se instalaram inicialmente no Rio Grande do Sul em Caxias do Sul, na 4ª Légua. Essas questões são interessantes na minha história familiar, pois foi sempre tema recorrente nas nossas conversas. E são importantes de registro, pois indicam a organização e produção do espaço no Rio Grande do Sul, que ocupado pelos imigrantes demarcam características que até hoje são significativas para entender a sociedade gaúcha. E neste contexto as nossas histórias. As terras antes ocupadas por nativos, caboclos, indígenas ao acolherem os imigrantes passam a ideia, que persiste, de que somos todos, um povo de descendentes de europeus, o quem tem sido marcante nos aspectos culturais, econômicos e sociais. A área que acolhe esses imigrantes denominados de Colônias Velhas se caracterizava pela pequena propriedade agrícola, que logo esgota as possibilidades de subsistência familiar e passa a ocorrer à migração que vai ocupar outras áreas, num movimento que Jean Roche em seus estudos e obras publicadas, denomina de enxamagem. É neste processo que se cria aquele que foi o município de Ijuí, constituindo-se inicialmente como um projeto de Colonização Oficial, que por iniciativa do Governo Provincial (1980) instala as famílias em terras públicas divididas em lotes rurais. São as “Colônias Novas”, que acolhem os descendentes dos primeiros imigrantes que chegaram ao RS, bem como outros que diretamente da Europa a este lugar se dirigiam. É interessante destacar este contexto, até porque este tema é conteúdo da Geografia, e mostra as origens das nossas histórias. Somos, cada um de nós, marcados pelos espaços e tempos de nossas histórias familiares. A colonização de Ijuí foi diferenciada em relação a outras que aconteciam no mesmo período, seja pela sua estrutura espacial, seja por acolher imigrantes de natureza multiétnica: italianos, alemães, poloneses, suecos, austríacos, espanhóis, russos, que se somaram aos antigos moradores: posseiros, lusos brasileiros, ex-escravos, os caboclos. A Colônia de Ijuí foi organizada em lotes rurais simétricos com 250 metros de frente por mil (1.000) metros de fundo, organizadas em “Linhas” num perfeito traçado ortogonal. De forma assemelhada o Núcleo Urbano é organizado em quadriculas de 100x100 metros divididas em lotes urbanos. A perspectiva do planejamento de viés positivista, tão presente no ideário político que animava o Regime Republicano nascente, manifestava a crença otimista, e diríamos hoje discutível e talvez equivocada, de que a natureza poderia ser submetida à racionalidade logica de um projeto autônomo em relação a ela. Ocupada pelos que imigrantes estrangeiros e pelos que migravam internamente no Brasil- das Colônias velhas para as Colônias novas, essa política de ocupação do espaço logo se esgota e nova re- imigração movimenta também os ijuienses de segunda geração que partem em busca de novas terras no extremo oeste catarinense e sudoeste do Paraná nas décadas de 1940 e 1950. Mais tarde o êxodo rural se intensifica por força dos processos de modernização agrícola, partem em direção as cidades e parte em direção ao Centro- oeste e mesmo Amazônia. Essas características demarcam as famílias que tem as singularidades das suas histórias, mas demarca também aquilo que estudamos na Geografia, que é a ocupação e organização do espaço que em suas trajetórias além de ser o lugar ocupado, produz os sentimentos de identidade e pertencimento e dá origem a novas formas de organização social, cultural e econômica. Neste contexto de migração das Colônias Velhas para as Colônias Novas se constitui também a nossa família – Strapazon/Copetti. Somos em 4 irmãs todas formadas no curso de magistério (curso normal) que formava professores para o que atualmente se denomina de Anos Iniciais. Essa foi a orientação, a regra estabelecida na família, pois a minha mãe dizia que nós teríamos que ter uma profissão, para ter independência e formação intelectual para ter o controle das nossas vidas. Neste sentido o curso para ser professora era o ideal. E, nós, após ter essa formação e habilitação nos orientamos ao que fazer de nossa formação e vida profissional, mas antes todas fomos por algum tempo professoras do primário e cada uma continuou seus estudos na universidade a partir de seus interesses. Essa é uma das marcas da nossa mãe que era desde a década de 1950 funcionária pública federal, tendo, portanto sua profissão e identidade não apenas como mulher e esposa, embora as condições econômicas daquele tempo exigiam dela ser também a dona da casa com todas as suas implicações. Eu, a mais velha das 4, professora na universidade, a segunda (Lucia) professora da Educação básica, a terceira (Carmen) médica e a quarta (Elisabeth) jornalista. Como se pode imaginar aquilo que nossa mãe queria de início foi reforçado pelas nossas singularidades e para isso os investimentos intelectuais tiveram que ser reafirmados exatamente pelos interesses de cada uma. Afinal um curso de magistério, não era exatamente o que podia preparar com condições de competir num vestibular concorrido para realizar um curso numa universidade pública. Acredito que aquilo que nossa mãe queria era exatamente que cada uma de nós pudesse ser independente, ser sujeito de sua própria vida. E nós todas conseguimos atender essa intenção e até o fim de sua vida ela dizia que as filhas a enchiam de orgulho, pois eram profissionais e pessoas importantes! O mundo político e cultural estava presente na minha casa desde pequena. Meu pai que estudou apenas no primeiro ano do curso primário aprendeu a ler e soube aproveitar este aprendizado, pois estava sempre lendo livros, jornais, revistas, tudo que aparecia ele lia. Não me esqueço das tantas vezes que nos perguntaram se ele era professor. Mas ele foi sempre um trabalhador braçal, e por muito tempo motorista profissional até se aposentar. Aliás, com a aposentadoria, em um tempo que lhe permitiu viver muitos anos como tal, as leituras foram cada vez mais intensas, e discutia com outros, com os genros e filhas e com nossos amigos pois conhecedor de muitos temas tinha conteúdo para argumentar. A nossa vida foi mais presente e ligada na família de minha mãe, morando praticamente todos juntos nas terras que meu avô e bisavó possuíam como colonos imigrantes, desde que aqui chegaram. Neste contexto a minha avó materna ao mesmo tempo em que tirava leite das vacas, vendia o leite e cuidava das lides dessas atividades era também leitora assídua e conhecia francês, além do italiano que sempre falou - o dialeto “TALIAN”. Com ela e com os outros avós começamos a aprender o italiano. Mas é importante saber que este italiano tinha suas particularidades que, aliás, merece ser referido, pois que é o falar típico de descendentes de italianos que, especialmente no sul do Brasil, é considerado uma variante brasileira do dialeto vêneto. Os imigrantes originários da Itália nas primeiras décadas comunicavam-se em seus próprios dialetos regionais o que por certo representava uma dificuldade. Em razão dos imigrantes vênetos serem a maioria foi seu dialeto que acabou por preponderar, incorporando termos dos outros dialetos e mesmo da língua portuguesa. O Talian diferencia-se da língua italiana e mesmo do dialeto vêneto italiano por ter se desenvolvido em outro contexto cultural. No ano de 2014 o Talian foi reconhecido IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como Referência Cultural Brasileira. Voltando a minha avó materna- a Carmelina, outra marca que nos deixa realmente marcadas é a sua vida muito ligada á política e lembro que quando o Getúlio Vargas se matou ela (e eu bem pequena junto) chorávamos pela perda, juntamente com os vizinhos. Ela era assídua ouvinte da “Voz da Legalidade” e do Brizola em seus muitos discursos e depoimentos na Rádio Farroupilha de Porto Alegre e comentava com nós os assuntos. Minha mãe teve apenas um irmão que foi vereador por várias legislaturas e prefeito da cidade. E nas campanhas políticas lembro-me de nós pequenas junto com ele e seus parceiros do partido distribuindo os “santinhos”. Afinal, a família da minha mãe teve sempre atuação política intensa, o que nos marcou, como é de imaginar. Neste contexto lembro-me de dois fatos referentes a minha escolarização que foram marcantes, e que podem até ter sido fantasiados nos seus detalhes pela criança que eu era, mas que aconteceram realmente. Um deles foi no Primário quando no Grupo Escolar, como da direção do Grêmio estudantil, eu era algo como repensável pela biblioteca, ou pelos livros que a escola tinha para nossas leituras, e que alguém da direção da escola me chamou para avisar que os livros de Monteiro Lobato precisavam ser todos retirados do acesso para leitura. Eles eram perigosos e não podiam ser lidos pelas crianças. Isso resultou em mim, e talvez em vários colegas a curiosidade e a busca de ler assim mesmo sendo proibidos. Mais tarde fui entender os motivos da retirada dos livros, mas não sei por ordem de quem ou com que justificativas eram dadas. Talvez a nós crianças alunas do primário era apenas a ordem, não sei se em algum lugar isso era discutido. O outro fato era referente a onde estudar no ginásio, pois no Grupo Escolar terminava na 5ª série e era preciso fazer a admissão para o ginásio e depois para o secundário. Mesmo com condições familiares econômicas difíceis de pagar mensalidade fomos cada uma a seu tempo estudar no Colégio das Irmãs. Lembro que um amigo da família que era deputado federal em Brasília conversava com nossos pais dizendo da importância de estudar em uma escola confessional para uma boa formação, pois as escolas públicas não eram confiáveis e adequadas. Quer dizer eram perigosas e incentivavam o comunismo. Claro que em uma família católica, descendentes de italianos e com muitos religiosos primos e tios da minha mãe e do meu pai a opção era estudar num colégio católico. Mas a atuação política estudantil sempre marcou os meus caminhos de estudante seja na parte que hoje é o Ensino Fundamental e Médio, seja na universidade, sendo integrante da direção do Grêmio Estudantil e do Centro Acadêmico. Esta fase, alias foi na ditadura e o medo pode ter sido um dos componentes para desenvolver a crítica e a busca do conhecimento para argumentação. Casada com um professor (de História) eu e Jaeme temos 3 filhos, a Andréia, o Tomás, o Sérgio, todos morando longe. Os três estudaram e fizeram seus mestrados e doutorados nas respetivas áreas. Cada um com sua profissão em determinados momentos também atuaram e/ou atuam como professores. É de fato uma marca familiar o ser professor. Dizem eles que a marca de estudar e ter muito material para leitura em casa os envolvia de modo significativo e criou neles o interesse pela educação pela cultura, pela política, pelas artes, pela literatura e pela música. Temos também 4 netas - Isabela, Valentina, Alicia, Olivia. Dos filhos: Andréia (casada com Luiz Fernando) é psicóloga e mora em Chapecó SC, Tomás (casado com Vanessa) é engenheiro eletricista trabalha na Petrobras em Macaé, Sérgio (casado com Bruna) é engenheiro civil e mora atualmente na Itália. A minha vida foi sempre em Ijuí, uma cidade do Rio Grande do Sul, que está próxima da fronteira com Argentina, o que mostrava a mim desde pequena essa relação de fronteira que no caso era caracterizada muito pela realização de contrabando (pneus, combustível, farinha, óleo comestível e vários outros produtos de alimentação e de limpeza). Eram muitas as histórias. Num tempo moramos em Augusto Pestana, onde minha mãe foi ser a agente dos Correios e Telégrafos, uma cidade menor ainda que era parte da antiga colônia de Ijuí. Essa antiga colônia que após processos emancipatórios constitui hoje, além destes (Ijuí e Augusto Pestana) os municípios de Ajuricaba, Bozano e Coronel Barros. Minha infância e juventude assim como a escolaridade foi toda realizada em Ijuí no Grupo Escolar do Bairro Osvaldo Aranha (escola pública estadual) e no Colégio das Irmãs- Sagrado Coração de Jesus (escola particular confessional). Frequentava a Igreja Católica de São Geraldo, onde participava dos grupos de crianças e de jovens. O curso superior foi realizado em Ijuí, antiga Faculdade de Filosofia Ciências e Letras criada pelos frades capuchinos que tinham aqui um seminário de formação para os freis/futuros padres da respectiva ordem religiosa. Além dos cursos de Filosofia e Pedagogia foram criados posteriormente os cursos de Licenciatura Curta em Estudos Sociais, em Ciências, em Letras e os cursos de tecnólogos. Fiz o Curso de Estudos Sociais e posteriormente acompanhando meu marido que fazia um curso de especialização no Rio de Janeiro fiz disciplinas de Geografia na PUC-RJ, para posteriormente fazer Licenciatura Plena em Geografia aqui mesmo. Toda minha juventude é vivida então aqui, no interior do RS, e o que considero importante foi de estudar numa instituição de ensino superior que não se dobrou as regras impostas pela ditadura e inclusive acolheu professores de vários lugares do Brasil e da América Latina. Essas características demarcam a minha vivência e sua espacialidade não em seu espaço absoluto apenas, mas na perspectiva do espaço relativo e relacional, seja pelo convívio com pessoas diferentes, sejam pelas condições políticas que nos motivavam a pensar e agir de modo crítico. Tanto na família como na educação superior. Após ter feito o curso de Estudos Sociais, a licenciatura e o bacharelado em Geografia foram o caminho mais curto para efetivação da minha carreira na universidade como docente e pesquisadora. A geografia aqui estudada e ensinada inclusive na escola básica tem características que saem da estrita especialidade e se conecta com um contexto das Ciências Sociais, de modo especial sempre trabalhando a história e a geografia interligadas. A geografia era marcada pelas suas singularidades, mas sempre se buscava as explicações para as questões estudadas num contexto mais amplo que envolve a sociedade, a política, a cultura. Além das outras áreas - História, Sociologia, Antropologia, Filosofia o olhar para pesquisa e para a extensão se apresentavam como determinantes na formação do geógrafo e do professor de geografia. E a vida no Departamento de Ciências Sociais, com colegas de formação diversificada estimulava as discussões para além da geografia, colocando as questões sempre num patamar de interdisciplinaridade. A partir de minha inserção na universidade como professora se pôs como necessário a realização do mestrado e, posteriormente a formação com doutorado e pós-doc, todos fora de Ijuí. No mestrado fiz seleção em Rio Claro e na USP ambos em São Paulo, e tendo aprovação nas duas instituições a escolha pela USP se objetivou pelo fato de ser um curso mais consolidado, pois eu era bolsista de um programa de capacitação chamado PICD/CAPES - Programa Institucional de Capacitação de Docentes para melhoria da qualificação do corpo docente das instituições de ensino superior. No mestrado estudei questões de formação da Região Noroeste do Estado do RS, que foi o tema objeto da dissertação. Retornando ao trabalho na universidade passei e me questionar se o mais importante não seria estudar e pesquisar acerca do ensino da geografia. Marca essa definição e escolha o fato de eu trabalhar num curso que além de ser presencial tinha também o chamado curso de férias onde a Universidade receba professores que estavam em exercício na escola, vindos de grande parte do RS, e de outros estados. Eram professores pertencentes às famílias que migraram para as áreas de fronteira agrícola, com o excedente populacional das Colônias Novas que estavam saturadas, e que retornam para a região onde estão seus familiares para realizar seus estudos nos períodos das férias. Ingressei no ensino superior na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí no curso de Estudos Sociais, tendo como referência os professores de Geografia Humana, no que eles diziam quando davam aulas, no que a gente lia nos textos específicos e que era o que me interessava. Então a minha escolha foi essa. Na formação superior a gente tinha um ano letivo inteiro com disciplinas de formação geral: Filosofia, Sociologia, História da Educação, Estatística e uma disciplina chamada EPB - Estudo de Problemas Brasileiros, que no contexto daquele momento era obrigatória mas que teve uma marca singular na FAFI, se dedicando a discutir os problemas brasileiros na perspectiva política. Depois deste ano introdutório se entrava, para a formação específica, que na época eram quase todas de licenciatura curta. Já trabalhando na FAFI/Fidene, precisava fazer a licenciatura plena para ser professora e nesse processo foram algumas andanças. Por motivos familiares fomos ao Rio de Janeiro e enquanto Jaeme realizava um curso de especialização, eu fiz disciplinas na PUC/RJ onde tive professores que até hoje me lembro, por serem marcantes nos meus entendimentos de geografia. Um deles trabalhava no IBGE e acabei indo fazer um estágio lá. No IBGE eu conheço o professor Nilo Bernardes, que tinha realizado pesquisas e estudos sobre o Rio Grande do Sul. E assim, aprendi a fazer mapa, a fazer pesquisa, a conviver com professores de alto nível, inclusive estrangeiros que ligados à universidade e ao IBGE tinham a pesquisa como procedimento essencial e continuado. Fiz um ano de estudo e de trabalho dentro do IBGE (estágio não remunerado). A partir dessa inserção passei a receber muito material de Geografia e também fiz um curso de formação acadêmica para professor de Geografia no IBGE, com trabalhos de campo e pesquisas. Retorno a Ijuí e faço o curso de Geografia com os olhos voltados para retornar a algum lugar fora de Ijuí, a fim de fazer o mestrado. O meu curso é de licenciatura e bacharelado, mas eu nunca quis trabalhar como geógrafa, porém sempre me desafiei na pesquisa, em ver como aliar o conhecimento dos livros com o conhecimento da vida prática. E, como fazer com que os alunos nos cursos de formação docente e os da escola básica possam sistematizar os aprendizados dos currículos escolares analisando o seu viver e buscando compreender a sociedade da qual fazemos parte. E, por isso mesmo, como a relação natureza – sociedade acontece de modo a criar possibilidades e dificuldades para a nossa vida, e compreendendo que o tipo de relação entre os homens demarca a relação destes com a natureza, por vezes nos esquecendo de que a humanidade também é (parte da) natureza. Com estes olhares parto para o mestrado onde tive a parceria de uma colega professa da Fidene e amiga até hoje, a Dirce Suertegaray que fazia o mestrado em Geografia Física e eu em Geografia Humana na USP - SP. Voltamos para Ijuí cada uma com sua especialidade para dar continuidade ao trabalho no Curso de Geografia, sempre no contexto do Departamento de Ciências Sociais. Mesmo ela se transferindo para outra cidade atuando em universidades públicas fora de Ijuí mantivemos e até hoje temos uma relação de amizade e de parcerias acadêmicas. No tempo da formação em pós-graduação, é muito forte a lembrança do professor Milton Santos que voltava para o Brasil depois de exilado, pois era ele um autor que a gente podia ler na época só comprando seus livros na Argentina. Após seu retorno ao Brasil, à primeira palestra que ele fez na USP, no departamento de Geografia, ele se emocionou, chorou, e aquilo foi marcante para nós que assistimos, principalmente porque líamos seus livros em espanhol, pois suas publicações estavam em francês, inglês e em espanhol. A outra coisa marcante é que nessa época saiu a publicação do Yves Lacoste, “A Geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra”, onde ele discute o papel da geografia no contexto em que vivia considerando que a Geografia dos professores não leva a nada e é interessadamente sem sentido. E nós compramos o livro em xerox, porque ele era pirateado, era outro livro que não era possível de ser comercializado. E para nós foi um alento ler e pensar na geografia que fazíamos que aprendemos na escola e na universidade e que ensinamos na formação dos professores para escola básica. Fui aluna, e tive na banca de qualificação do mestrado o professor Pasquale Petrone, um pesquisador estudioso da Geografia do Brasil e da Geografia do Rio Grande do Sul, que contribuiu muito, acredita que juntamente com o estágio do IBGE, para a realização da minha dissertação (com a orientação do Professor Ariovaldo de Oliveira na USP) que foi um estudo da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, sobre o desenvolvimento da industrialização da agricultura capitalista. Termino o mestrado e volto para Ijuí na universidade como docente no curso de Geografia, trabalhando com a formação de professores que em serviço realizavam o curso de férias que acontecia exatamente nos períodos em que estavam em férias de seu trabalho nas escolas. O curso presencial formava além da licenciatura o bacharel. Neste contexto interessava para além de estudar e pesquisar sobre temas dos conteúdos da geografia, as questões acerca do ensino e da aprendizagem da Geografia para dar conta de contribuir de modo significativo na formação dos professores para escola básica. Comecei a pesquisar e escrever acerca dessas questões e fazer um doutorado nessa linha se apresentava como mais viável do ponto de vista de atender as demandas com as quais eu trabalhava. Ao iniciar o doutorado em Geografia na USP, não tinha linha de pesquisa em ensino. Passei por três orientadores, sendo que o último deles foi o professor Gil Toledo, que marcou muito os meus entendimentos do ensinar e do aprender a geografia. Ele aceitou que eu pesquisasse sobre o ensino da Geografia na linha de pesquisa de Geografia Física, na qual ele estava adscrito. Esse professor tinha uma prática de fazer extensão em Geografia e era reconhecidamente um professor que se preocupava em aliar a pratica aos aprendizados curriculares de modo a que o aluno entenda as coisas do mundo da vida ao estudar geografia. Neste contexto foi desafiador para mim, fazer a tese sobre ensino de geografia, pois que naquele momento pesquisar acerca do ensino não tinha o mesmo significado de pesquisar sobre outros temas específicos da ciência. É importante dizer que isso não era questão da geografia, mas também das demais ciências que são também disciplinas curriculares. As pesquisas sobre o ensino de geografia passaram então a ser a demarcação do meu fazer acadêmico e é neste contexto que passamos a conviver, a Sônia Castellar, a Lana Cavalcanti e eu quando fazíamos o doutorado em Geografia todas as três a USP, pensando, conversando e pesquisando sobre o ensino e escrevendo as nossas teses. A partir daí nos juntamos em um grupo de pesquisa, pois nós três tínhamos a preocupação de pensar sobre o ensino, e assim começou a nossa história, a partir da nossa formação acadêmica no doutorado. Nós três fazendo nossas pesquisas nos aproximamos, e passamos a participar juntas de eventos, a escrever, a pensar algumas coisas que nos interessasse para discutir o ensino da Geografia, a fazer pesquisas conjuntas. Fomos participando de eventos e nos constituímos como um grupo de pesquisa que têm marcas até hoje, e ao longo desse tempo a gente teve algumas pesquisas e publicações juntas. Somos nós três primeiras bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPQ para investigar acerca do ensino. E diria que desse nosso trabalho criamos uma amizade que se tornou além de profissional, familiar e também como um grupo de pesquisa de ensino de Geografia que talvez, tenha características de ser pioneiro como tal, mas que com certeza não era essa nossa preocupação, tínhamos é que provar a importância e valorização de ser pesquisador de ensino de geografia. A realização do pós-doutorado na Espanha na Universidade Autônoma de Madrid teve a supervisão do professor Dr. Clemente Herrero Fabregat oportunidade que tive de encontros com outros pesquisadores europeus sobre as temáticas das minhas pesquisas discutindo questões de formação docente e ensino e pesquisa em Geografia. A relação com o professor Clemente Herrero Frabegat se intensificou com a sua presença sistemática por determinado período junto ao Programa de Pós Graduação em Educação nas Ciências da Unijui. Essa relação acadêmica que abriu outros caminhos se mantém até hoje pois continuamos tendo produção conjuntas e convívio acadêmico e familiar. Como pesquisadora e professora de Geografia atuo no PPGEC - Programa de Pós Graduação em Educação nas Ciências na Unijui onde oriento questões referentes a formação do professor, ao ensino e aprendizagem. Fui também por 5 anos coordenadora deste Programa. Na UFFS- Universidade Federal da Fronteira Sul participo como docente colaboradora no Curso de pós graduação em Geografia- mestrado. Por algum tempo atuei no Programa de pós-graduação em geografia na UFRGS orientando na área de ensino que incialmente acontecia no interior das outras linhas e tendo uma parceria especial e gratificante com os professores Nelson Rego e Dirce Suertegaray desde a instalação do referido mestrado e na sequencia no doutorado. Afora essas questões de formação acadêmica e na atuação em curso superior e em Pós-graduação, na realização e pesquisas há que ser registrado o trabalho de extensão que se caracteriza como a formação continuada. Dentre essas trajetórias considero e destaque o Projeto de Estudos Sociais realizado na Unijuí, ao final da década de 1980 quando nós produzimos um material didático - livros de texto de Geografia e de História da 5ª a 8ª series do EF, um livro de metodologia, escrito por dois professores de História e dois professores de Geografia. E um livro da quarta série que é o estudo do município. Esse trabalho tem uma marca significativa na formação dos professores que passaram pelo curso de geografia (e também de História) da Fidene/Unijui. Teve início com a constituição de um grupo de estudos com os professores da rede estadual de ensino com a parceria de associações dos professores: - Sindicato dos Professores municipais de Ijuí, - Sindicato dos Professores de Ajuricaba, - CPERS- Centro dos professores do Estado do Rio Grande do Sul, e de instituições: -36ª Delegacia de Educação, - Departamento de Ciências Sociais da Fidene/Unijui. Marcados pelo tempo em que vivíamos que era da abertura política pós-golpe e ditadura de 1964, havia anseios de mudança em especial para fazer um ensino que fosse significativo para a vida dos alunos da escola. Foi um tempo de estudo e produção de material didático testado em escolas escolhidas pelo grupo e posteriormente editado para uso nas escolas. Nesse momento se agregaram escolas da rede pública municipal e estadual dos municípios da região da então 36ª Delegacia de educação do Estado do RS e também de escolas particulares. Considero que isso é uma marca da pesquisa de ensino e da pesquisa na e para a sala de aula. A partir dessa atividade que marcou a todos nós professores, de cursos de formação e os da escola básica, outras publicações foram feitas juntamente com professores da rede pública. Destaco o livro “Vamos construir o espaço e a sociedade de Augusto Pestana” obra que foi produzida por nós do Departamento de Ciências Sociais da Unijui juntamente com o pessoal da área pedagógica da Secretaria de Educação, envolvendo a História e a Geografia do município. Foi obra publicada pelo FNDE e com distribuição gratuita a todos os professores da rede pública de Augusto Pestana. O Atlas IJUI-ATLAS ESCOLAR elaborado por docentes do mesmo DCS-UNIJUI com o apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Ijuí e patrocinado pela SESu-MEC destinado aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental. O estudo do município fazia parte do currículo escolar nesta Série e a produção do Atlas foi para atender estes alunos sistematizando informações acerca do município, apresentando orientações didático-metodológicas para realização do estudo. O destaque é que cada aluno matriculado nas escolas da Rede Municipal de Ensino de IJUI recebeu gratuitamente um exemplar para seu uso. Essas atividades que me envolvi em atenção aos professores resultaram em várias publicações que estão disponíveis e reportam a importância que sempre entendemos que nos cabe dar ao trabalho de extensão universitária que está assentado na ideia e na pratica do fazer junto. Esse fazer junto atende aquilo que possa ser demanda dos professores e que resolve no atendimento daquilo que lhes é significativo aliando a prática e a discussão teórica com as elaborações metodológicas que atendem as práticas pedagógicas. Com este mesmo entendimento participei no PNLD como avaliadora de todos os níveis: Anos Iniciais, Ensino Fundamental, e Ensino Médio, em vários momentos e, depois como coordenadora adjunta dessas avaliações. Essa é uma atividade que me permite o conhecimento dos processos de elaboração e de uso do material produzido bem como encaminha a necessária discussão teórica que envolve o ensinar geografia. Além destes livros destinados aos professores e alunos das escolas da educação básica, tive participação na avaliação dos livros produzidos pelos docentes dos Programas de pós-graduação, que faziam parte da avaliação da CAPES, para o Qualis livros. Na Capes também participei integrando as equipes das avaliações dos cursos de pós-graduação em Geografia, outra experiência marcante do fazer pedagógico, da gestão e da produão de conhecimentos. No que tange as Relações internacionais a minha participação é demarcada pelos contatos estabelecidos pelas pesquisas que oportunizam intercâmbios entre os docentes pesquisadores e envolve também alunos dos PPGSS que realizam estágios sanduiche na sua formação em mestrado e doutoramento. São do mesmo modo marcas do trabalho de pesquisa e de orientação na pós-graduação seja participando de eventos, fazendo pesquisas conjuntas, escrevendo e publicando no Brasil e nos países dos colegas com quem temos atuação acadêmica e encaminhando os estágios sanduiches dos mestrandos e doutorandos. São significativas as ligações com a UAM (Madrid), a US (Sevilha), a UL (Lisboa), a UNIBÓ (Bolonha), a Universidade de Santiago de Compostela, na Europa. Na América latina com as Universidades na Argentina, no Chile, na Colômbia, na Venezuela... Neste caso com a criação da REDLADGEO – Rede Latino-americana de Investigadores de Didática de Geografia, que promove colóquios dos pesquisadores a cada dois anos nos diferentes países que constituem essa rede e cria condições para publicação de pesquisas de seus membros, tendo inclusive a edição da revista Anekumene. Tenho realizado ao longo desse tempo várias pesquisas acerca do ensino de geografia e da formação de professores financiadas pelo CNPq e pela FAPERGS. E como pesquisadora do CNPq (bolsista de produtividade em pesquisa) e da FAPERGS PqG (pesquisador gaúcho) realizo trabalhos de investigação com base e sustentação teórica da geografia, estudando em especial o conceito de lugar. E, neste sentido destaco o livro produzido com colegas gaúchos Antonio Carlos Castrogiovanni e Nestor André Nestor Kaercher onde o meu texto “Estudar o lugar para compreender o mundo” demarca a possibilidade de trabalhar o mundo da vida, as questões práticas considerando os conceitos de local e global, de singular e universal. A dedicação a estudar a Geografia nos Anos Inicias do Ensino Fundamental é oportunizada pela necessidade de compreender o que cabe da geografia neste nível de ensino e como são formados os professores dos anos iniciais. Cidade e cidadania é outro tema de destaque nas pesquisas considerando as questões de valores, da ética e da estética na produção uso e vivência da cidade, lugar onde vivem os alunos dos Anos Iniciais, mas também conteúdo dos demais anos do ensino escolarizado. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AUGUSTO PESTANA. Vamos construir a história, o espaço e a sociedade de Augusto Pestana. Augusto Pestana, Ijuí: Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Ciências Sociais UNIJUI. snt AVANCINI, E.G.; CALLAI, H.C.; CALLAI, J.L.; MALDANER, M.B. Área de estudos sociais, metodologia. 2.ed. Ijuí: Liv. UNIJUI Ed., 1986. AVANCINI, E.G.; CALLAI, H.C.; CALLAI, J.L. História e geografia na 8ª série. Ijuí: Liv. UNIJUI, Ed. s.d. AZAMBUJA, B.M. ; CALLAI, H.C.; KOHLER, R. Ijuí, atlas escolar. Ijuí: Ed. UNIJUI, 1994 CALLAI, H.C. (Org.) O ensino de geografia. Ijuí:Liv. UNIJUI Ed., 1986 CALLAI, H.C.; CALLAI, J.L. Fichas metodológicas para o ensino de geografia e história. Ijuí: Ed. UNIJUI, 2006. CALLAI, J.L (Coord.) Estudos sociais na 4ª série (Ijuí). Ijuí: Liv. UNIJUI Ed.,1986. ________ História e geografa na 5ª série. Ijuí: Liv. UNIJUI Ed., ________ História e geografia na 6ª série. 6.ed. Ijuí: Liv. UNIJUI Ed., 1989. ________ História e geografia na 7ª série. 7.ed. Ijuí: Liv. UNIJUI Ed CASTROGIOVANNI, A. C.; CALLAI. H.C.; KAERCHER, N.A. Ensino de Geografia- práticas e textualizações no cotidiano. Porto Alegre. Editora Mediação. 2017 (12ª edição) LACOSTE, y. A geografia: isso serve, em primeiro lugar para fazer a guerra. Campinas: Papirus, 1988.
HELENA COPETTI CALLAI HELENA COPETTI CALLAI Nasci em Ijuí- RS em 13 de agosto de 1947, numa família de descendentes de imigrantes italianos, tanto de parte de pai como de mãe. A família do pai Antonio Cirilo Copetti tem origem na Itália, de Gemona del Friuli (província de Udine) e de Castello di Godego (Treviso). E, no Brasil e instalaram no Rio Grande do Sul no Núcleo Norte, hoje Ivorá, que pertencia à denominada 4ª Colonia- Silveira Martins. A família da mãe Nahyr Strapazon são originários de Arsié, uma pequena comuna da Província de Belluno e no Brasil se instalaram inicialmente no Rio Grande do Sul em Caxias do Sul, na 4ª Légua. Essas questões são interessantes na minha história familiar, pois foi sempre tema recorrente nas nossas conversas. E são importantes de registro, pois indicam a organização e produção do espaço no Rio Grande do Sul, que ocupado pelos imigrantes demarcam características que até hoje são significativas para entender a sociedade gaúcha. E neste contexto as nossas histórias. As terras antes ocupadas por nativos, caboclos, indígenas ao acolherem os imigrantes passam a ideia, que persiste, de que somos todos, um povo de descendentes de europeus, o quem tem sido marcante nos aspectos culturais, econômicos e sociais. A área que acolhe esses imigrantes denominados de Colônias Velhas se caracterizava pela pequena propriedade agrícola, que logo esgota as possibilidades de subsistência familiar e passa a ocorrer à migração que vai ocupar outras áreas, num movimento que Jean Roche em seus estudos e obras publicadas, denomina de enxamagem. É neste processo que se cria aquele que foi o município de Ijuí, constituindo-se inicialmente como um projeto de Colonização Oficial, que por iniciativa do Governo Provincial (1980) instala as famílias em terras públicas divididas em lotes rurais. São as “Colônias Novas”, que acolhem os descendentes dos primeiros imigrantes que chegaram ao RS, bem como outros que diretamente da Europa a este lugar se dirigiam. É interessante destacar este contexto, até porque este tema é conteúdo da Geografia, e mostra as origens das nossas histórias. Somos, cada um de nós, marcados pelos espaços e tempos de nossas histórias familiares. A colonização de Ijuí foi diferenciada em relação a outras que aconteciam no mesmo período, seja pela sua estrutura espacial, seja por acolher imigrantes de natureza multiétnica: italianos, alemães, poloneses, suecos, austríacos, espanhóis, russos, que se somaram aos antigos moradores: posseiros, lusos brasileiros, ex-escravos, os caboclos. A Colônia de Ijuí foi organizada em lotes rurais simétricos com 250 metros de frente por mil (1.000) metros de fundo, organizadas em “Linhas” num perfeito traçado ortogonal. De forma assemelhada o Núcleo Urbano é organizado em quadriculas de 100x100 metros divididas em lotes urbanos. A perspectiva do planejamento de viés positivista, tão presente no ideário político que animava o Regime Republicano nascente, manifestava a crença otimista, e diríamos hoje discutível e talvez equivocada, de que a natureza poderia ser submetida à racionalidade logica de um projeto autônomo em relação a ela. Ocupada pelos que imigrantes estrangeiros e pelos que migravam internamente no Brasil- das Colônias velhas para as Colônias novas, essa política de ocupação do espaço logo se esgota e nova re- imigração movimenta também os ijuienses de segunda geração que partem em busca de novas terras no extremo oeste catarinense e sudoeste do Paraná nas décadas de 1940 e 1950. Mais tarde o êxodo rural se intensifica por força dos processos de modernização agrícola, partem em direção as cidades e parte em direção ao Centro- oeste e mesmo Amazônia. Essas características demarcam as famílias que tem as singularidades das suas histórias, mas demarca também aquilo que estudamos na Geografia, que é a ocupação e organização do espaço que em suas trajetórias além de ser o lugar ocupado, produz os sentimentos de identidade e pertencimento e dá origem a novas formas de organização social, cultural e econômica. Neste contexto de migração das Colônias Velhas para as Colônias Novas se constitui também a nossa família – Strapazon/Copetti. Somos em 4 irmãs todas formadas no curso de magistério (curso normal) que formava professores para o que atualmente se denomina de Anos Iniciais. Essa foi a orientação, a regra estabelecida na família, pois a minha mãe dizia que nós teríamos que ter uma profissão, para ter independência e formação intelectual para ter o controle das nossas vidas. Neste sentido o curso para ser professora era o ideal. E, nós, após ter essa formação e habilitação nos orientamos ao que fazer de nossa formação e vida profissional, mas antes todas fomos por algum tempo professoras do primário e cada uma continuou seus estudos na universidade a partir de seus interesses. Essa é uma das marcas da nossa mãe que era desde a década de 1950 funcionária pública federal, tendo, portanto sua profissão e identidade não apenas como mulher e esposa, embora as condições econômicas daquele tempo exigiam dela ser também a dona da casa com todas as suas implicações. Eu, a mais velha das 4, professora na universidade, a segunda (Lucia) professora da Educação básica, a terceira (Carmen) médica e a quarta (Elisabeth) jornalista. Como se pode imaginar aquilo que nossa mãe queria de início foi reforçado pelas nossas singularidades e para isso os investimentos intelectuais tiveram que ser reafirmados exatamente pelos interesses de cada uma. Afinal um curso de magistério, não era exatamente o que podia preparar com condições de competir num vestibular concorrido para realizar um curso numa universidade pública. Acredito que aquilo que nossa mãe queria era exatamente que cada uma de nós pudesse ser independente, ser sujeito de sua própria vida. E nós todas conseguimos atender essa intenção e até o fim de sua vida ela dizia que as filhas a enchiam de orgulho, pois eram profissionais e pessoas importantes! O mundo político e cultural estava presente na minha casa desde pequena. Meu pai que estudou apenas no primeiro ano do curso primário aprendeu a ler e soube aproveitar este aprendizado, pois estava sempre lendo livros, jornais, revistas, tudo que aparecia ele lia. Não me esqueço das tantas vezes que nos perguntaram se ele era professor. Mas ele foi sempre um trabalhador braçal, e por muito tempo motorista profissional até se aposentar. Aliás, com a aposentadoria, em um tempo que lhe permitiu viver muitos anos como tal, as leituras foram cada vez mais intensas, e discutia com outros, com os genros e filhas e com nossos amigos pois conhecedor de muitos temas tinha conteúdo para argumentar. A nossa vida foi mais presente e ligada na família de minha mãe, morando praticamente todos juntos nas terras que meu avô e bisavó possuíam como colonos imigrantes, desde que aqui chegaram. Neste contexto a minha avó materna ao mesmo tempo em que tirava leite das vacas, vendia o leite e cuidava das lides dessas atividades era também leitora assídua e conhecia francês, além do italiano que sempre falou - o dialeto “TALIAN”. Com ela e com os outros avós começamos a aprender o italiano. Mas é importante saber que este italiano tinha suas particularidades que, aliás, merece ser referido, pois que é o falar típico de descendentes de italianos que, especialmente no sul do Brasil, é considerado uma variante brasileira do dialeto vêneto. Os imigrantes originários da Itália nas primeiras décadas comunicavam-se em seus próprios dialetos regionais o que por certo representava uma dificuldade. Em razão dos imigrantes vênetos serem a maioria foi seu dialeto que acabou por preponderar, incorporando termos dos outros dialetos e mesmo da língua portuguesa. O Talian diferencia-se da língua italiana e mesmo do dialeto vêneto italiano por ter se desenvolvido em outro contexto cultural. No ano de 2014 o Talian foi reconhecido IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como Referência Cultural Brasileira. Voltando a minha avó materna- a Carmelina, outra marca que nos deixa realmente marcadas é a sua vida muito ligada á política e lembro que quando o Getúlio Vargas se matou ela (e eu bem pequena junto) chorávamos pela perda, juntamente com os vizinhos. Ela era assídua ouvinte da “Voz da Legalidade” e do Brizola em seus muitos discursos e depoimentos na Rádio Farroupilha de Porto Alegre e comentava com nós os assuntos. Minha mãe teve apenas um irmão que foi vereador por várias legislaturas e prefeito da cidade. E nas campanhas políticas lembro-me de nós pequenas junto com ele e seus parceiros do partido distribuindo os “santinhos”. Afinal, a família da minha mãe teve sempre atuação política intensa, o que nos marcou, como é de imaginar. Neste contexto lembro-me de dois fatos referentes a minha escolarização que foram marcantes, e que podem até ter sido fantasiados nos seus detalhes pela criança que eu era, mas que aconteceram realmente. Um deles foi no Primário quando no Grupo Escolar, como da direção do Grêmio estudantil, eu era algo como repensável pela biblioteca, ou pelos livros que a escola tinha para nossas leituras, e que alguém da direção da escola me chamou para avisar que os livros de Monteiro Lobato precisavam ser todos retirados do acesso para leitura. Eles eram perigosos e não podiam ser lidos pelas crianças. Isso resultou em mim, e talvez em vários colegas a curiosidade e a busca de ler assim mesmo sendo proibidos. Mais tarde fui entender os motivos da retirada dos livros, mas não sei por ordem de quem ou com que justificativas eram dadas. Talvez a nós crianças alunas do primário era apenas a ordem, não sei se em algum lugar isso era discutido. O outro fato era referente a onde estudar no ginásio, pois no Grupo Escolar terminava na 5ª série e era preciso fazer a admissão para o ginásio e depois para o secundário. Mesmo com condições familiares econômicas difíceis de pagar mensalidade fomos cada uma a seu tempo estudar no Colégio das Irmãs. Lembro que um amigo da família que era deputado federal em Brasília conversava com nossos pais dizendo da importância de estudar em uma escola confessional para uma boa formação, pois as escolas públicas não eram confiáveis e adequadas. Quer dizer eram perigosas e incentivavam o comunismo. Claro que em uma família católica, descendentes de italianos e com muitos religiosos primos e tios da minha mãe e do meu pai a opção era estudar num colégio católico. Mas a atuação política estudantil sempre marcou os meus caminhos de estudante seja na parte que hoje é o Ensino Fundamental e Médio, seja na universidade, sendo integrante da direção do Grêmio Estudantil e do Centro Acadêmico. Esta fase, alias foi na ditadura e o medo pode ter sido um dos componentes para desenvolver a crítica e a busca do conhecimento para argumentação. Casada com um professor (de História) eu e Jaeme temos 3 filhos, a Andréia, o Tomás, o Sérgio, todos morando longe. Os três estudaram e fizeram seus mestrados e doutorados nas respetivas áreas. Cada um com sua profissão em determinados momentos também atuaram e/ou atuam como professores. É de fato uma marca familiar o ser professor. Dizem eles que a marca de estudar e ter muito material para leitura em casa os envolvia de modo significativo e criou neles o interesse pela educação pela cultura, pela política, pelas artes, pela literatura e pela música. Temos também 4 netas - Isabela, Valentina, Alicia, Olivia. Dos filhos: Andréia (casada com Luiz Fernando) é psicóloga e mora em Chapecó SC, Tomás (casado com Vanessa) é engenheiro eletricista trabalha na Petrobras em Macaé, Sérgio (casado com Bruna) é engenheiro civil e mora atualmente na Itália. A minha vida foi sempre em Ijuí, uma cidade do Rio Grande do Sul, que está próxima da fronteira com Argentina, o que mostrava a mim desde pequena essa relação de fronteira que no caso era caracterizada muito pela realização de contrabando (pneus, combustível, farinha, óleo comestível e vários outros produtos de alimentação e de limpeza). Eram muitas as histórias. Num tempo moramos em Augusto Pestana, onde minha mãe foi ser a agente dos Correios e Telégrafos, uma cidade menor ainda que era parte da antiga colônia de Ijuí. Essa antiga colônia que após processos emancipatórios constitui hoje, além destes (Ijuí e Augusto Pestana) os municípios de Ajuricaba, Bozano e Coronel Barros. Minha infância e juventude assim como a escolaridade foi toda realizada em Ijuí no Grupo Escolar do Bairro Osvaldo Aranha (escola pública estadual) e no Colégio das Irmãs- Sagrado Coração de Jesus (escola particular confessional). Frequentava a Igreja Católica de São Geraldo, onde participava dos grupos de crianças e de jovens. O curso superior foi realizado em Ijuí, antiga Faculdade de Filosofia Ciências e Letras criada pelos frades capuchinos que tinham aqui um seminário de formação para os freis/futuros padres da respectiva ordem religiosa. Além dos cursos de Filosofia e Pedagogia foram criados posteriormente os cursos de Licenciatura Curta em Estudos Sociais, em Ciências, em Letras e os cursos de tecnólogos. Fiz o Curso de Estudos Sociais e posteriormente acompanhando meu marido que fazia um curso de especialização no Rio de Janeiro fiz disciplinas de Geografia na PUC-RJ, para posteriormente fazer Licenciatura Plena em Geografia aqui mesmo. Toda minha juventude é vivida então aqui, no interior do RS, e o que considero importante foi de estudar numa instituição de ensino superior que não se dobrou as regras impostas pela ditadura e inclusive acolheu professores de vários lugares do Brasil e da América Latina. Essas características demarcam a minha vivência e sua espacialidade não em seu espaço absoluto apenas, mas na perspectiva do espaço relativo e relacional, seja pelo convívio com pessoas diferentes, sejam pelas condições políticas que nos motivavam a pensar e agir de modo crítico. Tanto na família como na educação superior. Após ter feito o curso de Estudos Sociais, a licenciatura e o bacharelado em Geografia foram o caminho mais curto para efetivação da minha carreira na universidade como docente e pesquisadora. A geografia aqui estudada e ensinada inclusive na escola básica tem características que saem da estrita especialidade e se conecta com um contexto das Ciências Sociais, de modo especial sempre trabalhando a história e a geografia interligadas. A geografia era marcada pelas suas singularidades, mas sempre se buscava as explicações para as questões estudadas num contexto mais amplo que envolve a sociedade, a política, a cultura. Além das outras áreas - História, Sociologia, Antropologia, Filosofia o olhar para pesquisa e para a extensão se apresentavam como determinantes na formação do geógrafo e do professor de geografia. E a vida no Departamento de Ciências Sociais, com colegas de formação diversificada estimulava as discussões para além da geografia, colocando as questões sempre num patamar de interdisciplinaridade. A partir de minha inserção na universidade como professora se pôs como necessário a realização do mestrado e, posteriormente a formação com doutorado e pós-doc, todos fora de Ijuí. No mestrado fiz seleção em Rio Claro e na USP ambos em São Paulo, e tendo aprovação nas duas instituições a escolha pela USP se objetivou pelo fato de ser um curso mais consolidado, pois eu era bolsista de um programa de capacitação chamado PICD/CAPES - Programa Institucional de Capacitação de Docentes para melhoria da qualificação do corpo docente das instituições de ensino superior. No mestrado estudei questões de formação da Região Noroeste do Estado do RS, que foi o tema objeto da dissertação. Retornando ao trabalho na universidade passei e me questionar se o mais importante não seria estudar e pesquisar acerca do ensino da geografia. Marca essa definição e escolha o fato de eu trabalhar num curso que além de ser presencial tinha também o chamado curso de férias onde a Universidade receba professores que estavam em exercício na escola, vindos de grande parte do RS, e de outros estados. Eram professores pertencentes às famílias que migraram para as áreas de fronteira agrícola, com o excedente populacional das Colônias Novas que estavam saturadas, e que retornam para a região onde estão seus familiares para realizar seus estudos nos períodos das férias. Ingressei no ensino superior na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí no curso de Estudos Sociais, tendo como referência os professores de Geografia Humana, no que eles diziam quando davam aulas, no que a gente lia nos textos específicos e que era o que me interessava. Então a minha escolha foi essa. Na formação superior a gente tinha um ano letivo inteiro com disciplinas de formação geral: Filosofia, Sociologia, História da Educação, Estatística e uma disciplina chamada EPB - Estudo de Problemas Brasileiros, que no contexto daquele momento era obrigatória mas que teve uma marca singular na FAFI, se dedicando a discutir os problemas brasileiros na perspectiva política. Depois deste ano introdutório se entrava, para a formação específica, que na época eram quase todas de licenciatura curta. Já trabalhando na FAFI/Fidene, precisava fazer a licenciatura plena para ser professora e nesse processo foram algumas andanças. Por motivos familiares fomos ao Rio de Janeiro e enquanto Jaeme realizava um curso de especialização, eu fiz disciplinas na PUC/RJ onde tive professores que até hoje me lembro, por serem marcantes nos meus entendimentos de geografia. Um deles trabalhava no IBGE e acabei indo fazer um estágio lá. No IBGE eu conheço o professor Nilo Bernardes, que tinha realizado pesquisas e estudos sobre o Rio Grande do Sul. E assim, aprendi a fazer mapa, a fazer pesquisa, a conviver com professores de alto nível, inclusive estrangeiros que ligados à universidade e ao IBGE tinham a pesquisa como procedimento essencial e continuado. Fiz um ano de estudo e de trabalho dentro do IBGE (estágio não remunerado). A partir dessa inserção passei a receber muito material de Geografia e também fiz um curso de formação acadêmica para professor de Geografia no IBGE, com trabalhos de campo e pesquisas. Retorno a Ijuí e faço o curso de Geografia com os olhos voltados para retornar a algum lugar fora de Ijuí, a fim de fazer o mestrado. O meu curso é de licenciatura e bacharelado, mas eu nunca quis trabalhar como geógrafa, porém sempre me desafiei na pesquisa, em ver como aliar o conhecimento dos livros com o conhecimento da vida prática. E, como fazer com que os alunos nos cursos de formação docente e os da escola básica possam sistematizar os aprendizados dos currículos escolares analisando o seu viver e buscando compreender a sociedade da qual fazemos parte. E, por isso mesmo, como a relação natureza – sociedade acontece de modo a criar possibilidades e dificuldades para a nossa vida, e compreendendo que o tipo de relação entre os homens demarca a relação destes com a natureza, por vezes nos esquecendo de que a humanidade também é (parte da) natureza. Com estes olhares parto para o mestrado onde tive a parceria de uma colega professa da Fidene e amiga até hoje, a Dirce Suertegaray que fazia o mestrado em Geografia Física e eu em Geografia Humana na USP - SP. Voltamos para Ijuí cada uma com sua especialidade para dar continuidade ao trabalho no Curso de Geografia, sempre no contexto do Departamento de Ciências Sociais. Mesmo ela se transferindo para outra cidade atuando em universidades públicas fora de Ijuí mantivemos e até hoje temos uma relação de amizade e de parcerias acadêmicas. No tempo da formação em pós-graduação, é muito forte a lembrança do professor Milton Santos que voltava para o Brasil depois de exilado, pois era ele um autor que a gente podia ler na época só comprando seus livros na Argentina. Após seu retorno ao Brasil, à primeira palestra que ele fez na USP, no departamento de Geografia, ele se emocionou, chorou, e aquilo foi marcante para nós que assistimos, principalmente porque líamos seus livros em espanhol, pois suas publicações estavam em francês, inglês e em espanhol. A outra coisa marcante é que nessa época saiu a publicação do Yves Lacoste, “A Geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra”, onde ele discute o papel da geografia no contexto em que vivia considerando que a Geografia dos professores não leva a nada e é interessadamente sem sentido. E nós compramos o livro em xerox, porque ele era pirateado, era outro livro que não era possível de ser comercializado. E para nós foi um alento ler e pensar na geografia que fazíamos que aprendemos na escola e na universidade e que ensinamos na formação dos professores para escola básica. Fui aluna, e tive na banca de qualificação do mestrado o professor Pasquale Petrone, um pesquisador estudioso da Geografia do Brasil e da Geografia do Rio Grande do Sul, que contribuiu muito, acredita que juntamente com o estágio do IBGE, para a realização da minha dissertação (com a orientação do Professor Ariovaldo de Oliveira na USP) que foi um estudo da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, sobre o desenvolvimento da industrialização da agricultura capitalista. Termino o mestrado e volto para Ijuí na universidade como docente no curso de Geografia, trabalhando com a formação de professores que em serviço realizavam o curso de férias que acontecia exatamente nos períodos em que estavam em férias de seu trabalho nas escolas. O curso presencial formava além da licenciatura o bacharel. Neste contexto interessava para além de estudar e pesquisar sobre temas dos conteúdos da geografia, as questões acerca do ensino e da aprendizagem da Geografia para dar conta de contribuir de modo significativo na formação dos professores para escola básica. Comecei a pesquisar e escrever acerca dessas questões e fazer um doutorado nessa linha se apresentava como mais viável do ponto de vista de atender as demandas com as quais eu trabalhava. Ao iniciar o doutorado em Geografia na USP, não tinha linha de pesquisa em ensino. Passei por três orientadores, sendo que o último deles foi o professor Gil Toledo, que marcou muito os meus entendimentos do ensinar e do aprender a geografia. Ele aceitou que eu pesquisasse sobre o ensino da Geografia na linha de pesquisa de Geografia Física, na qual ele estava adscrito. Esse professor tinha uma prática de fazer extensão em Geografia e era reconhecidamente um professor que se preocupava em aliar a pratica aos aprendizados curriculares de modo a que o aluno entenda as coisas do mundo da vida ao estudar geografia. Neste contexto foi desafiador para mim, fazer a tese sobre ensino de geografia, pois que naquele momento pesquisar acerca do ensino não tinha o mesmo significado de pesquisar sobre outros temas específicos da ciência. É importante dizer que isso não era questão da geografia, mas também das demais ciências que são também disciplinas curriculares. As pesquisas sobre o ensino de geografia passaram então a ser a demarcação do meu fazer acadêmico e é neste contexto que passamos a conviver, a Sônia Castellar, a Lana Cavalcanti e eu quando fazíamos o doutorado em Geografia todas as três a USP, pensando, conversando e pesquisando sobre o ensino e escrevendo as nossas teses. A partir daí nos juntamos em um grupo de pesquisa, pois nós três tínhamos a preocupação de pensar sobre o ensino, e assim começou a nossa história, a partir da nossa formação acadêmica no doutorado. Nós três fazendo nossas pesquisas nos aproximamos, e passamos a participar juntas de eventos, a escrever, a pensar algumas coisas que nos interessasse para discutir o ensino da Geografia, a fazer pesquisas conjuntas. Fomos participando de eventos e nos constituímos como um grupo de pesquisa que têm marcas até hoje, e ao longo desse tempo a gente teve algumas pesquisas e publicações juntas. Somos nós três primeiras bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPQ para investigar acerca do ensino. E diria que desse nosso trabalho criamos uma amizade que se tornou além de profissional, familiar e também como um grupo de pesquisa de ensino de Geografia que talvez, tenha características de ser pioneiro como tal, mas que com certeza não era essa nossa preocupação, tínhamos é que provar a importância e valorização de ser pesquisador de ensino de geografia. A realização do pós-doutorado na Espanha na Universidade Autônoma de Madrid teve a supervisão do professor Dr. Clemente Herrero Fabregat oportunidade que tive de encontros com outros pesquisadores europeus sobre as temáticas das minhas pesquisas discutindo questões de formação docente e ensino e pesquisa em Geografia. A relação com o professor Clemente Herrero Frabegat se intensificou com a sua presença sistemática por determinado período junto ao Programa de Pós Graduação em Educação nas Ciências da Unijui. Essa relação acadêmica que abriu outros caminhos se mantém até hoje pois continuamos tendo produção conjuntas e convívio acadêmico e familiar. Como pesquisadora e professora de Geografia atuo no PPGEC - Programa de Pós Graduação em Educação nas Ciências na Unijui onde oriento questões referentes a formação do professor, ao ensino e aprendizagem. Fui também por 5 anos coordenadora deste Programa. Na UFFS- Universidade Federal da Fronteira Sul participo como docente colaboradora no Curso de pós graduação em Geografia- mestrado. Por algum tempo atuei no Programa de pós-graduação em geografia na UFRGS orientando na área de ensino que incialmente acontecia no interior das outras linhas e tendo uma parceria especial e gratificante com os professores Nelson Rego e Dirce Suertegaray desde a instalação do referido mestrado e na sequencia no doutorado. Afora essas questões de formação acadêmica e na atuação em curso superior e em Pós-graduação, na realização e pesquisas há que ser registrado o trabalho de extensão que se caracteriza como a formação continuada. Dentre essas trajetórias considero e destaque o Projeto de Estudos Sociais realizado na Unijuí, ao final da década de 1980 quando nós produzimos um material didático - livros de texto de Geografia e de História da 5ª a 8ª series do EF, um livro de metodologia, escrito por dois professores de História e dois professores de Geografia. E um livro da quarta série que é o estudo do município. Esse trabalho tem uma marca significativa na formação dos professores que passaram pelo curso de geografia (e também de História) da Fidene/Unijui. Teve início com a constituição de um grupo de estudos com os professores da rede estadual de ensino com a parceria de associações dos professores: - Sindicato dos Professores municipais de Ijuí, - Sindicato dos Professores de Ajuricaba, - CPERS- Centro dos professores do Estado do Rio Grande do Sul, e de instituições: -36ª Delegacia de Educação, - Departamento de Ciências Sociais da Fidene/Unijui. Marcados pelo tempo em que vivíamos que era da abertura política pós-golpe e ditadura de 1964, havia anseios de mudança em especial para fazer um ensino que fosse significativo para a vida dos alunos da escola. Foi um tempo de estudo e produção de material didático testado em escolas escolhidas pelo grupo e posteriormente editado para uso nas escolas. Nesse momento se agregaram escolas da rede pública municipal e estadual dos municípios da região da então 36ª Delegacia de educação do Estado do RS e também de escolas particulares. Considero que isso é uma marca da pesquisa de ensino e da pesquisa na e para a sala de aula. A partir dessa atividade que marcou a todos nós professores, de cursos de formação e os da escola básica, outras publicações foram feitas juntamente com professores da rede pública. Destaco o livro “Vamos construir o espaço e a sociedade de Augusto Pestana” obra que foi produzida por nós do Departamento de Ciências Sociais da Unijui juntamente com o pessoal da área pedagógica da Secretaria de Educação, envolvendo a História e a Geografia do município. Foi obra publicada pelo FNDE e com distribuição gratuita a todos os professores da rede pública de Augusto Pestana. O Atlas IJUI-ATLAS ESCOLAR elaborado por docentes do mesmo DCS-UNIJUI com o apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Ijuí e patrocinado pela SESu-MEC destinado aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental. O estudo do município fazia parte do currículo escolar nesta Série e a produção do Atlas foi para atender estes alunos sistematizando informações acerca do município, apresentando orientações didático-metodológicas para realização do estudo. O destaque é que cada aluno matriculado nas escolas da Rede Municipal de Ensino de IJUI recebeu gratuitamente um exemplar para seu uso. Essas atividades que me envolvi em atenção aos professores resultaram em várias publicações que estão disponíveis e reportam a importância que sempre entendemos que nos cabe dar ao trabalho de extensão universitária que está assentado na ideia e na pratica do fazer junto. Esse fazer junto atende aquilo que possa ser demanda dos professores e que resolve no atendimento daquilo que lhes é significativo aliando a prática e a discussão teórica com as elaborações metodológicas que atendem as práticas pedagógicas. Com este mesmo entendimento participei no PNLD como avaliadora de todos os níveis: Anos Iniciais, Ensino Fundamental, e Ensino Médio, em vários momentos e, depois como coordenadora adjunta dessas avaliações. Essa é uma atividade que me permite o conhecimento dos processos de elaboração e de uso do material produzido bem como encaminha a necessária discussão teórica que envolve o ensinar geografia. Além destes livros destinados aos professores e alunos das escolas da educação básica, tive participação na avaliação dos livros produzidos pelos docentes dos Programas de pós-graduação, que faziam parte da avaliação da CAPES, para o Qualis livros. Na Capes também participei integrando as equipes das avaliações dos cursos de pós-graduação em Geografia, outra experiência marcante do fazer pedagógico, da gestão e da produão de conhecimentos. No que tange as Relações internacionais a minha participação é demarcada pelos contatos estabelecidos pelas pesquisas que oportunizam intercâmbios entre os docentes pesquisadores e envolve também alunos dos PPGSS que realizam estágios sanduiche na sua formação em mestrado e doutoramento. São do mesmo modo marcas do trabalho de pesquisa e de orientação na pós-graduação seja participando de eventos, fazendo pesquisas conjuntas, escrevendo e publicando no Brasil e nos países dos colegas com quem temos atuação acadêmica e encaminhando os estágios sanduiches dos mestrandos e doutorandos. São significativas as ligações com a UAM (Madrid), a US (Sevilha), a UL (Lisboa), a UNIBÓ (Bolonha), a Universidade de Santiago de Compostela, na Europa. Na América latina com as Universidades na Argentina, no Chile, na Colômbia, na Venezuela... Neste caso com a criação da REDLADGEO – Rede Latino-americana de Investigadores de Didática de Geografia, que promove colóquios dos pesquisadores a cada dois anos nos diferentes países que constituem essa rede e cria condições para publicação de pesquisas de seus membros, tendo inclusive a edição da revista Anekumene. Tenho realizado ao longo desse tempo várias pesquisas acerca do ensino de geografia e da formação de professores financiadas pelo CNPq e pela FAPERGS. E como pesquisadora do CNPq (bolsista de produtividade em pesquisa) e da FAPERGS PqG (pesquisador gaúcho) realizo trabalhos de investigação com base e sustentação teórica da geografia, estudando em especial o conceito de lugar. E, neste sentido destaco o livro produzido com colegas gaúchos Antonio Carlos Castrogiovanni e Nestor André Nestor Kaercher onde o meu texto “Estudar o lugar para compreender o mundo” demarca a possibilidade de trabalhar o mundo da vida, as questões práticas considerando os conceitos de local e global, de singular e universal. A dedicação a estudar a Geografia nos Anos Inicias do Ensino Fundamental é oportunizada pela necessidade de compreender o que cabe da geografia neste nível de ensino e como são formados os professores dos anos iniciais. Cidade e cidadania é outro tema de destaque nas pesquisas considerando as questões de valores, da ética e da estética na produção uso e vivência da cidade, lugar onde vivem os alunos dos Anos Iniciais, mas também conteúdo dos demais anos do ensino escolarizado. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AUGUSTO PESTANA. Vamos construir a história, o espaço e a sociedade de Augusto Pestana. Augusto Pestana, Ijuí: Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Ciências Sociais UNIJUI. snt AVANCINI, E.G.; CALLAI, H.C.; CALLAI, J.L.; MALDANER, M.B. Área de estudos sociais, metodologia. 2.ed. Ijuí: Liv. UNIJUI Ed., 1986. AVANCINI, E.G.; CALLAI, H.C.; CALLAI, J.L. História e geografia na 8ª série. Ijuí: Liv. UNIJUI, Ed. s.d. AZAMBUJA, B.M. ; CALLAI, H.C.; KOHLER, R. Ijuí, atlas escolar. Ijuí: Ed. UNIJUI, 1994 CALLAI, H.C. (Org.) O ensino de geografia. Ijuí:Liv. UNIJUI Ed., 1986 CALLAI, H.C.; CALLAI, J.L. Fichas metodológicas para o ensino de geografia e história. Ijuí: Ed. UNIJUI, 2006. CALLAI, J.L (Coord.) Estudos sociais na 4ª série (Ijuí). Ijuí: Liv. UNIJUI Ed.,1986. ________ História e geografa na 5ª série. Ijuí: Liv. UNIJUI Ed., ________ História e geografia na 6ª série. 6.ed. Ijuí: Liv. UNIJUI Ed., 1989. ________ História e geografia na 7ª série. 7.ed. Ijuí: Liv. UNIJUI Ed CASTROGIOVANNI, A. C.; CALLAI. H.C.; KAERCHER, N.A. Ensino de Geografia- práticas e textualizações no cotidiano. Porto Alegre. Editora Mediação. 2017 (12ª edição) LACOSTE, y. A geografia: isso serve, em primeiro lugar para fazer a guerra. Campinas: Papirus, 1988. FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA FRANCISCO MENDONÇA – BIOGRAFIA COMENTADA “A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros acho que não se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data.” Guimarães Rosa. Tomo as palavras do João Guimarães Rosa, de sabedoria ímpar, para construir esta biografia comentada. Ainda que tenha tentado conta-la “seguido e alinhavado” (epígrafe), não consegui... Daí, por vezes, o texto é um vaivém danado (!), o que, talvez, não o deixe cair na “rasa importância”. Até porquê, falar de nossa própria história é sempre um desafio enorme! A memória é algo seletivo e involuntário... ao expor detalhes de nossa experiência nos colocamos naquela condição perigosa de esquecer fatos, lugares, momentos e pessoas, e de dar destaque ao que, por motivos diversos, lembramos neste momento e esquecemos em outro. Mas, efetivamente, não é possível retomar toda a trajetória da vida na elaboração de um documento como este... o que apresentamos a seguir é o que foi possível e, neste momento, conseguimos recuperar como parte dessa sala de nossa memória! Nesses duros e extenuantes tempos de acirramento da pandemia da COVID-19 e insanidade profunda no governo do país, o texto a seguir é o que resulta de nossas possibilidades presentes! DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO HISTÓRICO Nasci no dia 3 de outubro de 1960, no domingo da eleição que levou Jânio Quadros à presidência do Brasil, no Hospital dos Ferroviários da cidade de Araguari, Minas Gerais. O Brasil vivia um ensaio de democracia, era o ano da inauguração de Brasília (meses antes do meu nascimento) e num período de otimismo e alegria no país! O legado de Juscelino Kubitschek inspirava os brasileiros a acreditar que o país realmente entrava na modernidade e que tinha um futuro promissor. Sou originário de uma família de pessoas muito simples e humildes; papai era analfabeto, trabalhou em serviços gerais no campo e, na maior parte de sua vida adulta, na Rede Ferroviária Federal; minha mãe tinha o ensino primário completo, era dona de casa e costureira. Sou gêmeo com uma irmã, sendo os últimos filhos de uma família numerosa, fato comum no interior do Brasil até meados do século passado; somávamos nove irmãos, seis homens e três mulheres. Nas proximidades de meu nascimento minha família foi morar na cidade de Anhanguera, a primeira cidadezinha no estado de Goiás para quem sai do Triangulo Mineiro em direção norte. Minha família é tipicamente brasileira, do interior do país, local onde a união das três raças que compõem a miscigenação brasileira encontrou sua mais evidente expressão; meus ascendentes são negros, indígenas e brancos... todos de gênese relativamente desconhecida quanto ao local, donde árvores genealógicas sem raízes conhecidas. Essa genuinidade brasileira é algo que muito me orgulha! Meus pais eram extremamente religiosos, praticantes do cristianismo católico e nunca se envolveram em questões políticas, mesmo tendo vivenciado a ditadura varguista quando jovens, e a ditadura militar após meu nascimento. Vivi uma infância muito feliz em Anhanguera, uma vida muito ligada à natureza, numa casa de uma família numerosa na qual todos trabalhavam de alguma maneira. Aos meninos era atribuída a responsabilidade pela manutenção alimentar da casa, então plantávamos, à meia, arroz, feijão, milho, amendoim, etc; e também trabalhávamos na colheita de algodão, sendo pagos pelo trabalho. Isto desde muito cedo, lembro-me de aos sete anos de idade já trabalhar com meus irmãos na roça, uma parte do dia, na outra frequentava a escola. Aos 11 anos, já na cidade grande, vendendo salgados nos pontos de ônibus ou trabalhando de ajudante em mercearia, ajudava na renda da casa, responsabilidade que aprendíamos desde a tenra idade. Aos 14 anos tive meu primeiro registro de trabalho CLT, 8 horas de trabalho por dia, e passei a estudar à noite, tendo concluído no ano seguinte o ensino de primeiro grau (1975). Me considero um “minerano paranaense”; nasci em Minas Gerais, morei até a juventude em Goiás, de onde saí aos 24 anos para o Paraná, onde vivo. Como a maioria das famílias pobres do mundo rural brasileiro de meados do século passado, ou das cidades pequenas, a minha migrou para a cidade grande, Goiânia, em 1969, e fomos morar numa pequena casa da periferia pobre da cidade. Chegamos em Goiânia no momento em que o homem pisava na lua pela primeira vez, acontecimento que me marcou profundamente (tenho vivas na memória as imagens em preto e branco transmitidas pela televisão), foi algo incrível! Outro fato inesquecível foi a transmissão da Copa do Mundo/1970, no México, quando o país, muito festivo, vivenciava a ditadura militar, que nos obrigava, criança que éramos, a cantar os vários hinos militares em todas as atividades da escola, a ter aulas de Educação Moral e Cívica e OSPB – Organização Social e Política do Brasil, além da obrigatoriedade da Educação Física. O ano de 1972 foi pródigo a este respeito, nele o Brasil comemorava o Sesquicentenário da Independência, toda a cultuação do patriotismo, civismo e militarismo foi exacerbada! Em 1985 fui aprovado em concurso público para professor na Universidade Estadual de Londrina e me mudei para esta cidade; ali reside até janeiro de 1996 e, ao mesmo tempo em que atuava como professor universitário, cursei o mestrado e o doutorado na Universidade de São Paulo. Vencia os 500 quilômetros entre Londrina e São Paulo nas viagens noturnas de ônibus, passava dois ou três dias na capital paulista em aulas, seminários e colóquios, e regressava para ministrar aulas na UEL. No segundo semestre de 1991 fui aprovado em concurso público na Universidade Federal de Santa Catarina, mas não assumi a vaga. Todavia, em 1995 consegui aprovação, em primeiro lugar, no concurso público para professor na Universidade Federal do Paraná, mudei com minha pequena família para Curitiba, e assumi o cargo no início de 1996, onde moro desde então. A escolha da geografia como curso superior foi algo completamente casual! Como tive que trabalhar para me sustentar desde muito cedo, dado a perda dos meus pais ainda criança, e da consequente diáspora familiar, não me restava muito tempo para estudar. Assim, mesmo com as dificuldades cotidianas e o fato de estudar em uma escola de periferia, alimentei o sonho de estudar medicina, que era, de fato, uma tentativa de realizar o desejo de minha mãe. Os últimos anos de vida dela foram marcados por problemas de saúde, embora ela era ainda relativamente jovem (50 anos), sonhava que um filho pudesse ajudá-la a amenizar o sofrimento; este sonho dela recaiu sobre mim, posto que era o único que cultivava o gosto pelos estudos. Assim, meu primeiro vestibular realizado no início de 1979 foi para o curso de medicina; obviamente não passei dentre os 110 primeiros classificados para as vagas disponibilizadas pela UFG; todavia, eu havia tido uma muito boa classificação, o que me levou a tentar seguir algumas disciplinas de maneira livre da universidade, mas não foi possível dar consequência a esse intento. O curso sendo em horário integral nos exigia muito tempo de dedicação aos estudos e eu não tinha como deixar de trabalhar, o que me fez desistir da medicina logo nos primeiros meses; abandonei a universidade e os estudos. Eu já trabalhava na Ford, recebia um salário um pouco melhor que a fase anterior e, devido à frustração com a condição de vida, me entreguei às festas e aventuras da juventude. No segundo semestre de 1979, por muita insistência da irmã mais velha, que desde quando eu era bebê foi a minha segunda-mãe, voltei a estudar e a tentar o ingresso na universidade. Ela tinha concluído o ensino médio e sabia da importância de uma formação no ensino superior, sobretudo tinha a clareza da importância da formação superior para a definição profissional via formação universitária. Me inscrevi no vestibular de 1980 na UFG. Estando na fila e sem saber qual curso escolher, disse a mim mesmo fazer a opção pelo mesmo curso que a pessoa que estava na minha frente na fila fizesse; ao chegar minha vez diante do guichê olhei, de soslaio, para a ficha que estava sendo marcada pelo candidato à frente, ele marcou o curso de geografia! Sem saber ao certo o que fazer decidi cumprir a minha auto promessa e marquei também geografia; fui aprovado no vestibular com uma muito boa classificação que foi motivo de muita alegria, ainda que eu não soubesse nada da possibilidade de atuação profissional. Matriculei-me curso de geografia da UFMG em março de 1980, todavia sem poder frequentar o curso que funcionava no período matutino! Sob o conselho da secretária do departamento de Geografia para não desistir, inscrevi-me em disciplinas ofertadas à noite junto com alunos de outros cursos; naqueles anos os cursos de graduação tinham um primeiro ano de disciplinas comuns. Assim, cursei as disciplinas de língua portuguesa, introdução à filosofia, à sociologia, organização do trabalho intelectual e EPB, que era uma disciplina de época, um resquício da ditadura militar; aquele início de 1980 foi o momento de me apaixonar pelos estudos universitários, pela profundidade que se dava ao conhecimento, especialmente a disciplina de língua e literatura brasileira, ministrada pelo inesquecível professor João Hernandes Ferreira. Ele nos seduziu para a língua e literatura brasileira, nos maravilhou com a leitura de João Guimarães Rosa, de Graciliano Ramos, de Machado de Assis, de Jorge Amado e de tantos outros... foi uma imersão sem volta! Eu, que já vinha de uma paixão pela literatura, através da leitura escolhida à esmo ao longo da adolescência e do inicio da juventude encontrava, na universidade, a possibilidade de dar vazão a um prazer que não podia dividir com os amigos e colegas do mesmo contexto social anterior! As disciplinas do curso de geografia só fui mesmo iniciar no segundo semestre de 1980, e ainda assim só pude cursar duas ou três; tive que matar muitas aulas e também muitas manhãs no trabalho. Como eu trabalhava na inspeção final de carros novos da Ford tinha que fazer os testes de quilometragem inicial e, com a cumplicidade do motorista responsável pelos testes, saltava do veículo próximo à universidade e ia assistir a partes das aulas; boa parte de meus colegas acha que eu era muito rico, pois viam-me saltar de um Galaxie ou de um Landau novinho, com motorista, na frente da sala de aulas!!! Perdi várias aulas de campo, boa parte dos conteúdos das disciplinas e conclui o segundo semestre com notas apenas passáveis... aliás, meu histórico de graduação é medíocre! Durante o ano de 1981 consegui alterar minha função e o horário de trabalho na concessionária Ford; passei a entrar no trabalho às 13h e sair às 19h quando assumi a seção de garantia de peças de automóveis da empresa. Ganhei uma bolsa para cursar inglês num concurso de rádio e fiz o meu primeiro ano de introdução nesta língua, tendo uma aula no início da noite no meio da semana e outra no sábado à tarde. Todavia, por ser o único funcionário, dentre mais de uma centena, que gozava da possibilidade de um horário especial, os conflitos não demoraram a aparecer, pois outros funcionários reclamavam a mesma regalia à direção geral. Colocado contra a parede tive que decidir, no início de 1982, entre o trabalho e os estudos... a esta altura a geografia, a universidade, e o movimento político já haviam me conquistado; deixei o trabalho e arrisquei-me na aventura de levar uma vida sem nenhuma garantia do sustento do cotidiano! Algo que me despertava bastante a atenção era o fato de começar a entender os problemas brasileiros no âmbito da conjuntura política de então. Para um jovem da classe baixa, forjado a lutar diariamente por casa e comida, a dimensão política era algo muito distante e fora dos pensamentos e preocupações do momento; minha vida tinha sido muito marcada por uma forte ligação ao catolicismo e à igreja, por influência de meus pais, especialmente da minha mãe, mas a universidade começou abrir meus olhos, algumas disciplinas me mostravam um outro Brasil, especialmente aquelas da geografia humana, a língua e literatura brasileira e a filosofia da ciência. No plano político, nosso envolvimento com o Centro Acadêmico da Geografia, do qual fiz parte da direção, e da AGB-Seção Goiânia, foi fundamental para alavancar nossa curiosidade e nossa atuação no movimento estudantil; várias de nossas manifestações públicas contra a ditadura e em defesa de mais recursos para a educação, com enterros simbólicos do então Ministro da Educação e passeatas pela cidade, por exemplo, davam vazão à nossa luta inicial por justiça social e democracia no país. O curso de geografia da UFG, naquele início de anos 1980, era um curso padrão, creio que era como a grande parte dos cursos das universidades periféricas do Brasil, ou seja, era um curso muito marcado por um viés de cunho positivista, de uma geografia decorativa e com parte dos professores com débil formação; estes não tinham, em geral, nenhuma perspectiva de desenvolver com seus alunos o senso crítico e a formação da cidadania no país que, naquele momento, estava sob uma forte ditadura militar. Parte de meus professores deixaram muito a desejar ante os olhos de jovens curiosos e interessados na mudança do país; entretanto, e paradoxalmente, tive a ventura de ter encontrado alguns professores que fizeram a diferença em nossa formação. Com esses outros professores pudemos iniciar a militância política, tanto na geografia como na sociedade e foi, sem sombra de dúvidas, com a ajuda deles que o mundo se abriu aos nossos olhos e que pudemos desenvolver uma trajetória ligando a geografia à política, à sociedade, ao meio ambiente e à justiça social. Dentre estes inesquecíveis mestres destaco os professores Horieste Gomes, Valter Casseti, Elza Stacciarini, Clyce Louyse, Tércia Cavalcante, Estela Correa e Maria Helena. O movimento estudantil do qual participávamos foi a porta de entrada para a militância política via PCB – Partido Comunista Brasileiro, ao qual estivemos vinculados por aproximadamente três anos. O movimento “Diretas Já”, um dos mais importantes para o resgate da democracia no Brasil, envolveu-nos de tal maneira que nosso cotidiano se fez com atividades permanentes no seio desta magnífica peça histórica de nosso país. A defesa da justiça social, da liberdade e da democracia e, evidentemente da melhoria da educação, estavam na nossa pauta de luta e, para além desses temas, nós nos vinculamos a uma temática que marcou, desde então, minha carreira, que é a luta em defesa do meio ambiente. Essa pauta teve origem a partir dos grandes debates que nós organizamos na universidade e fora dela, em movimentos em defesa da ecologia, contra o projeto Carajás, contra o projeto Jari, contra a Transamazônica, contra a degradação da Amazônia e do Cerrado, etc. Para nós, jovens militantes e estudantes, ao promover este tipo de desenvolvimento, o governo do país atuava de maneira entreguista e condenava o futuro do país ao atraso e ao caos! Ainda nesse período de graduação devo destacar nossa participação na AGB-Associação Nacional dos Geógrafos Brasileiros - Seção Goiânia, através da qual pude fazer várias viagens, participar de muitas reuniões de gestão coletiva, inúmeros congressos e conhecer melhor a geografia brasileira que, naquele momento, inaugurava o movimento da Geografia Crítica. Conheci e atuei junto a muitos dos importantes geógrafos brasileiros daquele momento, dos quais cito Orlando Valverde, Ariovaldo Umbelino, Rui Moreira, Carlos Walter, José Borzachielo, Milton Santos, Aziz Ab’Saber, Berta Becker, Manuel Correa de Andrade, Antonio Carlos Robert Moraes, e muitos outros. Sob a influência deles pude afirmar minha convicção de ter escolhido um campo do conhecimento de grande relevância social, e que me dava muito prazer ao me revelar a complexidade do mundo no qual estamos imersos. Mudei-me para Londrina em 1985, quando ingressei na Universidade Estadual como professor universitário, e de lá me mudei para Curitiba em janeiro de 1996, cidade onde resido desde então. Em Londrina nasceu Sabina, minha primeira filha e, em Rennes/França, durante o doutorado sanduiche, nasceu Anaiz; em 2011 Liza nasceu em Curitiba e, em 2020 recebemos o Caio... Estes são meus quatro filhos, um presente do universo em minha vida, que muito alegram meus dias junto à Márcia, minha companheira. Os anos vividos em Londrina, em Rennes, em Londres, em Paris e em Curitiba foram todos muito movimentados; embora nunca mais tenha me vinculado a nenhum partido politico sempre militei junto aos partidos de esquerda, e optei por fazer uma militância em defesa da educação e da ciência, especialmente aproveitando o momento da redemocratização e de desenvolvimento que o país passou a vivenciar após a década de 1990. Assumi a liderança de instituições no Brasil e no exterior, na academia e fora dela, como se verá nos detalhes destes últimos trinta anos comentados à frente. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA A GEOGRAFIA BRASILEIRA. Datas e locais de constituição da carreira na geografia. Cursei a graduação em geografia entre os anos de 1980 e 1983, ou seja, nos extertores da ditadura militar no Brasil. Goiânia, localizada a aproximadamente 200 quilômetros de Brasília, era fortemente influenciada pelo contexto da ditadura, pois ela se situação no arco da área de “controle” do governo central. Talvez por isto tenhamos vivido ali certas ações de repressão que certamente já não aconteciam nas demais cidades brasileiras; nossas manifestações estudantis eram muito vigiadas, reprimidas, e estávamos sempre sob a mira dos militares. Durante o curso de graduação em geografia na UFG conclui também uma formação relacionada à filosofia da ciência, tendo como temática central o marxismo histórico e dialético, um curso que funcionava aos sábados e que teve duração de dois anos, ofertado pelo CEFEG - Centro de Estudos Filosóficos e Econômicos de Goiás. Este curso foi fundamental para nosso aprofundamento no conhecimento da história das sociedades e na compreensão da luta de classes como motor da história; foi a base para nossa tomada de consciência mais firme acerca de nossa condição social, bem como da necessária atuação dos movimentos sociais no processo histórico. Iniciei na profissão de professor ao mesmo tempo que realizava o curso de graduação. Nossa primeira experiência foi no ensino fundamental e médio; iniciei na profissão no ano de 1982 em escolas particulares de Goiânia, nos Colégio Galáxia e Colégio Carlos Chagas em 1982, por convite dos amigos Sérgio Camargo e João de Castro, respectivamente e, no Colégio Agostiniano N. Sra. de Fátima, em 1984, por processo seletivo. Em fevereiro de 1985 fui aprovado no concurso para professor substituto no Departamento de Geociências da Universidade estadual de Londrina, onde assumi uma vaga na cadeira de Geografia física e, naquele mesmo ano, em novembro, fui aprovado em primeiro lugar no concurso público para efetivar essa vaga. Em fevereiro de 1986 ingressei no curso de mestrado em Geografia Física da Universidade de São Paulo, e o concluiu em junho de 1990, sob orientação do professor José Bueno Conti; minha dissertação teve por título A evolução socioeconômica do Norte Novíssimo de Paranavaí e os impactos ambientais - Desertificação? Na banca de defesa as professoras Dirce Suertegaray e Ana Maria Marangoni, além do orientador. Para cursar o mestrado, já sendo professor universitário e não gozando de licença para estudos, tive que fazer viagens noturnas semanais entre Londrina e São Paulo, um trecho de aproximadamente 500 quilômetros; viajava nas noites de segundas ou terça-feira assistia aulas e realizava outras atividades, e voltava para o trabalho na noite seguinte. Neste período fui contemplado com uma bolsa de estudos do CNPQ para realizar um estágio na Universidade da alta Bretanha, em Rennes/França, sob orientação do professor Robert Barriou; o estágio tinha por tema a aplicação de imagens de satélite aos estudos da Geografia. Nesta estada na França aprendemos a língua francesa e pudemos manter uma rica interlocução com o professor Jean Dresch, aposentado da Université Sorbonne, de Paris; a contribuição dele foi fundamental para desenvolver minha dissertação, e nossas reuniões aconteciam na casa dele num bairro próximo ao Cartier Latin, onde eu era sempre muito bem recebido. Em 1991 fomos admitidos para realizar o curso de doutorado, também sob orientação do professor José Bueno Conti (5), na USP (2), agora sobre o tema clima e planejamento urbano. Defendi, em maio de 1995, uma tese que versava sobre a abordagem conceitual, teórica e metodológica do tema, avançando em novas abordagens, ao mesmo tempo que as exercitando no estudo de caso de uma cidade de porte médio, a cidade de Londrina/PR. Durante a realização do doutorado voltamos à França, a convite dos colegas do laboratório COSTEL – Climat et Occupation du Sol par Teledetection - na equipe do professor Barriou e, desta feita tivemos também a orientação do professor Jean Mounier, um renomado geógrafo da climatologia e que era reitor da Université Rennes II. A tese teve por título Clima e planejamento urbano de cidades de porte médio e pequeno: Proposição metodológica e sua aplicação à cidade de Londrina/PR, e a banca de defesa foi composta pelos professores Yahoyia Nakagawara, Joaquim Guedes, Magda Lombardo, Augusto Titarelli e pelo orientador. Em 1999 nos submetemos ao concurso para Professor Titular na Universidade Federal do Paraná; tivemos então que elaborar uma tese, um dos critérios daqueles concursos da época, além das provas escrita, de currículo, de memorial e da aula. A tese que elaboramos teve como título “Clima e criminalidade – Ensaio analítico da correlação entre a temperatura do ar e a violência humana”, e a banca do concurso foi composta pelos professores: Riad Salamuni/UFPR, José Popp/UFPR, Helmut Troppmair/UNESP, Sueli Del Grossi/UFU e Roberto Cassol/UFSM. Esse concurso constituiu um passo importante na consolidação de nossa carreira e, a tese, uma abertura para a abordagem da análise em Geografia da Saúde, que nos interessava já desde o doutorado. No ano de 2002 fomos convidados para atuar como professor na Université de Sorbonne Paris I, no Institut de Geographie, onde passamos alguns meses ministrando aulas, desenvolvendo pesquisas e cooperação internacional, bem como fortalecendo parcerias já iniciadas anos anteriores. Em 2004 e 2005 realizamos atividades de pós-doutorado e de professor visitante em universidades francesas e inglesas; voltamos à Rennes como professor convidado, onde trabalhamos com o professor Vincent Dubreuil e, na London School of Hygine and Tropical Medecine (9) com a professora Carolyn Stephens. Retornamos à Sorbonne, por alguns meses, e dessa feita nosso trabalho foi realizado com o professor Frederic Bertrand; ele, como os demais, tornaram-se nossos amigos para a vida. Foi também nesta estadia de Paris que estabelecemos uma relação de amizade e importantes debates com o professor Michel Maffesoli, cujo tema de interesse era o desenvolvimento do Brasil, aproveitando o boom do governo Lula e a meteórica projeção do Brasil como uma potencia no mundo de então! O Seminário que organizamos na Sorbonne, em maio de 2005, intitulado “Le Brésil: Geopolitique et environnement actuels”, no Amphi De Martonne – Institut de Géographie, havia tido um sucesso fenomenal, fato que ensejou debates e publicações que se seguiram. Ainda naquela maravilhosa estadia pudemos dividi-la com o mestre Carlos Augusto F. Monteiro (7) que veio morar conosco no apartamento da Rue des Ecoles, e nos ensinar tantas coisas sobre a arte, a cultura, a ciência e a vida! Em 2014 realizamos um estágio pós-doutoral na Universidad de Chile, em Santiago, onde pudemos trabalhar com o professor Hugo Romero, um colega e amigo de longa data! Esta estadia nos permitiu aproximar um pouco mais da realidade da geografia na América Latina, ao mesmo tempo que aprofundar nossas análises acerca da relação entre o clima urbano e o planejamento de cidades na contemporaneidade. Os meses vividos no Chile coincidiram com parte dos anos de intensas manifestações estudantis e da sociedade em defesa da democracia e da justiça social, especialmente do acesso gratuito à universidade pública. Os intensos conflitos que eram travados entre estudantes e parte da população contra as forças do governo reavivaram a expectativa de dias melhores naquele país, então visto como sucesso econômico, mas com gravíssimos problemas sociais! No Brasil, desde o ano anterior, a jovem e imatura democracia já registrava graves problemas de sua manutenção e consolidação! PESQUISAS EXPRESSIVAS REALIZADAS QUE MARCARAM O PERFIL ACADÊMICO Nos quase 40 anos de pesquisas em Geografia pude desenvolver um conjunto de temáticas que me interessaram e que me envolveram profundamente. Vou destacar aqui algumas delas, certamente esquecerei de outras, mas vou dar luz às que mais se destacaram: - A temática ambiental ou abordagem ambiental na Geografia é sem sombra de dúvidas a temática a qual me liguei desde o início da formação na graduação. É sobre ela que tenho trabalhado ao longo de toda a minha carreira. Eu situaria que os primeiros estudos nesta temática foram realizados em disciplinas na graduação, em trabalhos acadêmicos e, ao mesmo tempo, atuando junto a movimentos ambientalistas que, naquele momento dos anos 1980, em Goiânia e Brasília, no Brasil Central, animavam a nossa atuação. Creio também que o interesse por esta temática tenha uma raiz na minha primeira infância, no baixo vale do rio Paranaíba onde se situa a cidade de Anhanguera e onde, desde muito pequeno, me fascinava os banhos nos córregos, as enchentes do rio, o prazer do cheiro de terra molhada de chuva, o plantar e o colher nos solos argilosos, a beleza dos flamboyants e dos pores do sol, enfim, tanta coisa linda da natureza! -A primeira pesquisa de cunho acadêmico que realizei foi no âmbito da Geografia Humana, aplicando as concepções teóricas de Milton Santos no estudo da economia urbana. Juntamente com dois colegas, Cesar e Sirlane, fizemos um estudo orientado pela professora Clyce Louise que versou sobre a gênese e a dinâmica do comércio ambulante em Goiânia. Essa pesquisa foi essencialmente ancorada em levantamentos primários de campo e retratou a gênese do comércio ambulante na área central da cidade, especialmente no eixo monumental da avenida Goiás, a principal avenida da cidade; ela atestava a degradação das condições de vida urbana e de trabalho, sua precarização, ao mesmo tempo que evidenciava a complexização da vida urbana nas cidades brasileiras do início dos anos 80. Essa pesquisa nos rendeu uma importante premiação; nossa monografia foi classificada em primeiro lugar no concurso organizado pelo INDUR - Instituto de Desenvolvimento Urbano e Regional de Goiás - por ocasião do aniversário dos 50 anos da cidade de Goiânia! Foi meu primeiro grande estímulo para desenvolver pesquisa doravante! -No final da minha graduação tive a oportunidade de exercitar as meus conhecimentos em Geografia, especialmente a parte ligada aos estudos da Geografia Física, e usando da fotointerpretação. Pude atuar, a convite, para desenvolver uma consultoria num grupo de antropólogos e historiadores liderados pelas antropólogas Renate Viertler/USP e Irmie Wurst/PUC-GO, num trabalho que versou sobre o mapeamento dos sítios arqueológicos da área dos índios Boróro, tribo indígena que ocupou uma grande área no Brasil Central. O que estava na base daquela pesquisa era o fato de que, naqueles anos 1970 e 1980, o índice de suicídio, alcoolismo e prostituição, com elevada taxa de homicídios entre os indígenas, era muito elevada; a pesquisa buscava então, ao recuperar traços da história deles, ajudar na redução dos graves problemas identificados. -Dando continuidade a meus interesses em trabalhar com indígenas pude desenvolver, juntamente à antropóloga Kimie Tomasino, dessa feita já trabalhando na UEL e como autor da pesquisa, um estudo sobre a degradação ambiental e a qualidade de vida dos índios Kaingang, no Norte do Paraná, especialmente da reserva indígena do Apucaraninha. O objetivo deste estudo era levantar subsídios para auxiliar nas lutas em defesa dos indígenas e de suas terras, posto que havia interesses escusos de tornar a área um espaço de exploração turística, algo que ameaçava a integridade cultural e a vida daquele povo. -A temática e questão ambiental estiveram no cerne de minha dissertação de mestrado, que versou sobre a análise acerca da interação entre a exploração econômica - produção cafeeira - e a degradação ambiental generalizada no Noroeste do estado do Estado do Paraná. Esse processo foi por nós analisado sob a perspectiva da desertificação ecológica, tendo como premissa uma construção conceitual internacional para a abordagem da desertificação, e também do meu próprio orientador, professor José Bueno Conti, para o caso da desertificação ecológica. Na dissertação pudemos colocar em evidência uma abordagem acerca da apropriação das riquezas naturais no âmbito do sistema capitalista de produção e, portanto, da sua degradação e dilapidação, associadas à introdução de um novo cultivo de exportação, sem respeitar os limites da Natureza. O estudo colocou em evidência toda uma análise da formação natural daquela paisagem e, ao mesmo tempo, mostrou como a lógica da expansão agrícola, urbana e viária inconsequente gerava uma profunda degradação ambiental que, em última instância, se manifestava na perda de população e na redução da produção econômica regional. -No doutorado dei sequência a essa perspectiva da análise ambiental integrada, a partir da qual a relação, ou interação, Geografia Física e Geografia Humana, foi a perspectiva de análise que já vínhamos desenvolvendo na Geografia. Nossa tese de doutorado teve como problemática de pesquisa a formação do clima urbano em cidade de porte médio e pequeno, visando o planejamento e a gestão urbana como caminhos para garantir qualidade de vida na cidade. O estudo focou o campo térmico urbano como derivado da interação entre a sociedade e a natureza nos espaços de aglomeração humana, tratando da questão do conforto ambiental no âmbito das Ilhas de Calor Urbano. A tese trouxe não só avanços no campo teórico e conceitual do clima urbano, mas também no aspecto metodológico e técnico e propôs, ao final, sugestões para o planejamento urbano, notadamente dando ênfase à importância das áreas verdes na cidade, como um dos elementos controladores da qualidade ambiental urbana. A realização da tese de doutorado nos permitiu delinear um pouco mais amiúde nosso campo de interesses na pesquisa geográfica, que passou a ser, desde então, o estudo da cidade tomando o clima urbano como central nas analises da problemática socioambiental urbana. Nosso pensamento sempre esteve marcado pela preocupação com a justiça social e, obviamente, o estudo da cidade dos países não desenvolvidos, especialmente do Brasil, sempre pautou a questão da exclusão e da segregação sócioespacial como condições fundamentais para se entender a lógica da produção e da reprodução dos espaços urbanos no contexto destes países. Além do campo térmico do clima urbano, e passando a estuda-lo em cidades grandes e regiões metropolitanas nos últimos vinte anos, inserimos também o enfoque sobre o problema das inundações urbanas e da poluição do ar nas cidades. -Para elaborar a tese para o concurso de Professor Titular pude escolher uma temática que me acompanhava de longa data e para a qual não pude dar muita atenção, mas que estava presente tanto durante o mestrado quanto o doutorado. Voltando um pouco mais no tempo, percebo que ela estava presente desde a minha juventude, tendo aparecido no primeiro vestibular que fiz quando acalentava o sonho de cursar medicina. A questão da saúde humana me tomou de cheio quando fui pensar no tema de estudo para elaboração desta tese; assim, liguei os conhecimentos no campo da Climatologia, da Climatologia Médica e da Geografia Saúde, e pude associá-los com algo que me chamava muito a atenção nos anos 90, que é aa violência urbana. A partir dos anos 1980 e 90 ela passou a ser um dos temas de maior preocupação da humanidade; infelizmente essa problemática tem se intensificado sobremaneira nas últimas décadas, especialmente nos países não desenvolvidos. Nossa questão de pesquisa se colocava da seguinte maneira: Será que a Violência humana resulta somente das condições sociais / psicológicas? Não haveria nenhuma influência do meio ambiente e das condições ambientais na ocorrência da violência humana? para responder a essas questões nós fizemos um levantamento histórico a partir de bibliografias de referência, e constatamos que era um tema que estava evidente desde longa data; pudemos então relacionar a violência humana com as condições urbanas, com as condições de vida na cidade, e fizemos então uma análise da interação entre o clima urbano, o planejamento da cidade e a violência urbana. -a elaboração da tese do titular então constituiu-se na retomava de um campo de estudos que, no Brasil, tinha sido é relativamente desenvolvido por médicos sanitaristas na primeira metade do século XX e que tinha sido enfraquecida na segunda metade deste século. Nosso estudo, desenvolvido no campo da Geografia Médica e da Saúde, foi sequenciado pela aplicação de toda uma base conceitual, teórica e metodológica que havíamos adquirido por ocasião da elaboração do doutorado e da tese de titular. Assim, encaminhamos nosso olhar para uma problemática que tomou vulto a partir dos anos 1990 e que, nas últimas duas décadas tem sido de altíssimo interesse da sociedade e dos governos do Brasil e do mundo, que é a questão das doenças transmissíveis ou negligenciadas (conforme a terminologia da OMS). Dentre as doenças nosso maior interesse tem sido pela dengue, doença que fez várias importantíssimas epidemias nos últimos no Brasil nos últimos vinte anos, e para a qual não há um controle clínico e nem tampouco da transmissão. Ela é uma doença que demanda atuação de vários profissionais, dentre eles os geógrafos, porque as condições de reprodução do vetor e de transmissão do vírus sofrem influencias diretas das condições ecológicas e geográficas das cidades. A dengue é, portanto, um grande problema social, econômico, político e cultural, concebido e abordado no campo da saúde pública, sendo o tema sobre o qual temos desenvolvido pesquisas nos últimos vinte anos. Além das importantíssimas epidemias que foram registradas no Brasil nossa questão para desenvolver esta pesquisa se relaciona sobretudo ao fato de que as mudanças climáticas globais, e o aquecimento climático global, constituem elementos propiciadores à intensificação da doença e sua expansão geográfica para áreas que hoje são indenes à doença; dentre estas estão as áreas subtropicais e temperadas do mundo, além das regiões de altitude mais elevada. Nossa principal preocupação ao estudar esta doença é que ela depende fortemente do meio geográfico para sua ocorrência, tanto do ponto de vista da condição ecológica (fatores e elementos da geografia física) das cidades, quanto das condições sociais, econômicas, políticas e culturais da urbe, que concorrem para o espraiamento e intensificação dela em países como o Brasil. -Quero ressaltar que a temática das mudanças climáticas globais e suas repercussões regionais e locais tem estado no centro de nossas pesquisas nos últimos, aproximadamente, vinte e cinco anos, através projetos de pesquisa que envolvem, na maioria das vezes, o ambiente urbano. Nesse particular ressalto o interesse dos estudos pela qualidade e condições de vida na cidade enfocados sob a perspectiva do tripé riscos, vulnerabilidades e resiliência das áreas urbanas. Ressalto que, no âmbito de nossas reflexões aparece, muito nitidamente, o interesse pelo enfoque deste tripé, que está na ordem do dia de nossas pesquisas. -Ah, last but not least… não posso deixar de mencionar nosso interesse e dedicação aos estudos no campo da epistemologia da geografia, especialmente porque ministro aulas deste tema, como disciplina, desde o final dos anos 1990! (Várias de nossas publicações resultam deste campo de reflexões). Aqui ressalta nossa curiosidade intelectual, as leituras e debates no campo filosofia, a ousadia de tentar conhecer um pouco mais acerca desta fabulosa aventura que é a produção consciente e consequente do conhecimento científico e vernacular! Trata-se de um grande desafio no qual, quanto mais avançamos mais temos a convicção da necessidade de que mais ainda falta para avançar! PARCERIAS DE PESQUISA AO LONGO DA CARREIRA. As parcerias de pesquisa que estabelecemos ao longo de nossa carreira podem ser concebidas de duas maneiras, aquelas estabelecidas no plano pessoal, ou seja, com colegas com os quais desenvolvemos nossas pesquisas e, também, aquelas de ordem institucional, ou seja, a ligação institucional é que permitiu a interação entre nossas atividades e aquelas de outros colegas através da interação e institucional. Corro um grande e perigoso risco de não mencionar todas as pessoas e todas as situações com as quais tive a felicidade interagir ao longo desses mais de quarenta anos de atividades no campo da Geografia e do Meio Ambiente e Desenvolvimento, mas vou pontuar algumas na expectativa de ser perdoado por aquelas que não mencionar; a lista é longa, devo admitir. -Para desenvolver a pesquisa do doutorado tive a felicidade de contar com este que acabou me influenciando sobremaneira na estruturação de minhas idéias, e de grande parte da minha produção intelectual e científica, o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Sua influência se evidencia em grande parte das minhas escolhas temáticas e de um certo delineamento do meu pensamento, a partir das discussões que travamos e das incríveis e riquíssimas contribuições que ele me passou, a partir da sua própria trajetória científica e de sua experiência de mundo. Nós não desenvolvemos nenhum projeto e nenhuma pesquisa juntos, em particular se considerarmos o padrão científico e acadêmico de pesquisa científica, mas esta foi a mais longa, intensa e importante parceria que pude estabelecer ao longo de minha carreira, especialmente para a integrada, holística e aberta abordagem ambiental na Geografia e na interdisciplinaridade. -A primeira grande influência que recebi no período da graduação foi do professor Horiestes Gomes (6) e do professor Walter Casseti; ambos foram fundamentais para delinear aquilo que pude vir a desenvolver posteriormente, a abordagem ambiental numa perspectiva de complexidade. A parceria com o Prof Horieste se dava tanto no plano da academia e na atuação à frente da AGB-Seção Goiânia, quanto da militância política, sendo que a inspiração pela Geografia Física veio do Prof Casseti; a Profa Elza completou a tríade despertando-me para o interesse da cartografia e aerofotogeografia. Foi também na graduação que tive os meus primeiros parceiros de pesquisa ao elaborar a monografia sobre os comércio ambulante em Goiânia, já mencionados anteriormente. -Da mesma maneira como anteriormente citado, dentre minhas primeiras parcerias ressalto o trabalho sobre os indígenas, que elaborei em parceria com as antropológicas Irme Wurst e Kimie Tomazino. -Por um considerável período pude desenvolver meus estudos recebendo a colaboração de um querido professor da Université de Haute Bretgne, na França, o professor Robert Barriou, que muito me ensinou sobre a aplicação da cartografia automática e das imagens de satélites aos estudos ambientais. Na mesma universidade tive também a colaboração do Prof Jean Mounier e, desde os anos 1990 do amigo e colega Vincent Dubreuil; com este último temos desenvolvido tanto pesquisas no campo da climatologia quanto a atuação à frente de instituições como a AIC – Association International de Climatologie. Ainda na França destacaria as parcerias com os colegas da Université de Sorbonne/Institut de Géographie (8), os professores Frederic Bertrand e André Fischer; juntos desenvolvemos interessantes pesquisas, organização de eventos, publicações e a fundação do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFPR. -Ainda no que concerne às parcerias com colegas do exterior, nos últimos dez anos pude estreitar a colaboração e parceria de pesquisa em Climatologia, tanto quanto a análise de situações de risco e vulnerabilidade ao clima e sua relação com as doenças transmissíveis, com colegas do Canadá (o Prof Guillaume Fortin – Université de Moncton) e da Itália (Profa Simona Frattiani – Universitá de Turin). Uma das mais importantes parcerias internacionais que estabeleci é aquela com o professor Hugo Romero (Universidad de Chile, em Santiago) com quem tenho desenvolvido estudos envolvendo a Geografia, a Geografia Física e a Climatologia urbana no contexto da América Latina. -Estabeleci ricas e profícuas parcerias nos últimos trinta anos especialmente relacionadas à temática e problemática socioambiental urbana, em projetos que desenvolvemos vinculados ao Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná. Trata se de um programa é interdisciplinar no âmbito do qual coordenei por aproximadamente vinte anos a linha de pesquisa relacionada ao ambiente urbano; destaco as parcerias com vários arquitetos, dentre eles a professora Iara Vicentini, a professora Cristina de Araújo Lima e o professor Clovis Ultramari; nesse mesmo grupo de pesquisa destaca-se a parceria bastante intensa com a professora Myrian Del Vecchio de Lima, da área de comunicação. -Durante o período que estivemos vinculados à Universidade Estadual de Londrina pudemos estabelecer parcerias muito importantes no Departamento de Geociências; em primeiro lugar destaco a professora Nilza Freres Stipp, quando do desenvolvimento do projeto de pesquisa relacionado à degradação ambiental do Rio Tibagi, que envolveu vários colegas da UEL e de outras instituições. Na mesma universidade lembro dos professores Omar Neto Fernandes de Barros e Mirian Vizintin; juntos criamos o laboratório de sensoriamento remoto no final início dos 90 laboratório. -Tive uma intensa e longa parceria de pesquisa com uma colega do Departamento de Geografia da UFPR e com a qual produzimos pesquisas e atividades de ensino, e publicamos um dos mais importantes livros de minha carreira, a professora Inês Moresco Dani-Oliveira. Juntos criamos o LABOCLIMA - Laboratório de Climatologia da UFPR que desde o final dos anos 90 desenvolve pesquisas variadas em Climatologia, mas com um enfoque central sobre o clima urbano. Na última década e ligado à este laboratório minha parceria se faz com o professor Wilson Flávio Feltrim Roseghini, que dá continuidade às pesquisas outrora elaboradas em parceria com a professora Inês Moresco. -As pesquisas relacionadas à dengue que temos desenvolvido nos últimos vinte anos anos permitiram desenvolver um conjunto de parcerias, tanto no Brasil quanto no exterior. No campo da saúde pública, no Brasil, cito a Médica Angela Maron (SESA/PR) e o professor Lineu Souza (UFPR), o professor Ulisses Confalonieri (FIOCRUZ), e o professor Daniel Canavese (UFRGS – Saúde Pública). Ainda no nosso país e no âmbito da Geografia da dengue, colegas de inúmeras universidades e institutos de pesquisa também têm desenvolvido conosco pesquisas relacionadas à dengue: Érica Collishonn (UFPEL), Gustavo Armani (IG/SP), Antônio Carlos Oscar Júnior (UERJ), Vicentina Anunciação (UFMS), Ercília Steinke, Valdir Steinke e Hellen Gurgel (UNB), Ranyere Nóbrega (UFPE), Maria Elisa Zanella (UFC), Jose Aquino Junior e Zulimar Márita (UFMA) e Reinaldo Souza (INPA). -Outras parcerias que temos desenvolvido em nossa trajetória científico e intelectual são aquelas com os professores Márcia Carvalho, Cláudio Bragueto, Fabio Cesar Alves da Cunha e Deise Fabiana Ely (UEL), Gislaine Luis (UFG), Josefa Eliane, Márcia Eliane, Rosemeri Melo e Jailton Costa (UFS), Adriano Figueiró (UFSM), José Candido Stevaux (UEM), Vitor Borsato (FECILCAM), Olga C. de Freitas, Sylvio Fausto Gil Filho, Irani Santos, Salete Kozel, Dimas Floriani, Angela Damasceno (UFPR), dentre outros. -Ainda nas parcerias internacionais há que se destacar aquela que durou cerca de uma década com o IRI - International Research Institut on Climate and Society, da Columbia University, através do professor Pietro Ceccato. No campo da abordagem da saúde humana, especialmente para o caso das doenças transmissíveis, estabeleci um conjunto de parcerias tais com: Caroline Steffens (London School of Hygine and Tropical Medicine / Inglaterra), Paul Ritter (Institu Pasteur / Paris), Murielle Laffaye e Cecile Vignoles (CNES/França) e Mário Lanfre (CONAE / Argentina). Outras parcerias de trabalhos mais recentes são essas que temos estabelecido com colegas da Universidade de Lisboa, donde destaco a professora Maria João Alcoforado e o professor Antonio Manuel Lopes, ambas no campo da Climatologia urbana. -Um projeto de envergadura Internacional, o Smart Cities, permitiu uma interação via projeto de pesquisa e aplicação ao planejamento urbano a partir de 2014, entre uma vasta equipe da cidade de Curitiba e um grupo de pesquisa do SMHI - Swedish Meteorological and Hydric Ressources Institut - da cidade de Estocolmo. Desenvolvemos o PARCUR – Programa de Qualidade do Ar da Cidade de Curitiba – no qual pude coordenar a parte brasileira, envolvendo a Prefeitura de Curitiba e várias instituições municipais e estaduais, tendo a coordenação internacional do Prof Lars Guidahen. -Devo destacar também uma longa parceria no âmbito da discussão de idéias e na organização institucional em defesa da Geografia Latino-americana, meu querido e saudoso professor José Manuel Mateus Rodrigues, da Universidad de Havana / Cuba, e a professora Teresa Reina Trujillo da Universidad Autônoma do México. Nesta mesma perspectiva, mas na dimensão Ibero-americana, os professores Lúcio Costa e Antonio Vieira, da Universidade de Coimbra e do Minho, respectivamente. ARTIGOS E LIVROS MARCANTES DA CARREIRA Vejo como muito difícil destacar artigos mais marcantes nessa em minha biografia, especialmente porque ao longo de uma carreira de mais de quarenta anos e de intensa produção intelectual e científica, pudemos veicular nossas idéias em quase uma centena de textos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Assim, declino da indicação dos artigos aqui, mas indico aos interessados uma consulta em nosso CV-Lattes, estão quase todos ali (sou meio desatento com a inserção de todas as publicações no Lattes, assumo). Vou ater-me à citação de minhas publicações na forma de livros, e tecer alguns comentários sobre os mesmos: -Geografia Física: Ciência Humana? foi o primeiro livro que publiquei, em 1989, como resultado das reflexões que tomavam minha mente e os questionamentos acerca da abordagem ambiental na Geografia, especialmente pelo fato de haver naquele período uma explícita “rusga” entre Geografia Física e Geografia Humana. O livro fez um rápido sucesso e encontra muita repercussão até os dias de hoje, fato que nos deixa bastante contentes! Esse livro foi publicado devido à atuação do professor José Borzachielo da Silva, o querido Zé da Silva, que apresentou o rascunho ao diretor da Editora Contexto, que imediatamente o publicou. -Geografia e meio ambiente, foi o segundo livro, publicado também pela Editora Contexto, no início do ano de 1993. Trata se de um livro muito objetivo e sintético, e que sintetizava um conjunto de discussões e temas relacionados à questão ambiental. Esse tema tomou muita importância no Brasil no final dos anos 1980 e início de 1990 como inerente ao contexto da realização da Conferência do Rio 92 ou Eco 92. -Clima e criminalidade - Um ensaio acerca da relação entre a temperatura do ar e a violência humana; esse livro resultou de minha tese de professor titular na UFPR, foi publicado pela editora da UFPR no ano de 2001. Interessantíssimos e acirrados debates na Geografia brasileira no começo da penúltima década foram decorrentes do título do livro, pois a leitura rápida e armada do mesmo levava a imaginar que eu fazia uma defesa do determinismo natural como perspectiva da violência humana! Ledo engano; o livro na verdade coloca em questão o fato de que, como colocado anteriormente, o meio ambiente influencia o comportamento humano e, portanto a violência humana. -Elementos de epistemologia da Geografia contemporânea foi também um livro publicado pela editora da Universidade Federal do Paraná, em 2000, organizado e publicado em coautoria com a colega Salete Kozel. Essa obra sintetiza as discussões desenvolvidas num seminário nacional bastante denso que organizamos por ocasião da implantação do curso de pós-graduação / mestrado em Geografia da Universidade Federal do Paraná. -Impactos socioambientais urbanos, foi um outro livro publicado em 2004 também pela editora da Universidade Federal do Paraná. Trata-se de uma coletânea por nós organizada e que resultava do seminário nacional sobre impactos socioambientais urbanos, que realizamos na cidade de Curitiba naquele ano. Palestrantes convidados do Brasil e do exterior contribuíram com textos de suas autorias para a montagem deste livro que alcançou um sucesso bastante expressivo logo da sua primeira edição. -Clima urbano, publicado pela Editora Contexto em 2004, foi uma obra que tive o prazer de organizar juntamente com meu querido professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Assinamos conjuntamente a autoria e organização deste livro, que reúne tanto uma síntese da sua contribuição teórica a respeito do SCU - Sistema Clima Urbano - quanto quatro exemplos de aplicação dessa teoria e metodologia em cidades importantes do Brasil (Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba e Londrina). -Climatologia - Noções básicas e climas do Brasil organizei juntamente com a professora Inês Moresco Danni-Oliveira, se constitui num livro de referência ou livro básico para os estudos de Climatologia no Brasil. Publicamos esse livro pela primeira vez no ano de 2007 pela Editora Oficina de Textos, visando não somente atualizar conceituações, métodos e técnicas em Climatologia mas, sobretudo, colocar em evidência a dinâmica atmosférica da América do Sul e do Brasil, bem como os principais tipos climáticos do país, além de exemplos das várias temáticas da Climatologia geográfica. -Espaço e tempo: Complexidade e desafios do pensar e do fazer geográfico é uma coletânea resultante do encontro da ANPEGE - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Geografia, que organizei em Curitiba no final de minha gestão como presidente desta associação, em 2009; organizei este livro em parceria com as professoras Márcia da Silva e Cecília Lowen-Sahr, que dividiam a direção da ANPEGE comigo na gestão 2007 a 2009. -Riscos climáticos – Vulnerabilidade e resiliência associados, é também uma outra coletânea, desta feita publicada pela Editora Paco Editorial, de Jundiaí / São Paulo, e que agrupa textos de colegas do Brasil e do exterior ; esse livro foi publicado em 2014. -Os climas do Sul - Em tempos de mudanças globais, é uma coletânea publicada sobre nossa organização e agrupa um conjunto de textos resultantes de pesquisas de meus ex-orientandos de mestrado e doutorado sobre os climas do sul do Brasil, publicado pela Paco Editorial no ano de 2014 . -A construção da Climatologia geográfica no Brasil, publicamos pela Editora Alínea, de Campinas, sob autoria dos professores Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, João Zavattini, João Lima Santana Neto e minha. Trata-se de uma obra síntese da contribuição do professor Monteiro no qual há um resgate de suas construções teóricas, conceituais, metodológicas e técnicas acerca da climatologia geográfica. Neste livro organizei o capítulo 3 relativo à Climatologia Urbana. O livro foi publicado também na versão inglesa dado ser um dos objetivos nossos de que a obra do professor Monteiro pudesse ser melhor conhecida no exterior; -Meio ambiente e sustentabilidade, publicamos em 2019, numa parceria com a Mariana Andreotti, minha orientanda de doutorado, e no qual pudemos atualizar e ampliar toda a abordagem da questão ambiental contemporânea. Predomina uma visão crítica acerca do desenvolvimento sustentável, e foi publicado pela editora Intersaberes, de Curitiba. -A cidade e os problemas socioambientais urbanos - Uma perspectiva interdisciplinar, é uma coletânea que publicamos em coautoria com a professora Myrian del Vecchio de Lima, pela Editora da UFPR no ano de 2019 (impresso) e 2020 (e-Book). Esta obra reúne mais de vinte textos oriundos de dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas no âmbito do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPR. -A dengue no Brasil - Uma perspectiva geográfica, é uma grande obra que encontra-se em vias de publicação pela CRV Editora, de Curitiba. Trata-se também de uma coletânea com doze textos relativos aos problemas relacionados à ocorrência e epidemias da dengue do Brasil. A obra sintetiza pesquisas realizadas entre os anos de 2014 a 2019 em dez capitais brasileiras sobre o problema da dengue: Manaus, São Luis, Fortaleza, Recife, Brasília, Campo Grande, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Os capítulos são resultantes de uma grande pesquisa levada à cabo sob nossa coordenação. -No ano 2004 publicamos também a obra Cidade, ambiente e desenvolvimento-abordagem interdisciplinar da problemática socioambiental urbana, pela Editora da Universidade Federal do Paraná, e que sintetizou tanto uma concepção interdisciplinar dos estudos sobre a cidade, quanto os marcos teóricos, metodológicos, técnicos e a aplicação dessas perspectivas no estudo de problemas da RMC - Região Metropolitana de Curitiba. -Ainda na Editora Oficina de Textos criamos a Coleção Básicos em Geografia, que foi inaugurada com nosso livro “Climatologia – Noções básicas e aplicações brasileiras”; ele foi sequenciado pelo livro do nosso colega Adriano Figueiró “Biogeografia”, e “Geomorfologia fluvial”, de autoria do José Cândido Stevaux e Edgardo Latrubesse... a coleção está se tornando mais rica com novos livros que estão sendo organizados. -Gostaria também de registrar que foi de nossa lavra a criação da Revista RAÉ GA - O espaço geográfico em análise, em parceria com o professor Silvio Fausto Gil Filho, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Geografia da UFPR, em 1997; a Revista da ANPEGE, quando fizemos parte da diretoria da entidade no ano de 2003, juntamente com as professoras Gerusa Duarte/UFSC e Marlene Colessanti/UFU e, por fim, da Revista Humboldt, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com o professor Antonio Carlos Oscar Junior, agora no início de 2021. AVANÇOS TEÓRICOS E CONTROVÉRSIAS -A unicidade do pensamento geográfico: A dualidade e dicotomia da Geografia Moderna constitui um dos temas clássicos e perenes do debate da Geografia enquanto campo do conhecimento científico. Essa característica nos despertou a atenção desde o início de nossa formação pelo fato de que desde muito cedo já tínhamos dificuldade em entender e trabalhar a Geografia Física distante ou dissociada da Geografia Humana. E essa diferenciação entre os dois ramos da Geografia tornou-se realmente algo limitante para o nosso trabalho à medida optamos por trabalhar sobre os problemas ambientais como temática de estudos e pesquisas. Essa preocupação fazia parte do momento histórico no qual a Geografia Crítica se construia e se consolidava no Brasil, ou seja, nos anos 1980; obviamente que as discussões eram muito acirradas no âmbito AGB - Associação dos Geógrafos Brasileiros – mas foi, sobretudo, dentro deste fórum que pudemos travar grandes debates e consolidar nossa concepção da unicidade do pensamento geográfico, fato que resultou no nosso primeiro livro já citado anteriormente. Mais uma vez é importante deixar claro que nossa concepção é aquela que entende que a Geografia é um campo de conhecimento dual, portanto uma ciência de caráter dualista, mas que a dicotomia se coloca como aquela na qual os dois ramos são levados à uma condição de concorrência, fato que foi muito enfatizado no âmbito da Geografia Crítica brasileira. -Clima urbano / paisagens intraurbanas: por ocasião do desenvolvimento de minha tese de doutorado, quando já havia decidido trabalhar com o clima urbano e sua aplicação ao planejamento da cidade, visando contribuir para a qualidade e as condições de vida urbana, entendi que era preciso avançar um pouco mais nas perspectivas teóricas e metodológicas do estudo do clima urbano. Nesse sentido e apropriando-me das construções conceituais e teórico-metodológicas já difundidas pelo professor Monteiro (Brasil) e pelo arquiteto Tim Oke (exterior), pude avançar um pouco mais no campo teórico- conceitual e metodológico desse campo de estudos. Coloquei como perspectiva para se estudar o clima urbano o necessário mapeamento detalhado da cidade, que denominamos paisagens interurbanas, considerando que a variação do albedo em função das distintas superfícies da cidade é que gera ou dá origem ao campo térmico urbano e, em última instância, à ilha de calor urbana. Propusemos, então, um mapeamento detalhado do sítio urbano (hipsometria, declividade, orientação de vertentes, direção e velocidade de ventos predominantes) e da cidade (uso e ocupação do solo, morfologia e funções) como perspectiva elementar para o estudo do clima da cidade, o que poderia ser comprovado posteriormente, ou não, com as medidas de temperatura do ar a 1,50 m em situações distintas do tecido urbano. Comprovamos essa perspectiva de que as paisagens intraurbanas correspondem a diferentes áreas delimitadas conforme as condições térmicas da cidade. Ademais, foi com esta tese que pudemos dar vazão à aplicação das imagens de satélites aos estudos dos climas urbanos no Brasil, tendo sido a segunda tese no país com este enfoque, ou seja, com aplicação de imagens de satélite em estudos de detalhes. -Clima e violência humana: a relação entre o clima e a violência humana nas cidades acabou se constituindo numa abordagem totalmente inovadora quando se estuda e se propõe a melhoria da qualidade de vida na cidade. Nossa tese de professor titular, como comentado anteriormente, sobre a influência das condições ambientais e climáticas na vida das pessoas, especialmente no comportamento humano, constituiu-se numa intensa controvérsia no momento de sua divulgação. A leitura rápida, muito apressada e superficial daqueles que se deixaram levar apenas pelo título levou ao desenvolvimento de acirrados debates, especialmente no âmbito da AGB, pois que muitos acreditaram que o título da obra estivesse fazendo ou propondo renascer o determinismo ambiental na Geografia brasileira. Nesse estudo o que fizemos foi exatamente comprovar que as condições térmicas influenciam o organismo e o comportamento humano. As condições climáticas se somam a outros elementos e fatores de cunho antropológico ou cultural, no sentido de reforçar a complexidade da vida daquelas pessoas que se encontram em situações de vida extremamente difíceis. Dito de outra forma, as temperaturas muito elevadas realmente influenciam mais aquelas pessoas que sem moradia, sem condições de boa alimentação, sem escolas, sem respeitabilidade, etc. e que, vivendo à margem da sociedade, tem muito mais propensão à prática de ações violentas do que aquelas pessoas que vivem em boas condições de vida. Enfim, pudemos comprovar que as condições ambientais/climáticas também influenciam no acirramento da violência na contemporaneidade. -Analise integrada de bacias hidrográficas: Em meados dos anos 90 o tema da escassez das águas doces no planeta tornou-se dos mais importantes na pauta de discussões internacionais, seja de pautas ligadas ao meio ambiente propriamente dito, seja na academia, seja no âmbito da esfera política em função da escassez desse recurso. Tendo em conta esse problema, que evidencia por si só uma decorrência das nada saudáveis relações estabelecidas entre a sociedade e a natureza, e também porque é um problema que tem uma dimensão espacial muito eloquente, tornou-se muito importante dedicarmos a tratar do mesmo em parceria com colegas do Brasil e do exterior, tanto no âmbito da Geografia como de algumas áreas correlatas a esta temática. Considerando a dimensão regional desta problemática no estado do Paraná, desenvolvemos um primeiro projeto de pesquisa voltado ao diagnóstico e conflitos socioambientais da gestão das águas da bacia hidrográfica do Tibagi, tendo como coordenadora a professora Nilza Aparecida Freres Stipp, com quem mantivemos uma rica parceria de pesquisa por mais de vinte anos. A partir da proposta metodológica de gestão de análise de bacias hidrográficas do Professor Pedro Hidalgo, construímos uma metodologia específica para diagnóstico e análise ambiental de microbacias hidrográficas. A escolha da escala da microbacia se deveu, sobretudo pelo fato de termos identificado muito rapidamente que, para o envolvimento dos cidadãos no processo de recuperação da degradação ambiental, era preciso falar com eles numa linguagem de uma realidade por eles vivenciada; constatamos que é na escala da microbacia que a maior parte dos homens tem noção espacial e, portanto, da sua responsabilidade ambiental. Essa proposta foi aplicada em inúmeros estudos de casos no Brasil. Ao vincular-me à Universidade Federal do Paraná elaborei um projeto de pesquisa integrado que envolveu todo o departamento de Geografia; uma idéia de pesquisa integrada, sob nossa coordenação, e que tinha como objeto de estudo a bacia hidrográfica do alto Iguaçu. Desenvolvemos esse projeto por aproximadamente uma década, até que outros colegas especialistas no tema dos recursos hídricos foram contratados, o que nos permitiu dedicar nossa atenção aos temas que já faziam parte de nossas perspectivas. -Geografia Socioambiental: Dando continuidade às nossas preocupações acerca da unidade do pensamento geográfico, e colocando no centro dessas preocupações a abordagem dos problemas ambientais, tivemos a condição de desenvolver nossa reflexão tendo recebido influências consideráveis por ocasião dos debates ocorridos no início da década de 1990. No livro “Geografia e meio ambiente” periodizamos a abordagem ambiental da Geografia em dois grandes momentos, aquele em que a abordagem ambiental tinha um caráter eminentemente descritivo dos elementos da paisagem, de forma isolada, que teria durado até por volta dos anos 1960 e 1970. Após esse período e dando vazão ao clamor social generalizado dos movimentos ambientalistas, assumia um caráter neopositivista, a Geografia, especialmente Geografia Física, passava a tratar do meio ambiente de uma maneira um tanto mais interativa, dando vazão ao caráter de conhecimento aplicado; essa característica passou a envolver elementos do meio social aos elementos do meio natural, e caracterizou o período que vai dos anos 60 / 70 até o início dos anos 1990. Todavia os grandes debates internacionais levados a cabo desde o final dos anos 60, com os resultados da reunião do Clube de Roma, da conferência de Estocolmo, da construção do desenvolvimento sustentável e da conferência do Rio, ou Eco 92, tornou-se praticamente impossível falar de meio ambiente sem envolver as questões sociais, especialmente nos países não desenvolvidos. Ou seja, falar de meio ambiente sem tratar da questão do desenvolvimento, das questões ligadas à injustiça social e da pobreza, era tratar da problemática ambiental de forma parcial ou que escamoteava sua real dimensão social. Num tal contexto tornou-se evidente que a problemática ambiental é, no fundo e na verdade, uma problemática de característica ou de ordem eminentemente social... que o problema da degradação da natureza não é um problema para a natureza em si, mas sim um problema eminentemente da sociedade, e daí a origem ou desenvolvimento no campo da Geografia do que temos chamado de Geografia Socioambiental. Obviamente que o termo já era recorrente em outros campos do conhecimento, como por exemplo, na sociologia, na economia, na antropologia e na ciência política, mas na Geografia era novidade; embora aparecesse como tema em vários documentos e discursos ele não encontrava ainda uma construção conceitual. Foi assim que, no final dos anos 1990, publicamos o primeiro texto na revista Terra livre da AGB intitulado Geografia socioambiental, no qual tecemos os primeiros elementos para delinear as particularidades desta abordagem no campo da Geografia. As influências vieram tanto de abordagens no seio desta ciência que não empregavam o termo, como de outros campos e autores como Michel Serres, Ignacy Sachs, Bruno Latour, Enri Acselrad, Enrique Leff, etc. - S.A.U. – Sistema Socio-Ambiental Urbano: No final dos anos 90 o PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - publicou um guia metodológico para a elaboração de estudos visando subsidiar ações para garantir a qualidade ambiental das cidades latino-americanas; estas cidades se apresentavam fortemente marcadas por degradação social e ambiental de toda ordem. Neste momento ainda não tínhamos na Geografia uma perspectiva integradora e com perspectiva crítica que pudesse embasar o desenvolvimento de estudos abrangentes sobre os problemas socioambientais urbanos. Cientes da grande contribuição do SCU - Sistema Clima Urbano (Monteiro, 1976) propusemos dar um salto e ir além, posto que tanto o clima quanto a vegetação, os solos, as águas, etc., assim como as diferentes formas de poluição, a qualidade das águas e sua escassez, a violência e a pobreza humana, etc. formam um todo complexo e desafiador à gestão das cidades. Considerando também a perspectiva de compreensão da cidade a partir de uma Geografia unitária ou integrada, construímos uma proposta conceitual e metodológica para o estudo dos problemas socioambientais urbanos e a denominamos S.A.U. – Sistema (sócio) Ambiental Urbano, e que auxiliou na elaboração de inúmeros estudos de caso nos últimos vinte anos. -Problemática socioambiental urbana: Foi no âmbito do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Meio Ambiente e Desenvolvimento que coordenamos a linha de pesquisa relacionada ao ambiente urbano, e na qual desenvolvemos e construímos a abordagem dos problemas da interação entre sociedade e natureza nas cidades na perspectiva da problemática socioambiental urbana. Por um bom período os resultados desses estudos foram debatidos nos fóruns da ANPPAS e da ANPEGE, primeiramente dentro do GT-Geografia Urbana e, posteriormente, após 2009, dentro do próprio GT-Problemática Socioambiental Urbana, que criamos para aglutinar os numerosos e diversificados trabalhos produzidos no âmbito dessa temática. -Riscos híbridos: Os riscos constitui um dos temas mais importantes de estudos e gestão ambiental das últimas décadas. Não se trata de uma abordagem nova dado que sempre estiveram presentes nas preocupações dos pesquisadores e dos gestores urbanos e rurais. Todavia, após os anos 1980, com a intensificação da degradação ambiental e o avanço tecnológico no contexto do processo de industrialização avançado, e da urbanização desenfreada, os perigos e ameaças à sociedade tomaram intenso vulto. Após a publicação do livro de Ulrick Beck (Sociedade de Risco), tanto a ciência quanto os gestores públicos em todo o mundo, intensificaram suas preocupações e a criação de políticas públicas e intervenções visando não somente o conhecimento da formação de situações de perigosas, mas, sobretudo no desenvolvimento de estratégias de prevenção à ocorrência dos mesmos. Os riscos não causam impactos de maneira homogênea em toda a população onde ocorrem, eles se distribuem diferentemente no espaço e no tempo e, por isso mesmo, demandam atenção particular; à eles se associam diretamente as vulnerabilidades e a resiliência como dinâmicas necessárias à sua compreensão e gestão. Mesmo considerando-se suas três clássicas categorias, ou seja, os riscos naturais, os riscos sociais e os riscos tecnológicos, nossa compreensão é de que um não ocorre de maneira dissociada dos demais. Eles tão eminentemente associados uns aos outros, até porque somente são considerados risco por impactarem as sociedades humanas, o que os torna um construto social. Se considerarmos mais ainda o fato de que risco é sempre uma relação entre um elemento ou fenômeno desencadeador e a sociedade exposta a ele, necessariamente deveremos compreender que não existe risco para a natureza e nem tampouco para tecnologia; os riscos são sociais. Dessa maneira, é a sua repercussão sobre a sociedade que vai torná-lo um risco e, evidentemente, quando associado a uma condição de altíssima vulnerabilidade social e a riscos tecnológicos, eles se tornam muito mais impactantes e mais importantes. É exatamente essa condição que nos leva a entender os riscos como processos eminentemente híbridos. -Alternatividades em saúde: Os limites ou a parcialidade dá concepção científica moderna a respeito da realidade estão presentes nas reflexões de filósofos da ciência e de epistemólogos nos últimos cerca de cem anos. Mais do que isso, a compreensão de que a perspectiva científica não existe isoladamente do contexto sociocultural no qual ela se produz é que nos leva a pensar que a ciência desenvolvida nas academias da América Latina e da África é fortemente determinada pela noção e concepção de mundo eurocêntrica. Essa leitura da realidade colocou em segundo plano, ou subestimou, ao longo de toda a sua história, os saberes populares ou saberes autóctones/vernaculares produzidos na longa experiência milenar de vida das populações autóctones, como por exemplo, os indígenas no Brasil e os nativos de África. Há um importante movimento que toma corpo na América Latina e parte da África mais recentemente, o saber decolonial e pós-colonial, sobre o qual temos nos debruçado na última década para tentar compreender e avançar um pouco no entendimento destas outras ontologias. No campo da Geografia da Saúde temos tentado evidenciar o conhecimento de populações que lidam com a saúde humana, ou que trabalham a saúde humana, a partir do das próprias tradições e dos cuidados não ocidentais com o corpo humano. De maneira muito específica temos orientado pesquisas acerca do papel das benzedeiras, dos terreiros de candomblé, de raizeiros, das garrafeiras, dos centros espíritas, etc. no trato dos males humanos. Tem sido uma instigante e revolucionária experiência, uma verdadeira ruptura epistemológica! -Geografia plural: Como Sequência de nossa perspectiva de ação e defesa de uma Geografia unitária, no sentido de que é um campo do conhecimento de caráter dualista, e juntando nossa perspectiva de abordagem da problemática socioambiental, concebemos o objeto de estudo da Geografia como um conhecimento complexo. Essa complexidade é revestida de uma riquíssima heterogeneidade na atualidade, especialmente nos últimos vinte anos aproximadamente; neste contexto não há nenhuma hegemonia de um ou outro campo ou temática, nem tampouco de uma perspectiva ideológica ou tecnológica se sobressaindo ante às demais. A geografia brasileira e internacional tem evidenciado uma muito rica diversidade de temáticas de estudos de problemáticas de interesse da sociedade, e emprega concepções teórico-metodológicas e técnicas as mais variadas, sem que haja uma hegemonia de um campo ou outro. Nós entendemos que este é o momento de uma rica fruição do pensamento geográfico e que, portanto, deve continuar assim, porque nos parece ser a saída possível e promissora ao presente e ao futuro da Geografia. PRINCIPAIS CONTROVÉRSIAS, CRÍTICAS E EMBATES SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA REALIZADA Vou destacar apenas três de nossas construções intelectuais que foram motivos de controvérsias, críticas e embates no campo da geografia... -A ideia de unicidade do pensamento geográfico, que defendo desde sempre, talvez seja aquela de maior expressão no que diz respeito à controvérsias, críticas e embates que tenho vivenciado ao longo da minha carreira. Interessante observar que não é uma nova questão nem tampouco uma ideia minha, mas devo reconhecer que fui um dos geógrafos a promover sua retomada com vigor e aprofundar seu conhecimento e desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, defendê-la no momento em que a Geografia Crítica brasileira era hegemônica, posto que esse tipo de discussão ou temática não estava colocado na ordem do dia, era considerado algo superado dado a hegemonia da Geografia Humana naquele contexto. Como já coloquei em outras partes deste documento, essa é uma temática muito cara para mim, refletindo-se até mesmo quando fui presidente da ANPEGE, em 2009, quando promovi a unificação da Geografia Física e da Geografia Humana numa mesma Câmera do CNPq; muitos acharam que era uma ação deliberada e pessoal minha, poucos se lembram de que a junção numa mesma câmara havia sido deliberada na assembleia da ANPEGE, em Fortaleza, no ano de 2005. Até o ano de 2010 os dois ramos da Geografia estavam separados e situados dentro de distintas áreas do CNPq; a Geografia Física na Geociências e Geografia Humana na Sociais Aplicadas. Por conta disto, nos anos de 2008 a 2011, sofri severas críticas, embates e posturas realmente assustadores de colegas contrários à unicidade do pensamento geográfico; todavia, passados mais de dez anos dessa história a situação parece estar apaziguada e funcionando muito bem, tendo a Geografia Física e a Geografia Humana dentro da subárea de Geografia como parte da grande área de Ciências Sociais Aplicadas no CNPq. -Outra importante controvérsia no contexto da qual recebi muitas críticas, e certamente embates longos, intensos e, por vezes, exagerados, é aquela ligada ao tema de minha tese de professor titular, tratando do clima e criminalidade a partir de um ensaio sobre a temperatura do ar como elemento importante na ocorrência da violência humana. Já pude comentar em outra parte deste documento a grande controvérsia vivenciada no início da penúltima década, mas gostaria de destacar que ela oportunizou-me estender o debate para fora da Geografia, aparecendo em reportagens de revistas importantes no cenário nacional e mesmo da grande mídia televisiva comercial no Brasil; em março de 2001 o tema recebeu cinco minutos de exposição num programa de domingo à noite, certamente com interesses de escamotear a então decadência do sistema penitenciário no país, mas conseguimos impor a visão crítica e não deixar que a posição determinista favorável ao governo predominasse. -A proposta de abordagem e concepção da Geografia socioambiental é o outro tema revestido de consideráveis controvérsias e críticas, e que também decorreu em debates importantes. Uma parcela dos geógrafos brasileiros não dá importância a essa proposta por não considerá-la relevante, alguns até achando que é um sinônimo falar em Geografia Ambiental ou Geografia Socioambiental, e outros até se apoiarem em outras matrizes da abordagem da relação entre a sociedade a natureza. Alguns até advogam que a abordagem deles é a única e verdadeira abordagem socioambiental na Geografia. Não tenho muito a dizer sobre essas posições, respeito o que cada um constrói e nunca arroguei a posição de ser o detentor da verdade, e nem de haver uma única maneira de conceber a Geografia Socioambiental. Entretanto, e para além de controvérsias muitas vezes pueris e jogos de poder ilusórios, sou extremamente contente de observar e constatar que nossa proposta acabou se tornando uma referência no Brasil como um todo, posto que possibilita uma interessante, segura e desafiadora abordagem geográfica da realidade. Ela não se constitui numa imposição de leitura geográfica da relação sociedade – natureza, é uma possibilidade, dentre tantas outras no âmbito da Geografia Plural e da ciência aberta e criativa! ELEMENTOS MARCANTES QUE ENTRELAÇAM SUA VIDA PESSOAL E INTELECTUAL. Para não me delongar mais no texto gostaria de destacar algumas homenagens e honrarias que marcaram minha trajetória profissional: . Medalhas de Reconhecimento pela contribuição ao desenvolvimento da ciência recebidas das Universidad de Havana/Cuba (2000) e da Universidad del Zulia/Venezuela (2003). . Professor Visitante na Université Sorbonne/França 2002 e 2005. . Professor Visitante na Université de Haute Bretagne/Rennes 2/França – 2004. . Medalha de honra ao Mérito / UFG (Universidade Federal de Goiás) – 2014. . Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da UFPR (Universidade Federal do Paraná) – Desde 2017. . Professor Visitante - PPGEO / Programa de Pós-graduação em Geografia. UERJ /. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2020/... REFLEXÃO LIVRE EM TORNO DE ELEMENTOS SUBJETIVOS QUE DIRECIONARAM AS ESCOLHAS PESSOAIS E INTELECTUAIS. Penso ser importante dar destaque à nossa atuação institucional desenvolvida desde o momento de nossa formação inicial em Geografia na UFG, e que se intensificou em outras instituições no Brasil e no exterior ao longo de nossa trajetória: . Centro Acadêmico de Geografia / UFG (Universidade Federal de Goiás) : 1982 – Membro da direção. . AGB/Goiânia (Associação dos Geógrafos Brasileiros): Tesoureiro 1982/1983 – Vice-diretor/ 1984. . AGB/Londrina: Diretor 1986. . Dep Geociências/UEL (Universidade Estadual de Londrina) – Chefe 1989/1991. . PPGEO/UFPR(Programa de Pós-graduação em Geografia) – Fundador e coordenador 1998/2003 e 2005/2007. . CAPES/Comitê de Avaliação da Área de Geografia – 1999/2002. . PPGMADE/UFPR (Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Meio Ambiente e Desenvolvimento) – Coordenador 2002/2004. . ANPPAS (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Ambiente e Sociedade) - Membro da Direção 2004/2006. . ANPEGE (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Geografia) – Presidente 2007/2009. . AIC (Association Internacional de Climatologie) – Conselho Administrativo 2003/2006, 2012/2015, Presidente 2015/2018. . UGI (União Geográfica Internacional) – CoC (Comissão de Climatologia): Membro 2012/2021. . CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) – Membro do Conselho Técnico Científico – 2020/... Eventos organizados: - Semana de Geografia / UEL – 1990. - Encontro Nacional de Estudos Sobre Meio Ambiente / ENESMA – UEL/1991. - Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada / SBGFA – UFPR/1997. - Simpósio Brasileiro de Climatologia / SBCG – UFPR/2002 e 2014. - Seminário Nacional de Impactos Socioambientais Urbanos / SENISA-URB – UFPR/2004. - Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Geografia / ENANPEGE – UFPR/2009. Tenho que destacar também a atuação na condição de orientador principal de mais de 100 (cem) Mestres e Doutores, tanto de estudantes vinculados à Geografia quanto no campo do Meio Ambiente e Desenvolvimento, e de inúmeros pós-doutores. Com eles pude avançar muitíssimo na construção de nosso pensamento, e a eles sou muito grato!
FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA FRANCISCO MENDONÇA – BIOGRAFIA COMENTADA “A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros acho que não se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data.” Guimarães Rosa. Tomo as palavras do João Guimarães Rosa, de sabedoria ímpar, para construir esta biografia comentada. Ainda que tenha tentado conta-la “seguido e alinhavado” (epígrafe), não consegui... Daí, por vezes, o texto é um vaivém danado (!), o que, talvez, não o deixe cair na “rasa importância”. Até porquê, falar de nossa própria história é sempre um desafio enorme! A memória é algo seletivo e involuntário... ao expor detalhes de nossa experiência nos colocamos naquela condição perigosa de esquecer fatos, lugares, momentos e pessoas, e de dar destaque ao que, por motivos diversos, lembramos neste momento e esquecemos em outro. Mas, efetivamente, não é possível retomar toda a trajetória da vida na elaboração de um documento como este... o que apresentamos a seguir é o que foi possível e, neste momento, conseguimos recuperar como parte dessa sala de nossa memória! Nesses duros e extenuantes tempos de acirramento da pandemia da COVID-19 e insanidade profunda no governo do país, o texto a seguir é o que resulta de nossas possibilidades presentes! DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO HISTÓRICO Nasci no dia 3 de outubro de 1960, no domingo da eleição que levou Jânio Quadros à presidência do Brasil, no Hospital dos Ferroviários da cidade de Araguari, Minas Gerais. O Brasil vivia um ensaio de democracia, era o ano da inauguração de Brasília (meses antes do meu nascimento) e num período de otimismo e alegria no país! O legado de Juscelino Kubitschek inspirava os brasileiros a acreditar que o país realmente entrava na modernidade e que tinha um futuro promissor. Sou originário de uma família de pessoas muito simples e humildes; papai era analfabeto, trabalhou em serviços gerais no campo e, na maior parte de sua vida adulta, na Rede Ferroviária Federal; minha mãe tinha o ensino primário completo, era dona de casa e costureira. Sou gêmeo com uma irmã, sendo os últimos filhos de uma família numerosa, fato comum no interior do Brasil até meados do século passado; somávamos nove irmãos, seis homens e três mulheres. Nas proximidades de meu nascimento minha família foi morar na cidade de Anhanguera, a primeira cidadezinha no estado de Goiás para quem sai do Triangulo Mineiro em direção norte. Minha família é tipicamente brasileira, do interior do país, local onde a união das três raças que compõem a miscigenação brasileira encontrou sua mais evidente expressão; meus ascendentes são negros, indígenas e brancos... todos de gênese relativamente desconhecida quanto ao local, donde árvores genealógicas sem raízes conhecidas. Essa genuinidade brasileira é algo que muito me orgulha! Meus pais eram extremamente religiosos, praticantes do cristianismo católico e nunca se envolveram em questões políticas, mesmo tendo vivenciado a ditadura varguista quando jovens, e a ditadura militar após meu nascimento. Vivi uma infância muito feliz em Anhanguera, uma vida muito ligada à natureza, numa casa de uma família numerosa na qual todos trabalhavam de alguma maneira. Aos meninos era atribuída a responsabilidade pela manutenção alimentar da casa, então plantávamos, à meia, arroz, feijão, milho, amendoim, etc; e também trabalhávamos na colheita de algodão, sendo pagos pelo trabalho. Isto desde muito cedo, lembro-me de aos sete anos de idade já trabalhar com meus irmãos na roça, uma parte do dia, na outra frequentava a escola. Aos 11 anos, já na cidade grande, vendendo salgados nos pontos de ônibus ou trabalhando de ajudante em mercearia, ajudava na renda da casa, responsabilidade que aprendíamos desde a tenra idade. Aos 14 anos tive meu primeiro registro de trabalho CLT, 8 horas de trabalho por dia, e passei a estudar à noite, tendo concluído no ano seguinte o ensino de primeiro grau (1975). Me considero um “minerano paranaense”; nasci em Minas Gerais, morei até a juventude em Goiás, de onde saí aos 24 anos para o Paraná, onde vivo. Como a maioria das famílias pobres do mundo rural brasileiro de meados do século passado, ou das cidades pequenas, a minha migrou para a cidade grande, Goiânia, em 1969, e fomos morar numa pequena casa da periferia pobre da cidade. Chegamos em Goiânia no momento em que o homem pisava na lua pela primeira vez, acontecimento que me marcou profundamente (tenho vivas na memória as imagens em preto e branco transmitidas pela televisão), foi algo incrível! Outro fato inesquecível foi a transmissão da Copa do Mundo/1970, no México, quando o país, muito festivo, vivenciava a ditadura militar, que nos obrigava, criança que éramos, a cantar os vários hinos militares em todas as atividades da escola, a ter aulas de Educação Moral e Cívica e OSPB – Organização Social e Política do Brasil, além da obrigatoriedade da Educação Física. O ano de 1972 foi pródigo a este respeito, nele o Brasil comemorava o Sesquicentenário da Independência, toda a cultuação do patriotismo, civismo e militarismo foi exacerbada! Em 1985 fui aprovado em concurso público para professor na Universidade Estadual de Londrina e me mudei para esta cidade; ali reside até janeiro de 1996 e, ao mesmo tempo em que atuava como professor universitário, cursei o mestrado e o doutorado na Universidade de São Paulo. Vencia os 500 quilômetros entre Londrina e São Paulo nas viagens noturnas de ônibus, passava dois ou três dias na capital paulista em aulas, seminários e colóquios, e regressava para ministrar aulas na UEL. No segundo semestre de 1991 fui aprovado em concurso público na Universidade Federal de Santa Catarina, mas não assumi a vaga. Todavia, em 1995 consegui aprovação, em primeiro lugar, no concurso público para professor na Universidade Federal do Paraná, mudei com minha pequena família para Curitiba, e assumi o cargo no início de 1996, onde moro desde então. A escolha da geografia como curso superior foi algo completamente casual! Como tive que trabalhar para me sustentar desde muito cedo, dado a perda dos meus pais ainda criança, e da consequente diáspora familiar, não me restava muito tempo para estudar. Assim, mesmo com as dificuldades cotidianas e o fato de estudar em uma escola de periferia, alimentei o sonho de estudar medicina, que era, de fato, uma tentativa de realizar o desejo de minha mãe. Os últimos anos de vida dela foram marcados por problemas de saúde, embora ela era ainda relativamente jovem (50 anos), sonhava que um filho pudesse ajudá-la a amenizar o sofrimento; este sonho dela recaiu sobre mim, posto que era o único que cultivava o gosto pelos estudos. Assim, meu primeiro vestibular realizado no início de 1979 foi para o curso de medicina; obviamente não passei dentre os 110 primeiros classificados para as vagas disponibilizadas pela UFG; todavia, eu havia tido uma muito boa classificação, o que me levou a tentar seguir algumas disciplinas de maneira livre da universidade, mas não foi possível dar consequência a esse intento. O curso sendo em horário integral nos exigia muito tempo de dedicação aos estudos e eu não tinha como deixar de trabalhar, o que me fez desistir da medicina logo nos primeiros meses; abandonei a universidade e os estudos. Eu já trabalhava na Ford, recebia um salário um pouco melhor que a fase anterior e, devido à frustração com a condição de vida, me entreguei às festas e aventuras da juventude. No segundo semestre de 1979, por muita insistência da irmã mais velha, que desde quando eu era bebê foi a minha segunda-mãe, voltei a estudar e a tentar o ingresso na universidade. Ela tinha concluído o ensino médio e sabia da importância de uma formação no ensino superior, sobretudo tinha a clareza da importância da formação superior para a definição profissional via formação universitária. Me inscrevi no vestibular de 1980 na UFG. Estando na fila e sem saber qual curso escolher, disse a mim mesmo fazer a opção pelo mesmo curso que a pessoa que estava na minha frente na fila fizesse; ao chegar minha vez diante do guichê olhei, de soslaio, para a ficha que estava sendo marcada pelo candidato à frente, ele marcou o curso de geografia! Sem saber ao certo o que fazer decidi cumprir a minha auto promessa e marquei também geografia; fui aprovado no vestibular com uma muito boa classificação que foi motivo de muita alegria, ainda que eu não soubesse nada da possibilidade de atuação profissional. Matriculei-me curso de geografia da UFMG em março de 1980, todavia sem poder frequentar o curso que funcionava no período matutino! Sob o conselho da secretária do departamento de Geografia para não desistir, inscrevi-me em disciplinas ofertadas à noite junto com alunos de outros cursos; naqueles anos os cursos de graduação tinham um primeiro ano de disciplinas comuns. Assim, cursei as disciplinas de língua portuguesa, introdução à filosofia, à sociologia, organização do trabalho intelectual e EPB, que era uma disciplina de época, um resquício da ditadura militar; aquele início de 1980 foi o momento de me apaixonar pelos estudos universitários, pela profundidade que se dava ao conhecimento, especialmente a disciplina de língua e literatura brasileira, ministrada pelo inesquecível professor João Hernandes Ferreira. Ele nos seduziu para a língua e literatura brasileira, nos maravilhou com a leitura de João Guimarães Rosa, de Graciliano Ramos, de Machado de Assis, de Jorge Amado e de tantos outros... foi uma imersão sem volta! Eu, que já vinha de uma paixão pela literatura, através da leitura escolhida à esmo ao longo da adolescência e do inicio da juventude encontrava, na universidade, a possibilidade de dar vazão a um prazer que não podia dividir com os amigos e colegas do mesmo contexto social anterior! As disciplinas do curso de geografia só fui mesmo iniciar no segundo semestre de 1980, e ainda assim só pude cursar duas ou três; tive que matar muitas aulas e também muitas manhãs no trabalho. Como eu trabalhava na inspeção final de carros novos da Ford tinha que fazer os testes de quilometragem inicial e, com a cumplicidade do motorista responsável pelos testes, saltava do veículo próximo à universidade e ia assistir a partes das aulas; boa parte de meus colegas acha que eu era muito rico, pois viam-me saltar de um Galaxie ou de um Landau novinho, com motorista, na frente da sala de aulas!!! Perdi várias aulas de campo, boa parte dos conteúdos das disciplinas e conclui o segundo semestre com notas apenas passáveis... aliás, meu histórico de graduação é medíocre! Durante o ano de 1981 consegui alterar minha função e o horário de trabalho na concessionária Ford; passei a entrar no trabalho às 13h e sair às 19h quando assumi a seção de garantia de peças de automóveis da empresa. Ganhei uma bolsa para cursar inglês num concurso de rádio e fiz o meu primeiro ano de introdução nesta língua, tendo uma aula no início da noite no meio da semana e outra no sábado à tarde. Todavia, por ser o único funcionário, dentre mais de uma centena, que gozava da possibilidade de um horário especial, os conflitos não demoraram a aparecer, pois outros funcionários reclamavam a mesma regalia à direção geral. Colocado contra a parede tive que decidir, no início de 1982, entre o trabalho e os estudos... a esta altura a geografia, a universidade, e o movimento político já haviam me conquistado; deixei o trabalho e arrisquei-me na aventura de levar uma vida sem nenhuma garantia do sustento do cotidiano! Algo que me despertava bastante a atenção era o fato de começar a entender os problemas brasileiros no âmbito da conjuntura política de então. Para um jovem da classe baixa, forjado a lutar diariamente por casa e comida, a dimensão política era algo muito distante e fora dos pensamentos e preocupações do momento; minha vida tinha sido muito marcada por uma forte ligação ao catolicismo e à igreja, por influência de meus pais, especialmente da minha mãe, mas a universidade começou abrir meus olhos, algumas disciplinas me mostravam um outro Brasil, especialmente aquelas da geografia humana, a língua e literatura brasileira e a filosofia da ciência. No plano político, nosso envolvimento com o Centro Acadêmico da Geografia, do qual fiz parte da direção, e da AGB-Seção Goiânia, foi fundamental para alavancar nossa curiosidade e nossa atuação no movimento estudantil; várias de nossas manifestações públicas contra a ditadura e em defesa de mais recursos para a educação, com enterros simbólicos do então Ministro da Educação e passeatas pela cidade, por exemplo, davam vazão à nossa luta inicial por justiça social e democracia no país. O curso de geografia da UFG, naquele início de anos 1980, era um curso padrão, creio que era como a grande parte dos cursos das universidades periféricas do Brasil, ou seja, era um curso muito marcado por um viés de cunho positivista, de uma geografia decorativa e com parte dos professores com débil formação; estes não tinham, em geral, nenhuma perspectiva de desenvolver com seus alunos o senso crítico e a formação da cidadania no país que, naquele momento, estava sob uma forte ditadura militar. Parte de meus professores deixaram muito a desejar ante os olhos de jovens curiosos e interessados na mudança do país; entretanto, e paradoxalmente, tive a ventura de ter encontrado alguns professores que fizeram a diferença em nossa formação. Com esses outros professores pudemos iniciar a militância política, tanto na geografia como na sociedade e foi, sem sombra de dúvidas, com a ajuda deles que o mundo se abriu aos nossos olhos e que pudemos desenvolver uma trajetória ligando a geografia à política, à sociedade, ao meio ambiente e à justiça social. Dentre estes inesquecíveis mestres destaco os professores Horieste Gomes, Valter Casseti, Elza Stacciarini, Clyce Louyse, Tércia Cavalcante, Estela Correa e Maria Helena. O movimento estudantil do qual participávamos foi a porta de entrada para a militância política via PCB – Partido Comunista Brasileiro, ao qual estivemos vinculados por aproximadamente três anos. O movimento “Diretas Já”, um dos mais importantes para o resgate da democracia no Brasil, envolveu-nos de tal maneira que nosso cotidiano se fez com atividades permanentes no seio desta magnífica peça histórica de nosso país. A defesa da justiça social, da liberdade e da democracia e, evidentemente da melhoria da educação, estavam na nossa pauta de luta e, para além desses temas, nós nos vinculamos a uma temática que marcou, desde então, minha carreira, que é a luta em defesa do meio ambiente. Essa pauta teve origem a partir dos grandes debates que nós organizamos na universidade e fora dela, em movimentos em defesa da ecologia, contra o projeto Carajás, contra o projeto Jari, contra a Transamazônica, contra a degradação da Amazônia e do Cerrado, etc. Para nós, jovens militantes e estudantes, ao promover este tipo de desenvolvimento, o governo do país atuava de maneira entreguista e condenava o futuro do país ao atraso e ao caos! Ainda nesse período de graduação devo destacar nossa participação na AGB-Associação Nacional dos Geógrafos Brasileiros - Seção Goiânia, através da qual pude fazer várias viagens, participar de muitas reuniões de gestão coletiva, inúmeros congressos e conhecer melhor a geografia brasileira que, naquele momento, inaugurava o movimento da Geografia Crítica. Conheci e atuei junto a muitos dos importantes geógrafos brasileiros daquele momento, dos quais cito Orlando Valverde, Ariovaldo Umbelino, Rui Moreira, Carlos Walter, José Borzachielo, Milton Santos, Aziz Ab’Saber, Berta Becker, Manuel Correa de Andrade, Antonio Carlos Robert Moraes, e muitos outros. Sob a influência deles pude afirmar minha convicção de ter escolhido um campo do conhecimento de grande relevância social, e que me dava muito prazer ao me revelar a complexidade do mundo no qual estamos imersos. Mudei-me para Londrina em 1985, quando ingressei na Universidade Estadual como professor universitário, e de lá me mudei para Curitiba em janeiro de 1996, cidade onde resido desde então. Em Londrina nasceu Sabina, minha primeira filha e, em Rennes/França, durante o doutorado sanduiche, nasceu Anaiz; em 2011 Liza nasceu em Curitiba e, em 2020 recebemos o Caio... Estes são meus quatro filhos, um presente do universo em minha vida, que muito alegram meus dias junto à Márcia, minha companheira. Os anos vividos em Londrina, em Rennes, em Londres, em Paris e em Curitiba foram todos muito movimentados; embora nunca mais tenha me vinculado a nenhum partido politico sempre militei junto aos partidos de esquerda, e optei por fazer uma militância em defesa da educação e da ciência, especialmente aproveitando o momento da redemocratização e de desenvolvimento que o país passou a vivenciar após a década de 1990. Assumi a liderança de instituições no Brasil e no exterior, na academia e fora dela, como se verá nos detalhes destes últimos trinta anos comentados à frente. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA A GEOGRAFIA BRASILEIRA. Datas e locais de constituição da carreira na geografia. Cursei a graduação em geografia entre os anos de 1980 e 1983, ou seja, nos extertores da ditadura militar no Brasil. Goiânia, localizada a aproximadamente 200 quilômetros de Brasília, era fortemente influenciada pelo contexto da ditadura, pois ela se situação no arco da área de “controle” do governo central. Talvez por isto tenhamos vivido ali certas ações de repressão que certamente já não aconteciam nas demais cidades brasileiras; nossas manifestações estudantis eram muito vigiadas, reprimidas, e estávamos sempre sob a mira dos militares. Durante o curso de graduação em geografia na UFG conclui também uma formação relacionada à filosofia da ciência, tendo como temática central o marxismo histórico e dialético, um curso que funcionava aos sábados e que teve duração de dois anos, ofertado pelo CEFEG - Centro de Estudos Filosóficos e Econômicos de Goiás. Este curso foi fundamental para nosso aprofundamento no conhecimento da história das sociedades e na compreensão da luta de classes como motor da história; foi a base para nossa tomada de consciência mais firme acerca de nossa condição social, bem como da necessária atuação dos movimentos sociais no processo histórico. Iniciei na profissão de professor ao mesmo tempo que realizava o curso de graduação. Nossa primeira experiência foi no ensino fundamental e médio; iniciei na profissão no ano de 1982 em escolas particulares de Goiânia, nos Colégio Galáxia e Colégio Carlos Chagas em 1982, por convite dos amigos Sérgio Camargo e João de Castro, respectivamente e, no Colégio Agostiniano N. Sra. de Fátima, em 1984, por processo seletivo. Em fevereiro de 1985 fui aprovado no concurso para professor substituto no Departamento de Geociências da Universidade estadual de Londrina, onde assumi uma vaga na cadeira de Geografia física e, naquele mesmo ano, em novembro, fui aprovado em primeiro lugar no concurso público para efetivar essa vaga. Em fevereiro de 1986 ingressei no curso de mestrado em Geografia Física da Universidade de São Paulo, e o concluiu em junho de 1990, sob orientação do professor José Bueno Conti; minha dissertação teve por título A evolução socioeconômica do Norte Novíssimo de Paranavaí e os impactos ambientais - Desertificação? Na banca de defesa as professoras Dirce Suertegaray e Ana Maria Marangoni, além do orientador. Para cursar o mestrado, já sendo professor universitário e não gozando de licença para estudos, tive que fazer viagens noturnas semanais entre Londrina e São Paulo, um trecho de aproximadamente 500 quilômetros; viajava nas noites de segundas ou terça-feira assistia aulas e realizava outras atividades, e voltava para o trabalho na noite seguinte. Neste período fui contemplado com uma bolsa de estudos do CNPQ para realizar um estágio na Universidade da alta Bretanha, em Rennes/França, sob orientação do professor Robert Barriou; o estágio tinha por tema a aplicação de imagens de satélite aos estudos da Geografia. Nesta estada na França aprendemos a língua francesa e pudemos manter uma rica interlocução com o professor Jean Dresch, aposentado da Université Sorbonne, de Paris; a contribuição dele foi fundamental para desenvolver minha dissertação, e nossas reuniões aconteciam na casa dele num bairro próximo ao Cartier Latin, onde eu era sempre muito bem recebido. Em 1991 fomos admitidos para realizar o curso de doutorado, também sob orientação do professor José Bueno Conti (5), na USP (2), agora sobre o tema clima e planejamento urbano. Defendi, em maio de 1995, uma tese que versava sobre a abordagem conceitual, teórica e metodológica do tema, avançando em novas abordagens, ao mesmo tempo que as exercitando no estudo de caso de uma cidade de porte médio, a cidade de Londrina/PR. Durante a realização do doutorado voltamos à França, a convite dos colegas do laboratório COSTEL – Climat et Occupation du Sol par Teledetection - na equipe do professor Barriou e, desta feita tivemos também a orientação do professor Jean Mounier, um renomado geógrafo da climatologia e que era reitor da Université Rennes II. A tese teve por título Clima e planejamento urbano de cidades de porte médio e pequeno: Proposição metodológica e sua aplicação à cidade de Londrina/PR, e a banca de defesa foi composta pelos professores Yahoyia Nakagawara, Joaquim Guedes, Magda Lombardo, Augusto Titarelli e pelo orientador. Em 1999 nos submetemos ao concurso para Professor Titular na Universidade Federal do Paraná; tivemos então que elaborar uma tese, um dos critérios daqueles concursos da época, além das provas escrita, de currículo, de memorial e da aula. A tese que elaboramos teve como título “Clima e criminalidade – Ensaio analítico da correlação entre a temperatura do ar e a violência humana”, e a banca do concurso foi composta pelos professores: Riad Salamuni/UFPR, José Popp/UFPR, Helmut Troppmair/UNESP, Sueli Del Grossi/UFU e Roberto Cassol/UFSM. Esse concurso constituiu um passo importante na consolidação de nossa carreira e, a tese, uma abertura para a abordagem da análise em Geografia da Saúde, que nos interessava já desde o doutorado. No ano de 2002 fomos convidados para atuar como professor na Université de Sorbonne Paris I, no Institut de Geographie, onde passamos alguns meses ministrando aulas, desenvolvendo pesquisas e cooperação internacional, bem como fortalecendo parcerias já iniciadas anos anteriores. Em 2004 e 2005 realizamos atividades de pós-doutorado e de professor visitante em universidades francesas e inglesas; voltamos à Rennes como professor convidado, onde trabalhamos com o professor Vincent Dubreuil e, na London School of Hygine and Tropical Medecine (9) com a professora Carolyn Stephens. Retornamos à Sorbonne, por alguns meses, e dessa feita nosso trabalho foi realizado com o professor Frederic Bertrand; ele, como os demais, tornaram-se nossos amigos para a vida. Foi também nesta estadia de Paris que estabelecemos uma relação de amizade e importantes debates com o professor Michel Maffesoli, cujo tema de interesse era o desenvolvimento do Brasil, aproveitando o boom do governo Lula e a meteórica projeção do Brasil como uma potencia no mundo de então! O Seminário que organizamos na Sorbonne, em maio de 2005, intitulado “Le Brésil: Geopolitique et environnement actuels”, no Amphi De Martonne – Institut de Géographie, havia tido um sucesso fenomenal, fato que ensejou debates e publicações que se seguiram. Ainda naquela maravilhosa estadia pudemos dividi-la com o mestre Carlos Augusto F. Monteiro (7) que veio morar conosco no apartamento da Rue des Ecoles, e nos ensinar tantas coisas sobre a arte, a cultura, a ciência e a vida! Em 2014 realizamos um estágio pós-doutoral na Universidad de Chile, em Santiago, onde pudemos trabalhar com o professor Hugo Romero, um colega e amigo de longa data! Esta estadia nos permitiu aproximar um pouco mais da realidade da geografia na América Latina, ao mesmo tempo que aprofundar nossas análises acerca da relação entre o clima urbano e o planejamento de cidades na contemporaneidade. Os meses vividos no Chile coincidiram com parte dos anos de intensas manifestações estudantis e da sociedade em defesa da democracia e da justiça social, especialmente do acesso gratuito à universidade pública. Os intensos conflitos que eram travados entre estudantes e parte da população contra as forças do governo reavivaram a expectativa de dias melhores naquele país, então visto como sucesso econômico, mas com gravíssimos problemas sociais! No Brasil, desde o ano anterior, a jovem e imatura democracia já registrava graves problemas de sua manutenção e consolidação! PESQUISAS EXPRESSIVAS REALIZADAS QUE MARCARAM O PERFIL ACADÊMICO Nos quase 40 anos de pesquisas em Geografia pude desenvolver um conjunto de temáticas que me interessaram e que me envolveram profundamente. Vou destacar aqui algumas delas, certamente esquecerei de outras, mas vou dar luz às que mais se destacaram: - A temática ambiental ou abordagem ambiental na Geografia é sem sombra de dúvidas a temática a qual me liguei desde o início da formação na graduação. É sobre ela que tenho trabalhado ao longo de toda a minha carreira. Eu situaria que os primeiros estudos nesta temática foram realizados em disciplinas na graduação, em trabalhos acadêmicos e, ao mesmo tempo, atuando junto a movimentos ambientalistas que, naquele momento dos anos 1980, em Goiânia e Brasília, no Brasil Central, animavam a nossa atuação. Creio também que o interesse por esta temática tenha uma raiz na minha primeira infância, no baixo vale do rio Paranaíba onde se situa a cidade de Anhanguera e onde, desde muito pequeno, me fascinava os banhos nos córregos, as enchentes do rio, o prazer do cheiro de terra molhada de chuva, o plantar e o colher nos solos argilosos, a beleza dos flamboyants e dos pores do sol, enfim, tanta coisa linda da natureza! -A primeira pesquisa de cunho acadêmico que realizei foi no âmbito da Geografia Humana, aplicando as concepções teóricas de Milton Santos no estudo da economia urbana. Juntamente com dois colegas, Cesar e Sirlane, fizemos um estudo orientado pela professora Clyce Louise que versou sobre a gênese e a dinâmica do comércio ambulante em Goiânia. Essa pesquisa foi essencialmente ancorada em levantamentos primários de campo e retratou a gênese do comércio ambulante na área central da cidade, especialmente no eixo monumental da avenida Goiás, a principal avenida da cidade; ela atestava a degradação das condições de vida urbana e de trabalho, sua precarização, ao mesmo tempo que evidenciava a complexização da vida urbana nas cidades brasileiras do início dos anos 80. Essa pesquisa nos rendeu uma importante premiação; nossa monografia foi classificada em primeiro lugar no concurso organizado pelo INDUR - Instituto de Desenvolvimento Urbano e Regional de Goiás - por ocasião do aniversário dos 50 anos da cidade de Goiânia! Foi meu primeiro grande estímulo para desenvolver pesquisa doravante! -No final da minha graduação tive a oportunidade de exercitar as meus conhecimentos em Geografia, especialmente a parte ligada aos estudos da Geografia Física, e usando da fotointerpretação. Pude atuar, a convite, para desenvolver uma consultoria num grupo de antropólogos e historiadores liderados pelas antropólogas Renate Viertler/USP e Irmie Wurst/PUC-GO, num trabalho que versou sobre o mapeamento dos sítios arqueológicos da área dos índios Boróro, tribo indígena que ocupou uma grande área no Brasil Central. O que estava na base daquela pesquisa era o fato de que, naqueles anos 1970 e 1980, o índice de suicídio, alcoolismo e prostituição, com elevada taxa de homicídios entre os indígenas, era muito elevada; a pesquisa buscava então, ao recuperar traços da história deles, ajudar na redução dos graves problemas identificados. -Dando continuidade a meus interesses em trabalhar com indígenas pude desenvolver, juntamente à antropóloga Kimie Tomasino, dessa feita já trabalhando na UEL e como autor da pesquisa, um estudo sobre a degradação ambiental e a qualidade de vida dos índios Kaingang, no Norte do Paraná, especialmente da reserva indígena do Apucaraninha. O objetivo deste estudo era levantar subsídios para auxiliar nas lutas em defesa dos indígenas e de suas terras, posto que havia interesses escusos de tornar a área um espaço de exploração turística, algo que ameaçava a integridade cultural e a vida daquele povo. -A temática e questão ambiental estiveram no cerne de minha dissertação de mestrado, que versou sobre a análise acerca da interação entre a exploração econômica - produção cafeeira - e a degradação ambiental generalizada no Noroeste do estado do Estado do Paraná. Esse processo foi por nós analisado sob a perspectiva da desertificação ecológica, tendo como premissa uma construção conceitual internacional para a abordagem da desertificação, e também do meu próprio orientador, professor José Bueno Conti, para o caso da desertificação ecológica. Na dissertação pudemos colocar em evidência uma abordagem acerca da apropriação das riquezas naturais no âmbito do sistema capitalista de produção e, portanto, da sua degradação e dilapidação, associadas à introdução de um novo cultivo de exportação, sem respeitar os limites da Natureza. O estudo colocou em evidência toda uma análise da formação natural daquela paisagem e, ao mesmo tempo, mostrou como a lógica da expansão agrícola, urbana e viária inconsequente gerava uma profunda degradação ambiental que, em última instância, se manifestava na perda de população e na redução da produção econômica regional. -No doutorado dei sequência a essa perspectiva da análise ambiental integrada, a partir da qual a relação, ou interação, Geografia Física e Geografia Humana, foi a perspectiva de análise que já vínhamos desenvolvendo na Geografia. Nossa tese de doutorado teve como problemática de pesquisa a formação do clima urbano em cidade de porte médio e pequeno, visando o planejamento e a gestão urbana como caminhos para garantir qualidade de vida na cidade. O estudo focou o campo térmico urbano como derivado da interação entre a sociedade e a natureza nos espaços de aglomeração humana, tratando da questão do conforto ambiental no âmbito das Ilhas de Calor Urbano. A tese trouxe não só avanços no campo teórico e conceitual do clima urbano, mas também no aspecto metodológico e técnico e propôs, ao final, sugestões para o planejamento urbano, notadamente dando ênfase à importância das áreas verdes na cidade, como um dos elementos controladores da qualidade ambiental urbana. A realização da tese de doutorado nos permitiu delinear um pouco mais amiúde nosso campo de interesses na pesquisa geográfica, que passou a ser, desde então, o estudo da cidade tomando o clima urbano como central nas analises da problemática socioambiental urbana. Nosso pensamento sempre esteve marcado pela preocupação com a justiça social e, obviamente, o estudo da cidade dos países não desenvolvidos, especialmente do Brasil, sempre pautou a questão da exclusão e da segregação sócioespacial como condições fundamentais para se entender a lógica da produção e da reprodução dos espaços urbanos no contexto destes países. Além do campo térmico do clima urbano, e passando a estuda-lo em cidades grandes e regiões metropolitanas nos últimos vinte anos, inserimos também o enfoque sobre o problema das inundações urbanas e da poluição do ar nas cidades. -Para elaborar a tese para o concurso de Professor Titular pude escolher uma temática que me acompanhava de longa data e para a qual não pude dar muita atenção, mas que estava presente tanto durante o mestrado quanto o doutorado. Voltando um pouco mais no tempo, percebo que ela estava presente desde a minha juventude, tendo aparecido no primeiro vestibular que fiz quando acalentava o sonho de cursar medicina. A questão da saúde humana me tomou de cheio quando fui pensar no tema de estudo para elaboração desta tese; assim, liguei os conhecimentos no campo da Climatologia, da Climatologia Médica e da Geografia Saúde, e pude associá-los com algo que me chamava muito a atenção nos anos 90, que é aa violência urbana. A partir dos anos 1980 e 90 ela passou a ser um dos temas de maior preocupação da humanidade; infelizmente essa problemática tem se intensificado sobremaneira nas últimas décadas, especialmente nos países não desenvolvidos. Nossa questão de pesquisa se colocava da seguinte maneira: Será que a Violência humana resulta somente das condições sociais / psicológicas? Não haveria nenhuma influência do meio ambiente e das condições ambientais na ocorrência da violência humana? para responder a essas questões nós fizemos um levantamento histórico a partir de bibliografias de referência, e constatamos que era um tema que estava evidente desde longa data; pudemos então relacionar a violência humana com as condições urbanas, com as condições de vida na cidade, e fizemos então uma análise da interação entre o clima urbano, o planejamento da cidade e a violência urbana. -a elaboração da tese do titular então constituiu-se na retomava de um campo de estudos que, no Brasil, tinha sido é relativamente desenvolvido por médicos sanitaristas na primeira metade do século XX e que tinha sido enfraquecida na segunda metade deste século. Nosso estudo, desenvolvido no campo da Geografia Médica e da Saúde, foi sequenciado pela aplicação de toda uma base conceitual, teórica e metodológica que havíamos adquirido por ocasião da elaboração do doutorado e da tese de titular. Assim, encaminhamos nosso olhar para uma problemática que tomou vulto a partir dos anos 1990 e que, nas últimas duas décadas tem sido de altíssimo interesse da sociedade e dos governos do Brasil e do mundo, que é a questão das doenças transmissíveis ou negligenciadas (conforme a terminologia da OMS). Dentre as doenças nosso maior interesse tem sido pela dengue, doença que fez várias importantíssimas epidemias nos últimos no Brasil nos últimos vinte anos, e para a qual não há um controle clínico e nem tampouco da transmissão. Ela é uma doença que demanda atuação de vários profissionais, dentre eles os geógrafos, porque as condições de reprodução do vetor e de transmissão do vírus sofrem influencias diretas das condições ecológicas e geográficas das cidades. A dengue é, portanto, um grande problema social, econômico, político e cultural, concebido e abordado no campo da saúde pública, sendo o tema sobre o qual temos desenvolvido pesquisas nos últimos vinte anos. Além das importantíssimas epidemias que foram registradas no Brasil nossa questão para desenvolver esta pesquisa se relaciona sobretudo ao fato de que as mudanças climáticas globais, e o aquecimento climático global, constituem elementos propiciadores à intensificação da doença e sua expansão geográfica para áreas que hoje são indenes à doença; dentre estas estão as áreas subtropicais e temperadas do mundo, além das regiões de altitude mais elevada. Nossa principal preocupação ao estudar esta doença é que ela depende fortemente do meio geográfico para sua ocorrência, tanto do ponto de vista da condição ecológica (fatores e elementos da geografia física) das cidades, quanto das condições sociais, econômicas, políticas e culturais da urbe, que concorrem para o espraiamento e intensificação dela em países como o Brasil. -Quero ressaltar que a temática das mudanças climáticas globais e suas repercussões regionais e locais tem estado no centro de nossas pesquisas nos últimos, aproximadamente, vinte e cinco anos, através projetos de pesquisa que envolvem, na maioria das vezes, o ambiente urbano. Nesse particular ressalto o interesse dos estudos pela qualidade e condições de vida na cidade enfocados sob a perspectiva do tripé riscos, vulnerabilidades e resiliência das áreas urbanas. Ressalto que, no âmbito de nossas reflexões aparece, muito nitidamente, o interesse pelo enfoque deste tripé, que está na ordem do dia de nossas pesquisas. -Ah, last but not least… não posso deixar de mencionar nosso interesse e dedicação aos estudos no campo da epistemologia da geografia, especialmente porque ministro aulas deste tema, como disciplina, desde o final dos anos 1990! (Várias de nossas publicações resultam deste campo de reflexões). Aqui ressalta nossa curiosidade intelectual, as leituras e debates no campo filosofia, a ousadia de tentar conhecer um pouco mais acerca desta fabulosa aventura que é a produção consciente e consequente do conhecimento científico e vernacular! Trata-se de um grande desafio no qual, quanto mais avançamos mais temos a convicção da necessidade de que mais ainda falta para avançar! PARCERIAS DE PESQUISA AO LONGO DA CARREIRA. As parcerias de pesquisa que estabelecemos ao longo de nossa carreira podem ser concebidas de duas maneiras, aquelas estabelecidas no plano pessoal, ou seja, com colegas com os quais desenvolvemos nossas pesquisas e, também, aquelas de ordem institucional, ou seja, a ligação institucional é que permitiu a interação entre nossas atividades e aquelas de outros colegas através da interação e institucional. Corro um grande e perigoso risco de não mencionar todas as pessoas e todas as situações com as quais tive a felicidade interagir ao longo desses mais de quarenta anos de atividades no campo da Geografia e do Meio Ambiente e Desenvolvimento, mas vou pontuar algumas na expectativa de ser perdoado por aquelas que não mencionar; a lista é longa, devo admitir. -Para desenvolver a pesquisa do doutorado tive a felicidade de contar com este que acabou me influenciando sobremaneira na estruturação de minhas idéias, e de grande parte da minha produção intelectual e científica, o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Sua influência se evidencia em grande parte das minhas escolhas temáticas e de um certo delineamento do meu pensamento, a partir das discussões que travamos e das incríveis e riquíssimas contribuições que ele me passou, a partir da sua própria trajetória científica e de sua experiência de mundo. Nós não desenvolvemos nenhum projeto e nenhuma pesquisa juntos, em particular se considerarmos o padrão científico e acadêmico de pesquisa científica, mas esta foi a mais longa, intensa e importante parceria que pude estabelecer ao longo de minha carreira, especialmente para a integrada, holística e aberta abordagem ambiental na Geografia e na interdisciplinaridade. -A primeira grande influência que recebi no período da graduação foi do professor Horiestes Gomes (6) e do professor Walter Casseti; ambos foram fundamentais para delinear aquilo que pude vir a desenvolver posteriormente, a abordagem ambiental numa perspectiva de complexidade. A parceria com o Prof Horieste se dava tanto no plano da academia e na atuação à frente da AGB-Seção Goiânia, quanto da militância política, sendo que a inspiração pela Geografia Física veio do Prof Casseti; a Profa Elza completou a tríade despertando-me para o interesse da cartografia e aerofotogeografia. Foi também na graduação que tive os meus primeiros parceiros de pesquisa ao elaborar a monografia sobre os comércio ambulante em Goiânia, já mencionados anteriormente. -Da mesma maneira como anteriormente citado, dentre minhas primeiras parcerias ressalto o trabalho sobre os indígenas, que elaborei em parceria com as antropológicas Irme Wurst e Kimie Tomazino. -Por um considerável período pude desenvolver meus estudos recebendo a colaboração de um querido professor da Université de Haute Bretgne, na França, o professor Robert Barriou, que muito me ensinou sobre a aplicação da cartografia automática e das imagens de satélites aos estudos ambientais. Na mesma universidade tive também a colaboração do Prof Jean Mounier e, desde os anos 1990 do amigo e colega Vincent Dubreuil; com este último temos desenvolvido tanto pesquisas no campo da climatologia quanto a atuação à frente de instituições como a AIC – Association International de Climatologie. Ainda na França destacaria as parcerias com os colegas da Université de Sorbonne/Institut de Géographie (8), os professores Frederic Bertrand e André Fischer; juntos desenvolvemos interessantes pesquisas, organização de eventos, publicações e a fundação do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFPR. -Ainda no que concerne às parcerias com colegas do exterior, nos últimos dez anos pude estreitar a colaboração e parceria de pesquisa em Climatologia, tanto quanto a análise de situações de risco e vulnerabilidade ao clima e sua relação com as doenças transmissíveis, com colegas do Canadá (o Prof Guillaume Fortin – Université de Moncton) e da Itália (Profa Simona Frattiani – Universitá de Turin). Uma das mais importantes parcerias internacionais que estabeleci é aquela com o professor Hugo Romero (Universidad de Chile, em Santiago) com quem tenho desenvolvido estudos envolvendo a Geografia, a Geografia Física e a Climatologia urbana no contexto da América Latina. -Estabeleci ricas e profícuas parcerias nos últimos trinta anos especialmente relacionadas à temática e problemática socioambiental urbana, em projetos que desenvolvemos vinculados ao Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná. Trata se de um programa é interdisciplinar no âmbito do qual coordenei por aproximadamente vinte anos a linha de pesquisa relacionada ao ambiente urbano; destaco as parcerias com vários arquitetos, dentre eles a professora Iara Vicentini, a professora Cristina de Araújo Lima e o professor Clovis Ultramari; nesse mesmo grupo de pesquisa destaca-se a parceria bastante intensa com a professora Myrian Del Vecchio de Lima, da área de comunicação. -Durante o período que estivemos vinculados à Universidade Estadual de Londrina pudemos estabelecer parcerias muito importantes no Departamento de Geociências; em primeiro lugar destaco a professora Nilza Freres Stipp, quando do desenvolvimento do projeto de pesquisa relacionado à degradação ambiental do Rio Tibagi, que envolveu vários colegas da UEL e de outras instituições. Na mesma universidade lembro dos professores Omar Neto Fernandes de Barros e Mirian Vizintin; juntos criamos o laboratório de sensoriamento remoto no final início dos 90 laboratório. -Tive uma intensa e longa parceria de pesquisa com uma colega do Departamento de Geografia da UFPR e com a qual produzimos pesquisas e atividades de ensino, e publicamos um dos mais importantes livros de minha carreira, a professora Inês Moresco Dani-Oliveira. Juntos criamos o LABOCLIMA - Laboratório de Climatologia da UFPR que desde o final dos anos 90 desenvolve pesquisas variadas em Climatologia, mas com um enfoque central sobre o clima urbano. Na última década e ligado à este laboratório minha parceria se faz com o professor Wilson Flávio Feltrim Roseghini, que dá continuidade às pesquisas outrora elaboradas em parceria com a professora Inês Moresco. -As pesquisas relacionadas à dengue que temos desenvolvido nos últimos vinte anos anos permitiram desenvolver um conjunto de parcerias, tanto no Brasil quanto no exterior. No campo da saúde pública, no Brasil, cito a Médica Angela Maron (SESA/PR) e o professor Lineu Souza (UFPR), o professor Ulisses Confalonieri (FIOCRUZ), e o professor Daniel Canavese (UFRGS – Saúde Pública). Ainda no nosso país e no âmbito da Geografia da dengue, colegas de inúmeras universidades e institutos de pesquisa também têm desenvolvido conosco pesquisas relacionadas à dengue: Érica Collishonn (UFPEL), Gustavo Armani (IG/SP), Antônio Carlos Oscar Júnior (UERJ), Vicentina Anunciação (UFMS), Ercília Steinke, Valdir Steinke e Hellen Gurgel (UNB), Ranyere Nóbrega (UFPE), Maria Elisa Zanella (UFC), Jose Aquino Junior e Zulimar Márita (UFMA) e Reinaldo Souza (INPA). -Outras parcerias que temos desenvolvido em nossa trajetória científico e intelectual são aquelas com os professores Márcia Carvalho, Cláudio Bragueto, Fabio Cesar Alves da Cunha e Deise Fabiana Ely (UEL), Gislaine Luis (UFG), Josefa Eliane, Márcia Eliane, Rosemeri Melo e Jailton Costa (UFS), Adriano Figueiró (UFSM), José Candido Stevaux (UEM), Vitor Borsato (FECILCAM), Olga C. de Freitas, Sylvio Fausto Gil Filho, Irani Santos, Salete Kozel, Dimas Floriani, Angela Damasceno (UFPR), dentre outros. -Ainda nas parcerias internacionais há que se destacar aquela que durou cerca de uma década com o IRI - International Research Institut on Climate and Society, da Columbia University, através do professor Pietro Ceccato. No campo da abordagem da saúde humana, especialmente para o caso das doenças transmissíveis, estabeleci um conjunto de parcerias tais com: Caroline Steffens (London School of Hygine and Tropical Medicine / Inglaterra), Paul Ritter (Institu Pasteur / Paris), Murielle Laffaye e Cecile Vignoles (CNES/França) e Mário Lanfre (CONAE / Argentina). Outras parcerias de trabalhos mais recentes são essas que temos estabelecido com colegas da Universidade de Lisboa, donde destaco a professora Maria João Alcoforado e o professor Antonio Manuel Lopes, ambas no campo da Climatologia urbana. -Um projeto de envergadura Internacional, o Smart Cities, permitiu uma interação via projeto de pesquisa e aplicação ao planejamento urbano a partir de 2014, entre uma vasta equipe da cidade de Curitiba e um grupo de pesquisa do SMHI - Swedish Meteorological and Hydric Ressources Institut - da cidade de Estocolmo. Desenvolvemos o PARCUR – Programa de Qualidade do Ar da Cidade de Curitiba – no qual pude coordenar a parte brasileira, envolvendo a Prefeitura de Curitiba e várias instituições municipais e estaduais, tendo a coordenação internacional do Prof Lars Guidahen. -Devo destacar também uma longa parceria no âmbito da discussão de idéias e na organização institucional em defesa da Geografia Latino-americana, meu querido e saudoso professor José Manuel Mateus Rodrigues, da Universidad de Havana / Cuba, e a professora Teresa Reina Trujillo da Universidad Autônoma do México. Nesta mesma perspectiva, mas na dimensão Ibero-americana, os professores Lúcio Costa e Antonio Vieira, da Universidade de Coimbra e do Minho, respectivamente. ARTIGOS E LIVROS MARCANTES DA CARREIRA Vejo como muito difícil destacar artigos mais marcantes nessa em minha biografia, especialmente porque ao longo de uma carreira de mais de quarenta anos e de intensa produção intelectual e científica, pudemos veicular nossas idéias em quase uma centena de textos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Assim, declino da indicação dos artigos aqui, mas indico aos interessados uma consulta em nosso CV-Lattes, estão quase todos ali (sou meio desatento com a inserção de todas as publicações no Lattes, assumo). Vou ater-me à citação de minhas publicações na forma de livros, e tecer alguns comentários sobre os mesmos: -Geografia Física: Ciência Humana? foi o primeiro livro que publiquei, em 1989, como resultado das reflexões que tomavam minha mente e os questionamentos acerca da abordagem ambiental na Geografia, especialmente pelo fato de haver naquele período uma explícita “rusga” entre Geografia Física e Geografia Humana. O livro fez um rápido sucesso e encontra muita repercussão até os dias de hoje, fato que nos deixa bastante contentes! Esse livro foi publicado devido à atuação do professor José Borzachielo da Silva, o querido Zé da Silva, que apresentou o rascunho ao diretor da Editora Contexto, que imediatamente o publicou. -Geografia e meio ambiente, foi o segundo livro, publicado também pela Editora Contexto, no início do ano de 1993. Trata se de um livro muito objetivo e sintético, e que sintetizava um conjunto de discussões e temas relacionados à questão ambiental. Esse tema tomou muita importância no Brasil no final dos anos 1980 e início de 1990 como inerente ao contexto da realização da Conferência do Rio 92 ou Eco 92. -Clima e criminalidade - Um ensaio acerca da relação entre a temperatura do ar e a violência humana; esse livro resultou de minha tese de professor titular na UFPR, foi publicado pela editora da UFPR no ano de 2001. Interessantíssimos e acirrados debates na Geografia brasileira no começo da penúltima década foram decorrentes do título do livro, pois a leitura rápida e armada do mesmo levava a imaginar que eu fazia uma defesa do determinismo natural como perspectiva da violência humana! Ledo engano; o livro na verdade coloca em questão o fato de que, como colocado anteriormente, o meio ambiente influencia o comportamento humano e, portanto a violência humana. -Elementos de epistemologia da Geografia contemporânea foi também um livro publicado pela editora da Universidade Federal do Paraná, em 2000, organizado e publicado em coautoria com a colega Salete Kozel. Essa obra sintetiza as discussões desenvolvidas num seminário nacional bastante denso que organizamos por ocasião da implantação do curso de pós-graduação / mestrado em Geografia da Universidade Federal do Paraná. -Impactos socioambientais urbanos, foi um outro livro publicado em 2004 também pela editora da Universidade Federal do Paraná. Trata-se de uma coletânea por nós organizada e que resultava do seminário nacional sobre impactos socioambientais urbanos, que realizamos na cidade de Curitiba naquele ano. Palestrantes convidados do Brasil e do exterior contribuíram com textos de suas autorias para a montagem deste livro que alcançou um sucesso bastante expressivo logo da sua primeira edição. -Clima urbano, publicado pela Editora Contexto em 2004, foi uma obra que tive o prazer de organizar juntamente com meu querido professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Assinamos conjuntamente a autoria e organização deste livro, que reúne tanto uma síntese da sua contribuição teórica a respeito do SCU - Sistema Clima Urbano - quanto quatro exemplos de aplicação dessa teoria e metodologia em cidades importantes do Brasil (Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba e Londrina). -Climatologia - Noções básicas e climas do Brasil organizei juntamente com a professora Inês Moresco Danni-Oliveira, se constitui num livro de referência ou livro básico para os estudos de Climatologia no Brasil. Publicamos esse livro pela primeira vez no ano de 2007 pela Editora Oficina de Textos, visando não somente atualizar conceituações, métodos e técnicas em Climatologia mas, sobretudo, colocar em evidência a dinâmica atmosférica da América do Sul e do Brasil, bem como os principais tipos climáticos do país, além de exemplos das várias temáticas da Climatologia geográfica. -Espaço e tempo: Complexidade e desafios do pensar e do fazer geográfico é uma coletânea resultante do encontro da ANPEGE - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Geografia, que organizei em Curitiba no final de minha gestão como presidente desta associação, em 2009; organizei este livro em parceria com as professoras Márcia da Silva e Cecília Lowen-Sahr, que dividiam a direção da ANPEGE comigo na gestão 2007 a 2009. -Riscos climáticos – Vulnerabilidade e resiliência associados, é também uma outra coletânea, desta feita publicada pela Editora Paco Editorial, de Jundiaí / São Paulo, e que agrupa textos de colegas do Brasil e do exterior ; esse livro foi publicado em 2014. -Os climas do Sul - Em tempos de mudanças globais, é uma coletânea publicada sobre nossa organização e agrupa um conjunto de textos resultantes de pesquisas de meus ex-orientandos de mestrado e doutorado sobre os climas do sul do Brasil, publicado pela Paco Editorial no ano de 2014 . -A construção da Climatologia geográfica no Brasil, publicamos pela Editora Alínea, de Campinas, sob autoria dos professores Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, João Zavattini, João Lima Santana Neto e minha. Trata-se de uma obra síntese da contribuição do professor Monteiro no qual há um resgate de suas construções teóricas, conceituais, metodológicas e técnicas acerca da climatologia geográfica. Neste livro organizei o capítulo 3 relativo à Climatologia Urbana. O livro foi publicado também na versão inglesa dado ser um dos objetivos nossos de que a obra do professor Monteiro pudesse ser melhor conhecida no exterior; -Meio ambiente e sustentabilidade, publicamos em 2019, numa parceria com a Mariana Andreotti, minha orientanda de doutorado, e no qual pudemos atualizar e ampliar toda a abordagem da questão ambiental contemporânea. Predomina uma visão crítica acerca do desenvolvimento sustentável, e foi publicado pela editora Intersaberes, de Curitiba. -A cidade e os problemas socioambientais urbanos - Uma perspectiva interdisciplinar, é uma coletânea que publicamos em coautoria com a professora Myrian del Vecchio de Lima, pela Editora da UFPR no ano de 2019 (impresso) e 2020 (e-Book). Esta obra reúne mais de vinte textos oriundos de dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas no âmbito do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPR. -A dengue no Brasil - Uma perspectiva geográfica, é uma grande obra que encontra-se em vias de publicação pela CRV Editora, de Curitiba. Trata-se também de uma coletânea com doze textos relativos aos problemas relacionados à ocorrência e epidemias da dengue do Brasil. A obra sintetiza pesquisas realizadas entre os anos de 2014 a 2019 em dez capitais brasileiras sobre o problema da dengue: Manaus, São Luis, Fortaleza, Recife, Brasília, Campo Grande, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Os capítulos são resultantes de uma grande pesquisa levada à cabo sob nossa coordenação. -No ano 2004 publicamos também a obra Cidade, ambiente e desenvolvimento-abordagem interdisciplinar da problemática socioambiental urbana, pela Editora da Universidade Federal do Paraná, e que sintetizou tanto uma concepção interdisciplinar dos estudos sobre a cidade, quanto os marcos teóricos, metodológicos, técnicos e a aplicação dessas perspectivas no estudo de problemas da RMC - Região Metropolitana de Curitiba. -Ainda na Editora Oficina de Textos criamos a Coleção Básicos em Geografia, que foi inaugurada com nosso livro “Climatologia – Noções básicas e aplicações brasileiras”; ele foi sequenciado pelo livro do nosso colega Adriano Figueiró “Biogeografia”, e “Geomorfologia fluvial”, de autoria do José Cândido Stevaux e Edgardo Latrubesse... a coleção está se tornando mais rica com novos livros que estão sendo organizados. -Gostaria também de registrar que foi de nossa lavra a criação da Revista RAÉ GA - O espaço geográfico em análise, em parceria com o professor Silvio Fausto Gil Filho, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Geografia da UFPR, em 1997; a Revista da ANPEGE, quando fizemos parte da diretoria da entidade no ano de 2003, juntamente com as professoras Gerusa Duarte/UFSC e Marlene Colessanti/UFU e, por fim, da Revista Humboldt, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com o professor Antonio Carlos Oscar Junior, agora no início de 2021. AVANÇOS TEÓRICOS E CONTROVÉRSIAS -A unicidade do pensamento geográfico: A dualidade e dicotomia da Geografia Moderna constitui um dos temas clássicos e perenes do debate da Geografia enquanto campo do conhecimento científico. Essa característica nos despertou a atenção desde o início de nossa formação pelo fato de que desde muito cedo já tínhamos dificuldade em entender e trabalhar a Geografia Física distante ou dissociada da Geografia Humana. E essa diferenciação entre os dois ramos da Geografia tornou-se realmente algo limitante para o nosso trabalho à medida optamos por trabalhar sobre os problemas ambientais como temática de estudos e pesquisas. Essa preocupação fazia parte do momento histórico no qual a Geografia Crítica se construia e se consolidava no Brasil, ou seja, nos anos 1980; obviamente que as discussões eram muito acirradas no âmbito AGB - Associação dos Geógrafos Brasileiros – mas foi, sobretudo, dentro deste fórum que pudemos travar grandes debates e consolidar nossa concepção da unicidade do pensamento geográfico, fato que resultou no nosso primeiro livro já citado anteriormente. Mais uma vez é importante deixar claro que nossa concepção é aquela que entende que a Geografia é um campo de conhecimento dual, portanto uma ciência de caráter dualista, mas que a dicotomia se coloca como aquela na qual os dois ramos são levados à uma condição de concorrência, fato que foi muito enfatizado no âmbito da Geografia Crítica brasileira. -Clima urbano / paisagens intraurbanas: por ocasião do desenvolvimento de minha tese de doutorado, quando já havia decidido trabalhar com o clima urbano e sua aplicação ao planejamento da cidade, visando contribuir para a qualidade e as condições de vida urbana, entendi que era preciso avançar um pouco mais nas perspectivas teóricas e metodológicas do estudo do clima urbano. Nesse sentido e apropriando-me das construções conceituais e teórico-metodológicas já difundidas pelo professor Monteiro (Brasil) e pelo arquiteto Tim Oke (exterior), pude avançar um pouco mais no campo teórico- conceitual e metodológico desse campo de estudos. Coloquei como perspectiva para se estudar o clima urbano o necessário mapeamento detalhado da cidade, que denominamos paisagens interurbanas, considerando que a variação do albedo em função das distintas superfícies da cidade é que gera ou dá origem ao campo térmico urbano e, em última instância, à ilha de calor urbana. Propusemos, então, um mapeamento detalhado do sítio urbano (hipsometria, declividade, orientação de vertentes, direção e velocidade de ventos predominantes) e da cidade (uso e ocupação do solo, morfologia e funções) como perspectiva elementar para o estudo do clima da cidade, o que poderia ser comprovado posteriormente, ou não, com as medidas de temperatura do ar a 1,50 m em situações distintas do tecido urbano. Comprovamos essa perspectiva de que as paisagens intraurbanas correspondem a diferentes áreas delimitadas conforme as condições térmicas da cidade. Ademais, foi com esta tese que pudemos dar vazão à aplicação das imagens de satélites aos estudos dos climas urbanos no Brasil, tendo sido a segunda tese no país com este enfoque, ou seja, com aplicação de imagens de satélite em estudos de detalhes. -Clima e violência humana: a relação entre o clima e a violência humana nas cidades acabou se constituindo numa abordagem totalmente inovadora quando se estuda e se propõe a melhoria da qualidade de vida na cidade. Nossa tese de professor titular, como comentado anteriormente, sobre a influência das condições ambientais e climáticas na vida das pessoas, especialmente no comportamento humano, constituiu-se numa intensa controvérsia no momento de sua divulgação. A leitura rápida, muito apressada e superficial daqueles que se deixaram levar apenas pelo título levou ao desenvolvimento de acirrados debates, especialmente no âmbito da AGB, pois que muitos acreditaram que o título da obra estivesse fazendo ou propondo renascer o determinismo ambiental na Geografia brasileira. Nesse estudo o que fizemos foi exatamente comprovar que as condições térmicas influenciam o organismo e o comportamento humano. As condições climáticas se somam a outros elementos e fatores de cunho antropológico ou cultural, no sentido de reforçar a complexidade da vida daquelas pessoas que se encontram em situações de vida extremamente difíceis. Dito de outra forma, as temperaturas muito elevadas realmente influenciam mais aquelas pessoas que sem moradia, sem condições de boa alimentação, sem escolas, sem respeitabilidade, etc. e que, vivendo à margem da sociedade, tem muito mais propensão à prática de ações violentas do que aquelas pessoas que vivem em boas condições de vida. Enfim, pudemos comprovar que as condições ambientais/climáticas também influenciam no acirramento da violência na contemporaneidade. -Analise integrada de bacias hidrográficas: Em meados dos anos 90 o tema da escassez das águas doces no planeta tornou-se dos mais importantes na pauta de discussões internacionais, seja de pautas ligadas ao meio ambiente propriamente dito, seja na academia, seja no âmbito da esfera política em função da escassez desse recurso. Tendo em conta esse problema, que evidencia por si só uma decorrência das nada saudáveis relações estabelecidas entre a sociedade e a natureza, e também porque é um problema que tem uma dimensão espacial muito eloquente, tornou-se muito importante dedicarmos a tratar do mesmo em parceria com colegas do Brasil e do exterior, tanto no âmbito da Geografia como de algumas áreas correlatas a esta temática. Considerando a dimensão regional desta problemática no estado do Paraná, desenvolvemos um primeiro projeto de pesquisa voltado ao diagnóstico e conflitos socioambientais da gestão das águas da bacia hidrográfica do Tibagi, tendo como coordenadora a professora Nilza Aparecida Freres Stipp, com quem mantivemos uma rica parceria de pesquisa por mais de vinte anos. A partir da proposta metodológica de gestão de análise de bacias hidrográficas do Professor Pedro Hidalgo, construímos uma metodologia específica para diagnóstico e análise ambiental de microbacias hidrográficas. A escolha da escala da microbacia se deveu, sobretudo pelo fato de termos identificado muito rapidamente que, para o envolvimento dos cidadãos no processo de recuperação da degradação ambiental, era preciso falar com eles numa linguagem de uma realidade por eles vivenciada; constatamos que é na escala da microbacia que a maior parte dos homens tem noção espacial e, portanto, da sua responsabilidade ambiental. Essa proposta foi aplicada em inúmeros estudos de casos no Brasil. Ao vincular-me à Universidade Federal do Paraná elaborei um projeto de pesquisa integrado que envolveu todo o departamento de Geografia; uma idéia de pesquisa integrada, sob nossa coordenação, e que tinha como objeto de estudo a bacia hidrográfica do alto Iguaçu. Desenvolvemos esse projeto por aproximadamente uma década, até que outros colegas especialistas no tema dos recursos hídricos foram contratados, o que nos permitiu dedicar nossa atenção aos temas que já faziam parte de nossas perspectivas. -Geografia Socioambiental: Dando continuidade às nossas preocupações acerca da unidade do pensamento geográfico, e colocando no centro dessas preocupações a abordagem dos problemas ambientais, tivemos a condição de desenvolver nossa reflexão tendo recebido influências consideráveis por ocasião dos debates ocorridos no início da década de 1990. No livro “Geografia e meio ambiente” periodizamos a abordagem ambiental da Geografia em dois grandes momentos, aquele em que a abordagem ambiental tinha um caráter eminentemente descritivo dos elementos da paisagem, de forma isolada, que teria durado até por volta dos anos 1960 e 1970. Após esse período e dando vazão ao clamor social generalizado dos movimentos ambientalistas, assumia um caráter neopositivista, a Geografia, especialmente Geografia Física, passava a tratar do meio ambiente de uma maneira um tanto mais interativa, dando vazão ao caráter de conhecimento aplicado; essa característica passou a envolver elementos do meio social aos elementos do meio natural, e caracterizou o período que vai dos anos 60 / 70 até o início dos anos 1990. Todavia os grandes debates internacionais levados a cabo desde o final dos anos 60, com os resultados da reunião do Clube de Roma, da conferência de Estocolmo, da construção do desenvolvimento sustentável e da conferência do Rio, ou Eco 92, tornou-se praticamente impossível falar de meio ambiente sem envolver as questões sociais, especialmente nos países não desenvolvidos. Ou seja, falar de meio ambiente sem tratar da questão do desenvolvimento, das questões ligadas à injustiça social e da pobreza, era tratar da problemática ambiental de forma parcial ou que escamoteava sua real dimensão social. Num tal contexto tornou-se evidente que a problemática ambiental é, no fundo e na verdade, uma problemática de característica ou de ordem eminentemente social... que o problema da degradação da natureza não é um problema para a natureza em si, mas sim um problema eminentemente da sociedade, e daí a origem ou desenvolvimento no campo da Geografia do que temos chamado de Geografia Socioambiental. Obviamente que o termo já era recorrente em outros campos do conhecimento, como por exemplo, na sociologia, na economia, na antropologia e na ciência política, mas na Geografia era novidade; embora aparecesse como tema em vários documentos e discursos ele não encontrava ainda uma construção conceitual. Foi assim que, no final dos anos 1990, publicamos o primeiro texto na revista Terra livre da AGB intitulado Geografia socioambiental, no qual tecemos os primeiros elementos para delinear as particularidades desta abordagem no campo da Geografia. As influências vieram tanto de abordagens no seio desta ciência que não empregavam o termo, como de outros campos e autores como Michel Serres, Ignacy Sachs, Bruno Latour, Enri Acselrad, Enrique Leff, etc. - S.A.U. – Sistema Socio-Ambiental Urbano: No final dos anos 90 o PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - publicou um guia metodológico para a elaboração de estudos visando subsidiar ações para garantir a qualidade ambiental das cidades latino-americanas; estas cidades se apresentavam fortemente marcadas por degradação social e ambiental de toda ordem. Neste momento ainda não tínhamos na Geografia uma perspectiva integradora e com perspectiva crítica que pudesse embasar o desenvolvimento de estudos abrangentes sobre os problemas socioambientais urbanos. Cientes da grande contribuição do SCU - Sistema Clima Urbano (Monteiro, 1976) propusemos dar um salto e ir além, posto que tanto o clima quanto a vegetação, os solos, as águas, etc., assim como as diferentes formas de poluição, a qualidade das águas e sua escassez, a violência e a pobreza humana, etc. formam um todo complexo e desafiador à gestão das cidades. Considerando também a perspectiva de compreensão da cidade a partir de uma Geografia unitária ou integrada, construímos uma proposta conceitual e metodológica para o estudo dos problemas socioambientais urbanos e a denominamos S.A.U. – Sistema (sócio) Ambiental Urbano, e que auxiliou na elaboração de inúmeros estudos de caso nos últimos vinte anos. -Problemática socioambiental urbana: Foi no âmbito do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Meio Ambiente e Desenvolvimento que coordenamos a linha de pesquisa relacionada ao ambiente urbano, e na qual desenvolvemos e construímos a abordagem dos problemas da interação entre sociedade e natureza nas cidades na perspectiva da problemática socioambiental urbana. Por um bom período os resultados desses estudos foram debatidos nos fóruns da ANPPAS e da ANPEGE, primeiramente dentro do GT-Geografia Urbana e, posteriormente, após 2009, dentro do próprio GT-Problemática Socioambiental Urbana, que criamos para aglutinar os numerosos e diversificados trabalhos produzidos no âmbito dessa temática. -Riscos híbridos: Os riscos constitui um dos temas mais importantes de estudos e gestão ambiental das últimas décadas. Não se trata de uma abordagem nova dado que sempre estiveram presentes nas preocupações dos pesquisadores e dos gestores urbanos e rurais. Todavia, após os anos 1980, com a intensificação da degradação ambiental e o avanço tecnológico no contexto do processo de industrialização avançado, e da urbanização desenfreada, os perigos e ameaças à sociedade tomaram intenso vulto. Após a publicação do livro de Ulrick Beck (Sociedade de Risco), tanto a ciência quanto os gestores públicos em todo o mundo, intensificaram suas preocupações e a criação de políticas públicas e intervenções visando não somente o conhecimento da formação de situações de perigosas, mas, sobretudo no desenvolvimento de estratégias de prevenção à ocorrência dos mesmos. Os riscos não causam impactos de maneira homogênea em toda a população onde ocorrem, eles se distribuem diferentemente no espaço e no tempo e, por isso mesmo, demandam atenção particular; à eles se associam diretamente as vulnerabilidades e a resiliência como dinâmicas necessárias à sua compreensão e gestão. Mesmo considerando-se suas três clássicas categorias, ou seja, os riscos naturais, os riscos sociais e os riscos tecnológicos, nossa compreensão é de que um não ocorre de maneira dissociada dos demais. Eles tão eminentemente associados uns aos outros, até porque somente são considerados risco por impactarem as sociedades humanas, o que os torna um construto social. Se considerarmos mais ainda o fato de que risco é sempre uma relação entre um elemento ou fenômeno desencadeador e a sociedade exposta a ele, necessariamente deveremos compreender que não existe risco para a natureza e nem tampouco para tecnologia; os riscos são sociais. Dessa maneira, é a sua repercussão sobre a sociedade que vai torná-lo um risco e, evidentemente, quando associado a uma condição de altíssima vulnerabilidade social e a riscos tecnológicos, eles se tornam muito mais impactantes e mais importantes. É exatamente essa condição que nos leva a entender os riscos como processos eminentemente híbridos. -Alternatividades em saúde: Os limites ou a parcialidade dá concepção científica moderna a respeito da realidade estão presentes nas reflexões de filósofos da ciência e de epistemólogos nos últimos cerca de cem anos. Mais do que isso, a compreensão de que a perspectiva científica não existe isoladamente do contexto sociocultural no qual ela se produz é que nos leva a pensar que a ciência desenvolvida nas academias da América Latina e da África é fortemente determinada pela noção e concepção de mundo eurocêntrica. Essa leitura da realidade colocou em segundo plano, ou subestimou, ao longo de toda a sua história, os saberes populares ou saberes autóctones/vernaculares produzidos na longa experiência milenar de vida das populações autóctones, como por exemplo, os indígenas no Brasil e os nativos de África. Há um importante movimento que toma corpo na América Latina e parte da África mais recentemente, o saber decolonial e pós-colonial, sobre o qual temos nos debruçado na última década para tentar compreender e avançar um pouco no entendimento destas outras ontologias. No campo da Geografia da Saúde temos tentado evidenciar o conhecimento de populações que lidam com a saúde humana, ou que trabalham a saúde humana, a partir do das próprias tradições e dos cuidados não ocidentais com o corpo humano. De maneira muito específica temos orientado pesquisas acerca do papel das benzedeiras, dos terreiros de candomblé, de raizeiros, das garrafeiras, dos centros espíritas, etc. no trato dos males humanos. Tem sido uma instigante e revolucionária experiência, uma verdadeira ruptura epistemológica! -Geografia plural: Como Sequência de nossa perspectiva de ação e defesa de uma Geografia unitária, no sentido de que é um campo do conhecimento de caráter dualista, e juntando nossa perspectiva de abordagem da problemática socioambiental, concebemos o objeto de estudo da Geografia como um conhecimento complexo. Essa complexidade é revestida de uma riquíssima heterogeneidade na atualidade, especialmente nos últimos vinte anos aproximadamente; neste contexto não há nenhuma hegemonia de um ou outro campo ou temática, nem tampouco de uma perspectiva ideológica ou tecnológica se sobressaindo ante às demais. A geografia brasileira e internacional tem evidenciado uma muito rica diversidade de temáticas de estudos de problemáticas de interesse da sociedade, e emprega concepções teórico-metodológicas e técnicas as mais variadas, sem que haja uma hegemonia de um campo ou outro. Nós entendemos que este é o momento de uma rica fruição do pensamento geográfico e que, portanto, deve continuar assim, porque nos parece ser a saída possível e promissora ao presente e ao futuro da Geografia. PRINCIPAIS CONTROVÉRSIAS, CRÍTICAS E EMBATES SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA REALIZADA Vou destacar apenas três de nossas construções intelectuais que foram motivos de controvérsias, críticas e embates no campo da geografia... -A ideia de unicidade do pensamento geográfico, que defendo desde sempre, talvez seja aquela de maior expressão no que diz respeito à controvérsias, críticas e embates que tenho vivenciado ao longo da minha carreira. Interessante observar que não é uma nova questão nem tampouco uma ideia minha, mas devo reconhecer que fui um dos geógrafos a promover sua retomada com vigor e aprofundar seu conhecimento e desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, defendê-la no momento em que a Geografia Crítica brasileira era hegemônica, posto que esse tipo de discussão ou temática não estava colocado na ordem do dia, era considerado algo superado dado a hegemonia da Geografia Humana naquele contexto. Como já coloquei em outras partes deste documento, essa é uma temática muito cara para mim, refletindo-se até mesmo quando fui presidente da ANPEGE, em 2009, quando promovi a unificação da Geografia Física e da Geografia Humana numa mesma Câmera do CNPq; muitos acharam que era uma ação deliberada e pessoal minha, poucos se lembram de que a junção numa mesma câmara havia sido deliberada na assembleia da ANPEGE, em Fortaleza, no ano de 2005. Até o ano de 2010 os dois ramos da Geografia estavam separados e situados dentro de distintas áreas do CNPq; a Geografia Física na Geociências e Geografia Humana na Sociais Aplicadas. Por conta disto, nos anos de 2008 a 2011, sofri severas críticas, embates e posturas realmente assustadores de colegas contrários à unicidade do pensamento geográfico; todavia, passados mais de dez anos dessa história a situação parece estar apaziguada e funcionando muito bem, tendo a Geografia Física e a Geografia Humana dentro da subárea de Geografia como parte da grande área de Ciências Sociais Aplicadas no CNPq. -Outra importante controvérsia no contexto da qual recebi muitas críticas, e certamente embates longos, intensos e, por vezes, exagerados, é aquela ligada ao tema de minha tese de professor titular, tratando do clima e criminalidade a partir de um ensaio sobre a temperatura do ar como elemento importante na ocorrência da violência humana. Já pude comentar em outra parte deste documento a grande controvérsia vivenciada no início da penúltima década, mas gostaria de destacar que ela oportunizou-me estender o debate para fora da Geografia, aparecendo em reportagens de revistas importantes no cenário nacional e mesmo da grande mídia televisiva comercial no Brasil; em março de 2001 o tema recebeu cinco minutos de exposição num programa de domingo à noite, certamente com interesses de escamotear a então decadência do sistema penitenciário no país, mas conseguimos impor a visão crítica e não deixar que a posição determinista favorável ao governo predominasse. -A proposta de abordagem e concepção da Geografia socioambiental é o outro tema revestido de consideráveis controvérsias e críticas, e que também decorreu em debates importantes. Uma parcela dos geógrafos brasileiros não dá importância a essa proposta por não considerá-la relevante, alguns até achando que é um sinônimo falar em Geografia Ambiental ou Geografia Socioambiental, e outros até se apoiarem em outras matrizes da abordagem da relação entre a sociedade a natureza. Alguns até advogam que a abordagem deles é a única e verdadeira abordagem socioambiental na Geografia. Não tenho muito a dizer sobre essas posições, respeito o que cada um constrói e nunca arroguei a posição de ser o detentor da verdade, e nem de haver uma única maneira de conceber a Geografia Socioambiental. Entretanto, e para além de controvérsias muitas vezes pueris e jogos de poder ilusórios, sou extremamente contente de observar e constatar que nossa proposta acabou se tornando uma referência no Brasil como um todo, posto que possibilita uma interessante, segura e desafiadora abordagem geográfica da realidade. Ela não se constitui numa imposição de leitura geográfica da relação sociedade – natureza, é uma possibilidade, dentre tantas outras no âmbito da Geografia Plural e da ciência aberta e criativa! ELEMENTOS MARCANTES QUE ENTRELAÇAM SUA VIDA PESSOAL E INTELECTUAL. Para não me delongar mais no texto gostaria de destacar algumas homenagens e honrarias que marcaram minha trajetória profissional: . Medalhas de Reconhecimento pela contribuição ao desenvolvimento da ciência recebidas das Universidad de Havana/Cuba (2000) e da Universidad del Zulia/Venezuela (2003). . Professor Visitante na Université Sorbonne/França 2002 e 2005. . Professor Visitante na Université de Haute Bretagne/Rennes 2/França – 2004. . Medalha de honra ao Mérito / UFG (Universidade Federal de Goiás) – 2014. . Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da UFPR (Universidade Federal do Paraná) – Desde 2017. . Professor Visitante - PPGEO / Programa de Pós-graduação em Geografia. UERJ /. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2020/... REFLEXÃO LIVRE EM TORNO DE ELEMENTOS SUBJETIVOS QUE DIRECIONARAM AS ESCOLHAS PESSOAIS E INTELECTUAIS. Penso ser importante dar destaque à nossa atuação institucional desenvolvida desde o momento de nossa formação inicial em Geografia na UFG, e que se intensificou em outras instituições no Brasil e no exterior ao longo de nossa trajetória: . Centro Acadêmico de Geografia / UFG (Universidade Federal de Goiás) : 1982 – Membro da direção. . AGB/Goiânia (Associação dos Geógrafos Brasileiros): Tesoureiro 1982/1983 – Vice-diretor/ 1984. . AGB/Londrina: Diretor 1986. . Dep Geociências/UEL (Universidade Estadual de Londrina) – Chefe 1989/1991. . PPGEO/UFPR(Programa de Pós-graduação em Geografia) – Fundador e coordenador 1998/2003 e 2005/2007. . CAPES/Comitê de Avaliação da Área de Geografia – 1999/2002. . PPGMADE/UFPR (Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Meio Ambiente e Desenvolvimento) – Coordenador 2002/2004. . ANPPAS (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Ambiente e Sociedade) - Membro da Direção 2004/2006. . ANPEGE (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Geografia) – Presidente 2007/2009. . AIC (Association Internacional de Climatologie) – Conselho Administrativo 2003/2006, 2012/2015, Presidente 2015/2018. . UGI (União Geográfica Internacional) – CoC (Comissão de Climatologia): Membro 2012/2021. . CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) – Membro do Conselho Técnico Científico – 2020/... Eventos organizados: - Semana de Geografia / UEL – 1990. - Encontro Nacional de Estudos Sobre Meio Ambiente / ENESMA – UEL/1991. - Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada / SBGFA – UFPR/1997. - Simpósio Brasileiro de Climatologia / SBCG – UFPR/2002 e 2014. - Seminário Nacional de Impactos Socioambientais Urbanos / SENISA-URB – UFPR/2004. - Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Geografia / ENANPEGE – UFPR/2009. Tenho que destacar também a atuação na condição de orientador principal de mais de 100 (cem) Mestres e Doutores, tanto de estudantes vinculados à Geografia quanto no campo do Meio Ambiente e Desenvolvimento, e de inúmeros pós-doutores. Com eles pude avançar muitíssimo na construção de nosso pensamento, e a eles sou muito grato! EUSTÓGIO WANDERLEY CORREIA DANTAS MAR E INTIMIDADE, ABORDAGEM AUTOBIOGRÁFICA INTRODUÇÃO Na construção de abordagem autobiográfica, o ser proativo, a compor um projeto profissional coletivo de fortalecimento da Ciência Geográfica, alicerçado em quadro de especialização individual intensa no domínio da Geografia Urbana e do Lazer, se apresenta com força. Ele se torna claramente perceptível em atuação no magistério superior e a envolver, com ênfase, dentre outros segmentos de atuação: a) o ensino – professor da graduação e da pós-graduação, com consequente orientação de estudos associados a esses níveis de formação (monografias, iniciação científica, dissertações e teses); b) a pesquisa – titular de bolsa Produtividade em Pesquisa (PQ-CNPq) e a coordenar e participar de projetos de pesquisas (locais e em rede) aprovados por instituições de fomento nacionais e internacionais. Este gênero de envolvimento não pode ser vislumbrado sem a consideração de um contexto diverso e a envolver, a partir do indivíduo (o eu), conjunto de instituições, compostas por pessoas e articuladas a ideias e ideais. A partir da apreensão de minha inserção-interação com o domínio institucional, os mentores-aliados-colegas se apresentam, criando amalgama a me induzir a ousar na implementação de projetos de leitura e de atuação no mundo. São estes projetos que suscitam, grosso modo, o reconhecimento deste profissional como professor-pesquisador. A intenção não é a de esboçar um quadro fragmentado, mas a de construir uma aproximação didática a justificar como ponto de partida, o imprescindível no caminhar, o ser professor, ente fundamentado na articulação-interação com os “outros eus”. DO FATO, PASSANDO PELAS TRAJETÓRIAS O exercício do magistério superior se efetivou graças a meu envolvimento direto em política de especialização profissional animada na e pela Universidade Federal do Ceará, da qual fui beneficiado e, na sequência, contribui vivamente, especificamente no domínio da criação de uma pós-graduação stricto sensu. ESPECIALIZAÇÃO ANIMADA NA UFC: REFINAMENTO DE BASE TEÓRICO CONCEITUAL Sou diretamente beneficiado pela política de qualificação dos quadros profissionais no Departamento de Geografia, um dado facilitado por sermos titulares, à época, de um acordo CAPES-COFECUB, cujo coordenador, o Prof. José Borzacchiello da Silva, lembrava veementemente da importância em realizar estudos no estrangeiro, especificamente na França. Para garantir implementação do citado intento, necessário se tornou construção de um projeto de pesquisa a submeter. A tarefa foi facilitada haja vista trazer comigo questionamentos resultantes do mestrado, finalizado em 1995 na USP, sob orientação brilhante da Profa. Ana Fani Alessandri Carlos. Na leitura da cidade, uma questão atiçava minha curiosidade, no concernente ao delineamento de novas práticas de sociabilidade na cidade e a substituir as preexistentes. Dois caminhos se apresentavam, um apontando para o estudo dos Shoppings e outro das Zonas de Praia da Cidade. A primeira possibilidade de estudo, pautada na mesma matriz da dissertação, de uma Geografia Urbana do Comércio e dos Serviços, e a adentrar nos meandros do circuito superior da economia, especificamente no tratamento de concorrência aberta estabelecida entre o Centro e os Shoppings, e pautado na capacidade deste último em inovar na reprodução, em seu interior, de espaços de sociabilidade a concorrerem com nossas antigas praças. Espaços “semi-públicos” (CARLOS, 2001) a se instituírem como lócus de encontro da sociedade hodierna. A segunda possibilidade, ao adentrar em outro domínio da geografia urbana, se aproxima de uma geografia dos lazeres, com o apontamento de lógica crescente e gradual de valorização das zonas de praia como espaços de sociabilidade. Tal dado justificou um redirecionamento das cidades litorâneas para o mar, com densificação de ocupação desta parcela da cidade no tempo e em atendimento aos novos anseios da elite em reproduzir-reformatar práticas advindas do ocidente: os banhos de mar, os atuais banhos de sol, a vilegiatura marítima e o turismo litorâneo, não esquecendo das práticas esportivas náuticas e aquáticas. A concorrência viva destas áreas com o centro, suscitou processo de urbanização intenso e a se fortalecer com o advento das políticas públicas de desenvolvimento da atividade turística no estado. Embarquei nesta possibilidade e haja vista, na segunda metade dos anos 1990, ainda existir uma lacuna na Geografia Urbana Cearense no tratamento do fenômeno de urbanização litorâneo, cujas dimensões suplantavam o limite da cidade, evidência clara do urbano a extrapolar sua matriz. As únicas menções em relação à aproximação da sociedade ao mar se apresentavam perifericamente na literatura e na ciência. No primeiro caso, em apenas duas obras, uma escrita no século XIX, “A Afilhada” de Paiva (1971), e outra na primeira metade do século XX, “Praias e Várzeas” de Barroso (1915). Paiva foi o pioneiro na indicação da relação da cidade com o mar, evidenciando uma aproximação tímida da elite em relação às zonas de praia e marcada pela dinâmica dos tratamentos terapêuticos associados à ideia do bem respirar. Barroso, conhecido nacionalmente por obra associada ao Sertão, “Terra de Sol” nos oferece trabalho direcionado à apreensão da dinâmica característica das zonas de praia da cidade no início do século XX, com apresentação de uma ambiência cultural fortemente marcada pela pesca artesanal. Para o citado, tratar-se-ia de obra a devolver à sociedade cearense parte de sua geografia esquecida, aquela associada às Praias e que se apresenta como complementar ao Sertão. No segundo caso, restrito a trabalhos na área da Arquitetura e da Sociologia, respectivamente, “Fatores de localização e de expansão da Fortaleza”, de Castro (1977) e “Cidade de água e sal”, de Linhares (1992). Castro é um dos primeiros a evidenciar, na lógica de expansão da cidade, fluxo direcionado às zonas de praia. Linhares foi o primeiro a remeter vivamente ao processo de aproximação do mar pela sociedade local, produzido, segundo ele, a partir dos anos 1970, transformação das zonas de praia em equipamentos públicos de lazer, especificamente com a construção dos calçadões a acompanharem a faixa de praia. Na inscrição no Doutorado em Geografia da Université de Paris IV - Sorbonne, sob orientação do Prof. Paul Claval. Da possibilidade de trabalhar com profissional e, principalmente, pessoa de seu quilate, me nutro de ambiência fértil da Geografia Francesa. Já no primeiro ano tomei conhecimento da realização de evento realizado no Institut de Géographie em 1992, intitulado La Maritimité Aujourd’hui. Reuniu conjunto de pesquisadores de renome, de diversas áreas e países, cujos resultados foram publicados, em obra a guardar o mesmo título, por Peron e Rieucau (1996). A citada obra alargou meus horizontes com evidenciação de: 1. Arcabouço teórico e conceitual envolvido no delineamento do conceito de maritimidade. Imbuído da tradição existente na França, seu ponto de partida foi o das representações coletivas, retomando, assim, o conceito clássico de maritimidade da Geografia Física e lhe dando nova abrangência: “trata-se de uma maneira cômoda de designar conjunto de relações estabelecidas por uma população com o mar, especificamente aquelas que se inscrevem em um quadro de preferências, de imagens e, principalmente, de representações coletivas” (CLAVAL, 1996); 2. Ponto de intersecção com outras ciências. Aqui destacaria a história, com reflexão pautada na História das mentalidades, e a contribuir no entendimento do fenômeno de “invenção da praia no Ocidente”, (URBAIN, 1996) e na Antropologia a oferecer matriz metodológica possibilitadora da apreensão da constituição das práticas marítimas tanto tradicionais como modernas, bem como seu redimensionamento no tempo (URBAIN, 1996); 3. Amplitude espacial adquirida pelo fenômeno, ao suplantar os limites do continente que o gestou, englobando novos espaços. Minha particular atenção se voltou ao fenômeno notado em ex-colônias francesas e a externalizarem implicações da maritimidade em países não ocidentais. Estas abordagens conceituam quadro no qual se percebe um gênero de maritimidade característica dos trópicos e a constituir quadro de embates entre duas dimensões: a de uma maritimidade externa (moderna e alóctone) vis-à-vis uma maritimidade interna (tradicional e autóctone). Neste sentido, os autores em foco, especificamente Michel Desse (1996) e Marie-Christine Cormier-Salem (1996), lidam com a ideia do conflitual, resultante da vontade dos governos em criarem nos trópicos espaços destinados aos ocidentais. O trabalho de doutorado, finalizado em 2000, consistiu em leitura singular sobre o processo de aproximação da sociedade brasileira, ênfase fortalezense, em relação ao mar. Foi empreendido por uma elite local ansiosa em reproduzir espaços de sociabilidade vizinhos daqueles encontrados no ocidente e que implicaram na transformação de uma cidade com alma de sertão (voltada ao continente e, consequentemente dando as costas para o mar) em uma cidade marítima, vis-à-vis a incorporação de suas zonas de praia pelos banhistas (tratamento terapêutico e lazer), a vilegiatura e, mais recentemente, o turismo litorâneo. Tal movimento enseja conflitos pela terra, inicialmente na capital e no pós anos 1960-1970 nas zonas de praia de seus municípios litorâneos vizinhos. Os espaços de lazer e recreação, resultantes do exercício das práticas marítimas modernas, provocam expulsão das sociedades tradicionais a habitarem estas paragens. Um modelo inicializado na capital e a se fazer presente na totalidade da zona costeira. A cidade moderna, a atender demanda por espaços de lazer, e mais recentemente turísticos, se volta completamente à zona costeira. Nasce a Cidade do Sol, propalada e difundida pelos governantes em escala nacional e internacional. A cidade turística, litorânea, a se contrapor às imagens de seu passado, de capital do sertão. Para alguém influenciado por Henri Lefebvre e Milton Santos, se deu impunha-se adoção de estratégia a possibilitar diálogo com uma nova bibliografia. O caminho trilhado foi o de me colocar aberto às novas possibilidades apresentadas pela Geografia Francesa. Nesta perspectiva, adentro, sem preceitos e preconceitos, no espectro da Abordagem Cultural na Geografia, dado a permitir, também, diálogo com bibliografia proveniente de ciências afins. Toca minha memória discussão realizada por Serres (1990) ao tratar a história das ciências não como uma lógica contínua, mas a representar uma trama cortada, descontínua. Na consideração desta descontinuidade, com o emprego da metáfora de tempo espiralado, encontrei balizamento para livremente me voltar ao passado e a capturar fragmentos com o intento de reativá-los e, consequentemente, possibilitar comunicação com um mundo esquecido. Nos termos supramencionados, consigo perceber como a reflexão em torno da aproximação da sociedade em relação ao mar encontra no ocidente um ambiente fértil. Desta assertiva me nutro para dar uma nova corporeidade à minha pesquisa. A intenção de trabalhar com a urbanização litorânea de Fortaleza é redimensionada face à dimensão tomada pelo fenômeno de valorização dos espaços litorâneos em escala internacional, delineando domínio de estudo amplamente valorado nos últimos decênios do século XX. O redimensionamento do trabalho se apresentou neste contexto, com adoção de outras escalas, tanto temporal como espacial. A adoção de escala temporal mais ampla se dá devido assimilação do diacrônico (da historia do espaço) como complementar à análise sincrônica (morfologia urbana) (LEFEBVRE, 1978). A preocupação em apreender a história do espaço me aproximou da Geografia Histórica Francesa, cujo desdobramento implicou, também, na “descoberta” de bibliografia de colegas da área no Brasil. No primeiro caso destacaria Jean-René Troche (1998) e, no caso dos brasileiros, Maurício de Abreu (1997) e Pedro Vasconcelos (1997,2002). A partir do momento que fornece um método para estudar o espaço no long terme, a Geografia Histórica contribui, sobremaneira, na explicação e entendimento dos eventos contemporâneos. A adoção de um approche metodológico a tomar como ponto de partida a identificação das comunidades, dos grupos e das organizações para apreender as transformações notadas no espaço e a influência deste sobre eles. Neste domínio posso destacar duas obras fundantes, uma relacionada aos tempos pretéritos e outra aos atuais. Em tempos pretéritos, a obra de Alain Corbin (1978) possibilitou o entendimento de como o desejo em relação às praias se materializou no Ocidente, entre 1750 e 1840. Anteriormente se constituíam em ambientes portadores de imagens repulsivas, um “território do vazio”, cuja imagem somente foi modificada a partir de refinamento do olhar da sociedade interposto por atores estratégicos: os românticos, responsáveis pela elaboração de discurso coerente sobre o mar; os médicos/higienistas, a elaborarem discurso médico a provocar corrida de acometidos de males como o stress e a tuberculose às praias e; a nobreza, como geradora de um efeito de moda na sociedade. Tratar-se-ia da instituição do mito fundador de movimento a gerar fluxos cada vez maiores de usuários às paragens litorâneas, com a consequente instituição das práticas marítimas modernas: os banhos de mar, associados aos tratamentos terapêuticos e às atividades de lazer, acompanhados da vilegiatura marítima, sem se esquecer da invenção, dos esportes náuticos, especificamente da natação. Práticas a gerarem um ambiente de sociabilidade intenso e de caráter elitista, cuja implementação suscita fenômeno de urbanização caraterístico do mediterrâneo, com construção dos balneários e das residências secundárias da elite. Relacionados aos tempos atuais, a obra de Jean-Didier Urbain (1996) consistiu em recurso de peso. Ela possibilita compreensão das transformações ocorridas no Ocidente, bem como suas implicações no redimensionamento das práticas marítimas modernas. Práticas a perderem caráter elitista, com consequente implementação de lógica característica de uma cultura de massa e devida a avanços no domínio socioeconômico (leis trabalhistas, ganhos salariais, etc.) e tecnológico (principalmente com importância que a ferrovia adquire). Para ele, os banhos de mar dão lugar aos banhos de sol e surgem novos agentes responsáveis pela propagação da praia como lócus principal de sociabilidade, os atores e atrizes. Restou-nos a missão de apreender estes desdobramentos no Brasil. Em suma, compreender como se deu, no tempo, a aproximação da sociedade local em relação ao mar, com consequente valorização das praias. A missão não foi fácil, posto a obra de Alain Corbin (1978) ter virado modelo, padrão de análise, e não ponto de partida. É neste sentido que, em escala mundial, são produzidos trabalhos a evidenciar comportamento similar ao empreendido no Ocidente. As poucas exceções apresentavam quadro diferenciado do ocorrido no Brasil. Remetiam a ideia de conflito entre os de fora e os de dentro, sendo os primeiros os ocidentais e os segundos as populações autóctones das antigas colônias europeias. Dois mundos, porque não dois universos, que necessitaria apreender plenamente para avançar na leitura da lógica de constituição dos espaços de sociabilidade nas zonas de praia brasileiras. Neste sentido se impõe, também, o redimensionamento da escala espacial, associando o trabalho à escala mundo. Em suma, a indicar como as práticas marítimas modernas extrapolam os limites da Europa e adentram nas Américas, reflexo direto das transformações socioeconômicas, tecnológicas e simbólicas gestadas no primeiro continente, assim como da filtragem realizada pelos lugares (1985). O recurso a meu orientador me auxiliou nesta empreitada. Paul Claval (1995) trabalha com a ideia da fascinação exercida pela civilização europeia no mundo, dado a suscitar forte esforço de ocidentalização empreendido pelas elites e outras camadas da população. Consiste em tradição assimilada, também, na América Latina e a se fundar em forte processo de miscigenação, um quadro bem diverso do notado na América do Norte (países ocidentais como Canadá e Estados Unidos da América). No Brasil não se trata unicamente do atendimento de demanda externa (Ocidental) por espaços de sociabilidade nas praias. Internamente dispõe de uma elite local a empreender esforço de ocidentalização centrado na ideia da virtude da civilização europeia. Civilização cantada e propalada pela elite local (na qual a intelectualidade dispôs de papel estratégico), a acreditar ser ela a responsável por sua difusão aos outros. Por se tratar de sociedade em via de constituição, a noção de processo é retomada para exprimir sentimento de superioridade da elite local (composta por europeus e com forte participação de mestiços) e de outras camadas da população em relação a outros grupos autóctones (Índios, Negros e, também, Mestiços pobres). Em suma, um esforço motivado tanto pela fascinação exercida pela sociedade europeia como por uma tentativa de diferenciação social. Os membros desta elite se apresentavam como os Porta-Vozes do Ocidente, representando, na essência, o que caracterizo como emergência de grupos locais a produzirem os mesmos territórios e entreterem os mesmos desejos reinantes no Ocidente. São traços do processo de ocidentalização marcantes em países pouco afetados pelo turismo internacional e nos quais suas elites podem reproduzir livremente o modelo de maritimidade ocidental. Assiste-se, assim, a uma modificação de mentalidade dos grupos locais em relação ao mar, dado a inviabilizar noção de oposição entre maritimidade externa (alóctone e moderna) e maritimidade interna (autóctone e tradicional). Do posto concluo ser, a partir deste amalgama, possível vislumbrar os meandros da construção do desejo pelo mar no Brasil, movimento considerado vizinho do notado no Ocidente. Empreguei vizinho para não incorrer em erro cometido por colegas brasileiros, a empreenderem uma simples transposição das categorias e sem refletir sobre a filtragem realizada in lócus. ESPECIALIZAÇÃO ANIMADA PELA UFC: DOMÍNIO DA CRIAÇÃO DE CURSOS NOVOS Aqui se apresenta a especificidade característica, até início dos anos 2000, do Departamento de Geografia da UFC, cujo reconhecimento em escala nacional se dava no domínio da graduação. A exemplo da maioria dos Cursos de Geografia no Nordeste do Brasil, nós não dispúnhamos de quadro propício à inserção em outros domínios, sendo necessário envolvimento direto da instituição e nosso na criação de cursos de pós-graduação na área de geografia. No domínio da criação de cursos novos, stricto sensu, contei com ambiência relativamente favorável, o eu encontra os outros, principalmente colegas imbuídos dos mesmos anseios e desejosos em inovar. Como professor do Departamento de Geografia, inserido no Centro de Ciências, cuja composição reunia profissionais de áreas tradicionais (Física, Matemática e Química), nos impulsionou a buscar novas possibilidades, seguindo, assim, o exemplo do efetivado na Universidade Estadual do Ceará, primeira instituição do estado a investir na criação de pós-graduação em nossa área. Tomávamos ciência, nestes termos, de processo de crescimento da Pós-Graduação em Geografia no Brasil, o que nos animou a envidar esforços na construção de projeto próprio. Não se esquecendo da colaboração e assessoria de professores mais experientes, dentre os quais destacaria o Professor José Borzacchiello da Silva e a Profª Maria Clelia Lustosa, o primeiro com larga vivência em cursos de pós-graduação (Sociologia UFC, bem como de Geografia da UFPE e UFSE) e a segunda, uma das decanas da Geografia da UFC a oferecer contribuição impar, coube aos “recém-doutores” do Departamento de Geografia a incumbência de investir neste novo domínio (destaque a Vanda Claudino Sales e Antônio Jeovah de Andrade Meireles). Tal construção se deu de 2000 a 2004. Quatro anos de refinamento de nossa arte como profissionais, tudo direcionado ao objetivo de consolidar o Departamento de Geografia em escala nacional e internacional, bem como de seu reconhecimento na própria instituição. Dos projetos implementados neste sentido merecem especial atenção o de envolvimento dos “recém-doutores” no PRODEMA/UFC e o de criação de periódico da Universidade Federal do Ceará na Área de Geografia. Sabíamos da importância destas duas variáveis em processo de avaliação de propostas de criação de cursos novos e contamos, para tanto, com a sensibilidade dos colegas à frente da administração universitária. No primeiro domínio, se deu envolvimento imediato de todos os colegas em orientação no PRODEMA. No segundo domínio, foi retomada a discussão quanto à criação de uma revista, com efetivação do projeto em 2002, ano no qual foi aprovada como periódico da UFC, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). Meu envolvimento no citado constructo se deu no front, como primeiro Coordenador da Pós-Graduação em Geografia (Mestrado-Doutorado) e Criador da Revista MERCATOR. O nível de refinamento apresentado acima indica novas escalas a abordar, resultantes da indicação de condições materiais propícios ao desenvolvimento da pesquisa. Indica-se, a partir de então, inserção em redes de pesquisa a propiciarem construção de uma proposta de análise em escala regional e a lidar com abordagem comparativa, do desdobramento das práticas marítimas no mundo. As parcerias estabelecidas no Observatório das Metrópoles (no Brasil) e com colegas de instituições espanholas e francesas constituem o citado substrato sobre o qual a pesquisa se assenta. No Brasil, o envolvimento no Observatório das Metrópoles-INCT permite atingimento da escala nacional e, no caso específico, regional (das metrópoles estudadas). A citada articulação já resultou em conjunto de obras e de teses a tocar a temática da urbanização litorânea. Na Espanha, a aproximação em relação a colega espanhol da Universidad de Alicante (Antonio Aledo) se efetivou no interesse mútuo de apreender os desdobramentos do turismo no domínio do imobiliário, impactando na materialização de empreendimentos imobiliários-turísticos no mediterrâneo e, concomitantemente, com a exportação do modelo espanhol, no Nordeste brasileiro. A articulação em foco se fortaleceu ao ponto de orientarmos trabalho em co-tutela de doutorado. Na França, as relações estabelecidas dispõem de diâmetro mais amplo. De um lado, os com vínculos mais antigo, especificamente trabalhos desenvolvidos em parceria com o professores Jean-Pierre Peulvast e Herve Thery e a experiência como Professor Visitante da Université de Paris IV (Sorbonne) (2010), ambos imprescindíveis na configuração do tema de pesquisa abarcado atualmente em grupo de pesquisa que coordeno. De outro lado, os com vínculos mais recentes, a implicar em retomada das relações e envolvendo outras instituições francesas em: i. atuação como Professor Visitante (Université d’Angers, 2018); ii. envolvimento em Jornada Científica em Sable d’Ollone sobre a dinâmica de valorização dos espaços litorâneos na França e nos Países do Sul (ênfase dada ao Brasil e México), organizado pelo Prof. Arnaud Sebileau. A reaproximação indicada permitiu estabelecimento de diálogo com grupo de pesquisadores vinculados a ciências afins da Geografia. Na Espanha, os estudos são direcionados, sobremaneira, à incidência de dinâmica de valorização dos espaços litorâneos espanhóis por usuários, amantes de praia, a incorporarem como meio de hospedagem as segundas residências a pulularem na costa mediterrânea e cujo delineamento suscitou processo de urbanização intensa. Concebem assim o conceito de Turismo Residencial, para evidenciar comunicação que se tornou possível entre o turismo (fluxo de usuários) e o domínio do imobiliário (construção de condomínios residenciais de segunda residência nas zonas de praia) (ANDREU, 2005; ALEDO, 2008; NIEVES, 2008; DEMAJOROVIC et. al., 2011; FERNÁNDEZ MUNOZ & TIMON, 2011; TORRES BERNIER, 2013). Na França, há enveredamento para reflexão em relação aos esportes náuticos e aquáticos, apreendendo diversificação das práticas de lazer nas zonas de praia a partir do deslanche do surf (GUIBERT, 2006 e 2011), do winsurf e do kitesurf, ambos a animar as zonas de praia com a chegada de esportistas amadores (AUDINET; GUIBERT; SEBILEAU, 2017; SEBILEAU, 2017) a complementar fluxo de turistas e vilegiaturistas no mediterrâneo francês. No lido específico da temática na qual me especializei no tempo, convém ainda destacar papel assumido por conjunto de alunos formados no tempo, mestres e doutores, a contribuírem no refinamento do conhecimento geográfico juntamente comigo. A lista de nomes é razoável e, dentre eles, destaco a parceria rica e viva estabelecida com o Professor Alexandre Queiroz Pereira, atualmente colega dileto do Departamento de Geografia da UFC. OS SONHOS A JUSTIFICAREM O PRESENTE Não resta dúvida que o profissional que sou é reflexo direto do tempo no qual vivi e com o qual interagi. Tal dado foi evidenciado em minha articulação com várias instituições, a possibilitarem descoberta de mentores, colegas e aliados na implementação de conjunto substancial de projetos. No entanto, nada teria acontecido se não houvesse, no princípio, um elemento motivador. O começar pelo professor não foi à toa. A busca de implementação do projeto de ser professor me transformou no que sou, um profissional a investir e se articular com outros domínios: pesquisa e editoria. A colocação face ao apresentado reside em minha memória, especificamente no contexto a envolver um jovem pleno de sonhos e projetos almejados, especificamente o relacionado à primeira metade dos anos 1980. Refiro-me ao momento anterior a meu ingresso na universidade e cujas características fundantes são apresentadas na instituição basilar da família, com a qual os indivíduos têm o primeiro contato e balizam tanto caráter como pessoa como apontamento das possibilidades como profissional. Notem que não falarei de geógrafo! Geografia não constava em meu vocabulário inicial. A influência recebida de meus familiares (especificamente o lado feminino: a avó, Alvina Alves Correia; a mãe e tia, respectivamente Francisca Correia Dantas e Maria José Correia de Sousa, esta última minha primeira professora e responsável por minha alfabetização) indicava como meta o ser professor. Guardei na minha memória as histórias de minha avó ao se vangloriar de ter sido “Professora Interina” em Parnaíba/Piauí. Em suma, por saber ler e escrever medianamente havia, à sua época, a possibilidade de atuação voluntária na alfabetização de jovens e adultos, dado que ela guardou até seus últimos dias como boa recordação de sua juventude. No mais ela sempre afirmava ser a família de meu falecido avô composta de homens inteligentes, “todos doutores”. Nestes termos, apresentava naturalmente o peso do gênero no delineamento do papel dos sujeitos no tempo no qual viveu. Minha avó conseguiu influenciar, sobremaneira, minha mãe e tia. Ambas concluíram o antigo Normal e exerceram o magistério, no ensino fundamental, até a aposentadoria. O ciclo se fechava com elas ao realizarem um projeto de vida profissional almejado e não alcançado, de fato, por minha avó. Não fugi à regra. Com influência desta tríade, também abracei esta vocação e, no momento de pensar no ingresso na universidade somente existia uma certeza: o magistério. Minha vontade era tamanha que mesmo meus amigos mais próximos não ousavam me dissuadir. Eu não vislumbrava outras possibilidades e eles eram forçados a endossar. Toco neste ponto para denotar a já clara tendência de desvalorização deste profissional face a outras profissões. A Geografia apresentou-se como um meio para se atingir um fim, o me tornar professor. Na escolha desta ciência minha mãe me antecedeu, ingressando, aos 42 anos de idade, no Curso de Licenciatura da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Ingresso um semestre após (1985.2), dando início a meu percurso profissional. Consiste em trecho breve de meu relato, mas que carrego até hoje em minhas andanças. Seria a bússola a me orientar literalmente em mares bravios e a suscitar descoberta da praia. Ao entrar na universidade quis impor um ritmo diferente em minha vida, dedicando atenção especial a este momento de formação. Coloquei como meta, diferentemente do comportamento notado no ensino fundamental e médio, ser o melhor aluno. Mais uma vez acreditei nas histórias de minha avó, ousando acreditar ser, à exemplo da Família Correia, inteligente. Ingressei na licenciatura em Geografia da UECE para dar o melhor de mim. A tarefa não foi fácil, mas consegui manter o rumo. Concomitantemente à realização das disciplinas, já no terceiro semestre do curso, experimentei o ambiente de sala de aula como professor, especificamente em um curso supletivo noturno. Nele fui recepcionado pelo Professor Almeida, geógrafo formado pela Universidade Federal do Ceará e a exercitar suas habilidades profissionais como professor e proprietário do curso. O referido resolveu arriscar ao me contratar. Do meu lado fui levado a desenvolver a habilidade do autodidatismo para “enfrentar” a sala de aula. Se, de um lado, faltava experiência e conhecimento, de outro, abundava vontade em acertar. A relação com este personagem de minha história foi profícua, tendo me indicado, anos após, para substituí-lo como professor em uma escola particular: Colégio Castelo Branco, antigo estabelecimento religioso, sito no antigo Boulevard Dom Manuel, e responsável pela formação da elite da cidade em seus tempos áureos. Embora à minha época tenha se popularizado, significou uma importante experiência e cujo desdobramento foi o de identificação plena com o magistério. Enfoco a tônica da desvalorização do magistério não somente no sentido de criticar os governos ou a ausência de políticas de qualificação desta área e dos profissionais a ela associados. O objetivo é o de compreender como um profissional cheio de sonhos buscou maximizar suas chances de sucesso profissional. A saída foi a associação entre as variáveis magistério e especialização em dada área do conhecimento. Inicio minha descoberta da Geografia, ou melhor, de uma possibilidade não apresentada no exemplo de meus familiares, formados na lógica do antigo Normal (curso de formação de professores do ensino básico). À tônica dada ao Professor acrescento a de Professor de Geografia. A formação como Professor de Geografia pareceu-me razoável e as possibilidades de inserção no mercado se ampliavam para além do domínio do ensino básico, com a descoberta do magistério superior. Este novo horizonte me foi apresentado na universidade por professores especiais, a se destacarem na motivação dos jovens geógrafos em formação. Dentre eles indicaria Luzianeide Coriolano. A referida professora soube apresentar uma bibliografia atualizada e nos convencer da ideia de passarmos por um processo de renovação e no qual tínhamos uma contribuição a dar, tanto na defesa de uma sociedade justa como na efetiva atuação enquanto profissional geógrafo. Mais uma vez tenho reforçado o ideal do magistério e a essa altura do ensino superior. Nesta época percebo ser fundamental, na construção de meu perfil como professor, o investimento na dimensão da pesquisa, intento não fácil, posto dispor de fragilidades na formação como licenciado. O caminho encontrado foi o da realização de estudos de pós-graduação. A oportunidade se apresentou na Universidade Federal do Ceará (UFC), com ingresso no “Curso de Especialização Nordeste Questão Regional e Ambiental” em 1989, concebido pelo Prof. José Borzacchiello da Silva e coordenado pela Profª. Maria Geralda de Almeida. Consistiu em atividade fundamental em meu aperfeiçoamento. Pautado na temática Regional e a adentrar na compreensão da dinâmica da regionalização e do regionalismo no Nordeste, suscita a descoberta de bibliografia ampla e a impor um posicionamento científico e político face ao mundo. De meu posicionamento científico destaco formatação de meu primeiro projeto de pesquisa, associado à temática urbana e com objeto de estudo circunscrito no Centro de Fortaleza, especificamente o Comércio Ambulante. A vivência na cidade e as inquietações nela contidas foram as determinantes desta escolha, enveredando, neste momento, em movimento exploratório a englobar tanto pesquisa de campo como bibliográfica. Neste último domínio é que travo maior conhecimento de obras de Milton Santos e a versarem sobre Dimensão Temporal e Sistemas Espaciais (1979) e o Circuito Inferior da Economia (1985). Um conhecimento ampliado ao participar como aluno ouvinte de curso de especialização que ministrou em 1989 na Universidade Estadual do Ceará. Foi a oportunidade de dialogar, pela primeira vez, com professor conhecido através de seus escritos. Neste mesmo domínio recordo do como, a partir de desafio lançado pelo Prof. José Borzacchiello da Silva, ousei produzir trabalho associado à temática da especialização e publicado na primeira revista da Associação de Geógrafos do Brasil – Seção Fortaleza (Revista Espaço Aberto), com o título “Para Além das Dicotomias no Ensino de Geografia...” (DANTAS, 1989)(1). Do posicionamento político destaco participação nas reuniões da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Fortaleza, dado a culminar em atuação efetiva na gestão da associação como primeiro secretário (biênio 1988-1990). Nesta associação me envolvi diretamente com o estudo da problemática urbana, dado muito referendado pelas associações profissionais do gênero da AGB, no momento da reforma constitucional. Tratava-se de um movimento em escala nacional e no qual estabelecíamos contatos com colegas do Brasil inteiro e, também, de outras categorias profissionais. Localmente apresentou-se possibilidade de conhecimento e aprendizado com colegas da UFC: José Borzacchiello da Silva, Maria Clélia Lustosa Costa, Maria Geralda de Almeida e Vanda Claudino Sales. É a partir do posicionamento científico e político face ao mundo que a administração se impôs na minha vida. Lembro-me do quão foi difícil minha primeira aproximação (1993-1996), como Coordenador da Graduação em Geografia, posto ter, à época, restrições a envolvimento em atividades administrativas. Trabalhava bem com a ideia do tripé: ensino, pesquisa e extensão, mas a administração não era uma meta. Isto se explica pela influência anarquista em minha formação, dado a me levar a acreditar que meu aprimoramento não passava pelo exercício do poder, em nenhuma instância. Os meandros do destino me conduziram à administração e significou experiência gratificante, ao possibilitar conhecimento mais amplo da UFC e da própria Geografia, bem como ter a oportunidade de, em um passado recente, ter atuado como Coordenador da Área de Geografia na CAPES. Como a vida é sempre permeada de meandros, não segue uma linha reta, o individual (pessoal) entrou em choque com o institucional, dado a culminar em necessidade de capitulação de meus anseios face às demandas institucionais. CONCLUSÃO No constructo evidenciado minha alma foi forjada como a de um professor que produz conhecimento, adentrando nos meandros de uma geografia urbana a refletir sobre as transformações empreendidas nas cidades e face às demandas por espaços de lazer e recreação, fenômeno que, no concernente às cidades litorâneas, se concentram, sobremaneira, nos espaços metropolitanos. Esta mise em valeur justificaria a transferência de espaços de sociabilidade clássicos (continentais) às zonas de praia, tanto às cidades polo, como o tratado GOMES (2002) no caso do Rio de Janeiro, como aos municípios litorâneos metropolitanos, que abordo, com maior ênfase, no caso do Nordeste. Do até então apresentado evidencio tentativa de manutenção do rumo indicado já em 2005, no Encontro Nacional da ANPEGE em Fortaleza. O da apreensão das transformações ocorridas nas cidades litorâneas tropicais na passagem do século XX ao século XXI, conforme texto apresentado naquele evento, quando afirmei: "Com o veraneio marítimo, o efeito de moda do morar na praia e o turismo litorâneo associado aos banhos de sol, as zonas de praia das cidades litorâneas tropicais são redescobertas. Se anteriormente falávamos de eclipse relativo do mar, atualmente ele é descortinado em sua totalidade, apresentando-se como verdadeiro fenômeno social. A cidade e seus citadinos redescobrem parte esquecida em suas geografias, denotando necessidade de releitura de arcabouço teórico metodológico até então empregado na análise urbana. Resta-nos suplantar tradição nos estudos empreendidos, aquela de descartar, veementemente, o lado mar, direcionando o olhar para a parte continental e em consonância com o enfoque empreendido por aqueles que estudam as cidades continentais, matrizes do saber urbano e evidenciadas na bibliografia básica do gênero. Se nos anos 1980 Claval (1980) evocava a contribuição dos especialistas da vida marítima na construção de uma teoria unitária, (...) atualmente esta constatação torna-se mais evidente e adquire outra dimensão, aquela relacionada a uma rede urbana paralela à zona costeira e à transformação das cidades litorâneas em marítimas. De cidade portuária, representativa da época colonial até primeira metade do século XX, as cidades litorâneas tropicais tendem a se constituir, a partir do final do século XX, em cidades turísticas, reforçando tendência de valorização dos espaços litorâneos empreendido pelas elites locais, com adoção de práticas marítimas modernas. A análise permeada por reflexão em torno da construção do conceito de maritimidade, notadamente nos trópicos, apresenta-se como uma possibilidade de apreender as transformações em voga e de compreender a essência da cidade litorânea que se torna marítima no século XXI (DANTAS, 2006)." O texto acima significou uma tomada de postura científica face as relações entre o litoral, o mar e o marítimo, e o processo de metropolização. O Nordeste tem sido campo profícuo de análise dada a dinâmica de seu litoral, em constante transformação, com investimentos de monta (do estado e da iniciativa privada) que alteram sobremaneira sua geografia. A escolha até o presente se mostra acertada, indicando novos horizontes de pesquisa face à universalização da maritimidade como um fenômeno social. Do apresentado e reflexo de vivências múltiplas experimentadas, interessante indicar elementos em construção, resultantes dos diálogos e trocas estabelecidos com os professores Maria Clelia Lustosa Costa, Maria Elisa Zanella e José Borzacchiello da Silva e a diversificarem minhas linhas de abordagem. No caso das duas primeiras e em função de demandas sequenciadas de gestores do município, adentro em discussão sobre a temática da vulnerabilidade (DANTAS, E. W. C.; COSTA, M. C. L.; ZANELLA, M. E., 2016). No relativo ao segundo, adentro em discussão sobre a produção científica na área da Geografia Urbana brasileira, alimentada por material ajuntado no período de estada na CAPES (DANTAS, E.W.C; SILVA, J. B., 2018). REFERÊNCIAS ABREU, Maurício de Almeida. A apropriação do território no Brasil colonial. In: de Castro, Iná Elias et al. (orgs.). Explorações Geográficas - percursos no fim do século. Rio de Janeiro : Bertrand Brasil, 1997. p. 197-246 ABREU, Maurício de Almeida. Pensando a cidade no Brasil do passado. In: SILVA, J. B.; COSTA, M. C.; DANTAS, E. W. C. (orgs.), A cidade e o urbano: temas para debates. Fortaleza : EUFC, 1997. p. 27-52. ALEDO, A. De la tierra al suelo: la transformación del paisaje y el Turismo Residencial. Arbor Ciencia, Pensamiento y Cultura. CLXXXIV, enero-febrero, p. 99-113, 2008. ANDREU, Hugo, G. Un acercaimento al concepto de Turismo Residencial. In: MAZÓN, T.; ALEDO, A. (Ed.). Turismo Residencial y cambio social. Alicante: Universidad de Alicante, 2005. AUDINET, Laetitia; GUIBERT, Christophe; SEBILEAU, Arnaud. Les “Sports de Nature”. Paris: Édition du Croquant, 2017. Barroso, Gustavo. Praias e várzeas. Rio de Janeiro/Lisboa : Livraria Francisco Alves/Livrarias Ailland & Bertrand, 1915. Barroso, Gustavo. Terra de sol - costumes do Nordeste. Rio de Janeiro : B. de Aquila, 1912. CARLOS, Ana Fani Alessandri. A (Re)produção do Espaço Urbano. São Paulo: Tese de Doutorado em Geografia, USP/FFLCH, 1986. CARLOS, Ana Fani Alessandri. Espaço-tempo na metrópole. São Paulo: Contexto, 2001. Castro, José Liberal de. Fatores de localização e de expansão da Fortaleza. Fortaleza : Imprensa Universitária da Universidade Federal do Ceará,1977. CLAVAL, Paul. La géographie culturelle. Paris: Nathan, 1995. CLAVAL, Paul. Conclusion. In: PERON, Françoise; RIEUCAU, Jean (orgs.). La maritimité aujourd'hui. Paris : Éditions L'Harmattan, 1996. CLAVAL, Paul. La Fabrication du Brésil. Paris: Belin, 2004. CORBIN, Alain. Le territoire du vide. Paris: Aubier, 1978. CORMIER-SALEM, Marie-Christine. Maritimité et littoralité tropicales: la Casamance (Sénégal)". In: PERON, Françoise; RIEUCAU, Jean (orgs.). La maritimité aujourd'hui. Paris : Éditions L'Harmattan, 1996. DANTAS, Eustógio Wanderley Correia. Cidades Litorâneas Marítimas Tropicais: construção da segunda metade do século XX, fato no século XXI In: SILVA, José Borzacchiello; LIMA, Luiz Cruz; DANTAS, E. W. C. (orgs.) Panorama da Geografia Brasileira 2. São Paulo: Annablume, 2006. p. 79-89. DANTAS, E. W. C.; ARAGAO, R. F.; LIMA, E. L. V.; THERY, H. Nordeste Brasileiro Fragmentado. In: SILVA, J. B. da; DANTAS, E. W. C.; ZANELLA, E. Z.; MEIRELES, A. J. A. (Orgs.). Litoral e Sertão. Fortaleza: Expressão Gráfica, 2006. DANTAS, E. W. C.; FERREIRA, A. L; CLEMENTINO, M. L. M. (Orgs.). Turismo e imobiliário nas metrópoles. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2010 DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. A Cidade e o Comércio Ambulante. 2. ed. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2014. DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. Coastal Geography in Northeast Brazil. Springer, 2016. DANTAS, E. W. C.; COSTA, M. C. L. ; Zanella, Maria Elisa . Vulnerabilidade socioambiental e qualidade de vida em Fortaleza. 1. ed. Fortaleza: Imprensa Universitária - UFC, 2016. v. 1. 128p . DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. Mar à Vista. Fortaleza: Edições UFC, 2020. DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. Maritimidade nos Trópicos. Fortaleza: Edições UFC, 2008. DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. Metropolização Turística em Região Monocultora Industrializada. Mercator, v. 12, n.2 (n. especial). p. 65-84, 2013. DEMAJOROVIC, J. et. al. Complejos Turísticos Residenciales. Estudios y Perspectivas en Turismo, v. 20, p. 772-796, 2011. DESSE, Michel. L'inégale maritimité des villes des départements d'Outre-mer insulaires. In: PERON, Françoise; RIEUCAU, Jean (orgs.). La maritimité aujourd'hui. Paris : Éditions L'Harmattan, 1996. DUHAMEL, Philippe. Géographie du Tourisme et des Loisirs. Paris: Armand Colin, 2018. ELIAS, Norbert. La civilisation des mœurs. Paris : Calmann-Levy, 1973. FERNÁNDEZ MUNOZ, Santiago; TIMON, D. A. B. El Desarrollo Turístico Inmobiliario de la España Mediterránea y Insular frente a sus Referentes Internacionales (Florida y Costa Azul). Cuadernos de Turismo, n. 27, p. 373-402, 2011. GOMES, Paulo César Costa. A Condição Urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. GUIBERT, Christophe. L’univers du surf et stratégies politiques en Aquitaine. Paris : L’Harmattan, 2006. GUIBERT, Christophe; SLIMANI H. Emplois sportifs et saisonnalités. L’économie des activités nautiques. Paris: L’Harmattan, 2011. LEFEBVRE, Henri. La Vida Cotidiana en el Mundo Moderno. Madrid: Alianza Editorial, 1972. LEFEBVRE, Henri. Espacio y Politica. Barcelona: Ediciones Penisula, 1976. LEFEBVRE, Henri. De L’Etat. Paris: Union Générale d’Editions, 1978. LEFEBVRE, Henri. El Derecho a la Ciudad. Barcelona, Ediciones Peninsula, 1978. LEFEBVRE, Henri. La Production de l’Espace. Paris: Anthropos, 1986. NIEVES, Raquel Huete. Tendencias del Turismo Residencial. El Periplo Sustentable, n. 14, p. 65-87, 2008. NIJMAN, J. Miami. Philadelphia: Universsity of Pennsylnania Press, 2010 PEREIRA, A. Q. Coastal Resorts and Urbanization in Northeast Brazil. 1. ed. Basel, Switzerland: Springer International Publishing, 2020. PEREIRA, Alexandre Queiroz. A Urbanização Vai à Praia. Fortaleza: Edições UFC, 2014. PERON, Françoise; RIEUCAU, Jean (orgs.). La Maritimité aujourd'hui. Paris: Éditions L'Harmattan, 1996. SANTOS, Milton. O Espaço Dividido. Rio de Janeiro: F. Alves, 1979 SANTOS, Milton. Espaço & Método. São Paulo: Nobel, 1985. SEBILEAU, Arnaud. Les Figures de l’Empiètement dans une commune du littoral. In: GUIBERT, Christophe; TAUNAY, Benjamin. Tourisme et Sciences Sociales. Paris: L’Harmattan, 2017. SERRES, M. Hermes - uma filosofia das ciências. Tradução Andréa Daher. Rio de Janeiro: Graal, 1990. TORRES BERNIER. E. El Turismo Residenciado y sus Efectos em los Destinos Turísticos. Estudios Turisticos, p. 45-70, 2013. TROCHET, Jean René. Géographie historique. Paris: Éditions Nathan, 1998. URBAIN, Jean-Didier. Sur la plage. Paris: Éditions Payot, 1996. VASCONCELOS, Pedro de Almeida. Os Agentes Modeladores das Cidades Brasileiras no Período Colonial. In: Castro, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORREA, R. L. Expressões Geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. VASCONCELOS, Pedro de Almeida. Salvador. 1. ed. Ilhéus: Editus, 2002.
EUSTÓGIO WANDERLEY CORREIA DANTAS MAR E INTIMIDADE, ABORDAGEM AUTOBIOGRÁFICA INTRODUÇÃO Na construção de abordagem autobiográfica, o ser proativo, a compor um projeto profissional coletivo de fortalecimento da Ciência Geográfica, alicerçado em quadro de especialização individual intensa no domínio da Geografia Urbana e do Lazer, se apresenta com força. Ele se torna claramente perceptível em atuação no magistério superior e a envolver, com ênfase, dentre outros segmentos de atuação: a) o ensino – professor da graduação e da pós-graduação, com consequente orientação de estudos associados a esses níveis de formação (monografias, iniciação científica, dissertações e teses); b) a pesquisa – titular de bolsa Produtividade em Pesquisa (PQ-CNPq) e a coordenar e participar de projetos de pesquisas (locais e em rede) aprovados por instituições de fomento nacionais e internacionais. Este gênero de envolvimento não pode ser vislumbrado sem a consideração de um contexto diverso e a envolver, a partir do indivíduo (o eu), conjunto de instituições, compostas por pessoas e articuladas a ideias e ideais. A partir da apreensão de minha inserção-interação com o domínio institucional, os mentores-aliados-colegas se apresentam, criando amalgama a me induzir a ousar na implementação de projetos de leitura e de atuação no mundo. São estes projetos que suscitam, grosso modo, o reconhecimento deste profissional como professor-pesquisador. A intenção não é a de esboçar um quadro fragmentado, mas a de construir uma aproximação didática a justificar como ponto de partida, o imprescindível no caminhar, o ser professor, ente fundamentado na articulação-interação com os “outros eus”. DO FATO, PASSANDO PELAS TRAJETÓRIAS O exercício do magistério superior se efetivou graças a meu envolvimento direto em política de especialização profissional animada na e pela Universidade Federal do Ceará, da qual fui beneficiado e, na sequência, contribui vivamente, especificamente no domínio da criação de uma pós-graduação stricto sensu. ESPECIALIZAÇÃO ANIMADA NA UFC: REFINAMENTO DE BASE TEÓRICO CONCEITUAL Sou diretamente beneficiado pela política de qualificação dos quadros profissionais no Departamento de Geografia, um dado facilitado por sermos titulares, à época, de um acordo CAPES-COFECUB, cujo coordenador, o Prof. José Borzacchiello da Silva, lembrava veementemente da importância em realizar estudos no estrangeiro, especificamente na França. Para garantir implementação do citado intento, necessário se tornou construção de um projeto de pesquisa a submeter. A tarefa foi facilitada haja vista trazer comigo questionamentos resultantes do mestrado, finalizado em 1995 na USP, sob orientação brilhante da Profa. Ana Fani Alessandri Carlos. Na leitura da cidade, uma questão atiçava minha curiosidade, no concernente ao delineamento de novas práticas de sociabilidade na cidade e a substituir as preexistentes. Dois caminhos se apresentavam, um apontando para o estudo dos Shoppings e outro das Zonas de Praia da Cidade. A primeira possibilidade de estudo, pautada na mesma matriz da dissertação, de uma Geografia Urbana do Comércio e dos Serviços, e a adentrar nos meandros do circuito superior da economia, especificamente no tratamento de concorrência aberta estabelecida entre o Centro e os Shoppings, e pautado na capacidade deste último em inovar na reprodução, em seu interior, de espaços de sociabilidade a concorrerem com nossas antigas praças. Espaços “semi-públicos” (CARLOS, 2001) a se instituírem como lócus de encontro da sociedade hodierna. A segunda possibilidade, ao adentrar em outro domínio da geografia urbana, se aproxima de uma geografia dos lazeres, com o apontamento de lógica crescente e gradual de valorização das zonas de praia como espaços de sociabilidade. Tal dado justificou um redirecionamento das cidades litorâneas para o mar, com densificação de ocupação desta parcela da cidade no tempo e em atendimento aos novos anseios da elite em reproduzir-reformatar práticas advindas do ocidente: os banhos de mar, os atuais banhos de sol, a vilegiatura marítima e o turismo litorâneo, não esquecendo das práticas esportivas náuticas e aquáticas. A concorrência viva destas áreas com o centro, suscitou processo de urbanização intenso e a se fortalecer com o advento das políticas públicas de desenvolvimento da atividade turística no estado. Embarquei nesta possibilidade e haja vista, na segunda metade dos anos 1990, ainda existir uma lacuna na Geografia Urbana Cearense no tratamento do fenômeno de urbanização litorâneo, cujas dimensões suplantavam o limite da cidade, evidência clara do urbano a extrapolar sua matriz. As únicas menções em relação à aproximação da sociedade ao mar se apresentavam perifericamente na literatura e na ciência. No primeiro caso, em apenas duas obras, uma escrita no século XIX, “A Afilhada” de Paiva (1971), e outra na primeira metade do século XX, “Praias e Várzeas” de Barroso (1915). Paiva foi o pioneiro na indicação da relação da cidade com o mar, evidenciando uma aproximação tímida da elite em relação às zonas de praia e marcada pela dinâmica dos tratamentos terapêuticos associados à ideia do bem respirar. Barroso, conhecido nacionalmente por obra associada ao Sertão, “Terra de Sol” nos oferece trabalho direcionado à apreensão da dinâmica característica das zonas de praia da cidade no início do século XX, com apresentação de uma ambiência cultural fortemente marcada pela pesca artesanal. Para o citado, tratar-se-ia de obra a devolver à sociedade cearense parte de sua geografia esquecida, aquela associada às Praias e que se apresenta como complementar ao Sertão. No segundo caso, restrito a trabalhos na área da Arquitetura e da Sociologia, respectivamente, “Fatores de localização e de expansão da Fortaleza”, de Castro (1977) e “Cidade de água e sal”, de Linhares (1992). Castro é um dos primeiros a evidenciar, na lógica de expansão da cidade, fluxo direcionado às zonas de praia. Linhares foi o primeiro a remeter vivamente ao processo de aproximação do mar pela sociedade local, produzido, segundo ele, a partir dos anos 1970, transformação das zonas de praia em equipamentos públicos de lazer, especificamente com a construção dos calçadões a acompanharem a faixa de praia. Na inscrição no Doutorado em Geografia da Université de Paris IV - Sorbonne, sob orientação do Prof. Paul Claval. Da possibilidade de trabalhar com profissional e, principalmente, pessoa de seu quilate, me nutro de ambiência fértil da Geografia Francesa. Já no primeiro ano tomei conhecimento da realização de evento realizado no Institut de Géographie em 1992, intitulado La Maritimité Aujourd’hui. Reuniu conjunto de pesquisadores de renome, de diversas áreas e países, cujos resultados foram publicados, em obra a guardar o mesmo título, por Peron e Rieucau (1996). A citada obra alargou meus horizontes com evidenciação de: 1. Arcabouço teórico e conceitual envolvido no delineamento do conceito de maritimidade. Imbuído da tradição existente na França, seu ponto de partida foi o das representações coletivas, retomando, assim, o conceito clássico de maritimidade da Geografia Física e lhe dando nova abrangência: “trata-se de uma maneira cômoda de designar conjunto de relações estabelecidas por uma população com o mar, especificamente aquelas que se inscrevem em um quadro de preferências, de imagens e, principalmente, de representações coletivas” (CLAVAL, 1996); 2. Ponto de intersecção com outras ciências. Aqui destacaria a história, com reflexão pautada na História das mentalidades, e a contribuir no entendimento do fenômeno de “invenção da praia no Ocidente”, (URBAIN, 1996) e na Antropologia a oferecer matriz metodológica possibilitadora da apreensão da constituição das práticas marítimas tanto tradicionais como modernas, bem como seu redimensionamento no tempo (URBAIN, 1996); 3. Amplitude espacial adquirida pelo fenômeno, ao suplantar os limites do continente que o gestou, englobando novos espaços. Minha particular atenção se voltou ao fenômeno notado em ex-colônias francesas e a externalizarem implicações da maritimidade em países não ocidentais. Estas abordagens conceituam quadro no qual se percebe um gênero de maritimidade característica dos trópicos e a constituir quadro de embates entre duas dimensões: a de uma maritimidade externa (moderna e alóctone) vis-à-vis uma maritimidade interna (tradicional e autóctone). Neste sentido, os autores em foco, especificamente Michel Desse (1996) e Marie-Christine Cormier-Salem (1996), lidam com a ideia do conflitual, resultante da vontade dos governos em criarem nos trópicos espaços destinados aos ocidentais. O trabalho de doutorado, finalizado em 2000, consistiu em leitura singular sobre o processo de aproximação da sociedade brasileira, ênfase fortalezense, em relação ao mar. Foi empreendido por uma elite local ansiosa em reproduzir espaços de sociabilidade vizinhos daqueles encontrados no ocidente e que implicaram na transformação de uma cidade com alma de sertão (voltada ao continente e, consequentemente dando as costas para o mar) em uma cidade marítima, vis-à-vis a incorporação de suas zonas de praia pelos banhistas (tratamento terapêutico e lazer), a vilegiatura e, mais recentemente, o turismo litorâneo. Tal movimento enseja conflitos pela terra, inicialmente na capital e no pós anos 1960-1970 nas zonas de praia de seus municípios litorâneos vizinhos. Os espaços de lazer e recreação, resultantes do exercício das práticas marítimas modernas, provocam expulsão das sociedades tradicionais a habitarem estas paragens. Um modelo inicializado na capital e a se fazer presente na totalidade da zona costeira. A cidade moderna, a atender demanda por espaços de lazer, e mais recentemente turísticos, se volta completamente à zona costeira. Nasce a Cidade do Sol, propalada e difundida pelos governantes em escala nacional e internacional. A cidade turística, litorânea, a se contrapor às imagens de seu passado, de capital do sertão. Para alguém influenciado por Henri Lefebvre e Milton Santos, se deu impunha-se adoção de estratégia a possibilitar diálogo com uma nova bibliografia. O caminho trilhado foi o de me colocar aberto às novas possibilidades apresentadas pela Geografia Francesa. Nesta perspectiva, adentro, sem preceitos e preconceitos, no espectro da Abordagem Cultural na Geografia, dado a permitir, também, diálogo com bibliografia proveniente de ciências afins. Toca minha memória discussão realizada por Serres (1990) ao tratar a história das ciências não como uma lógica contínua, mas a representar uma trama cortada, descontínua. Na consideração desta descontinuidade, com o emprego da metáfora de tempo espiralado, encontrei balizamento para livremente me voltar ao passado e a capturar fragmentos com o intento de reativá-los e, consequentemente, possibilitar comunicação com um mundo esquecido. Nos termos supramencionados, consigo perceber como a reflexão em torno da aproximação da sociedade em relação ao mar encontra no ocidente um ambiente fértil. Desta assertiva me nutro para dar uma nova corporeidade à minha pesquisa. A intenção de trabalhar com a urbanização litorânea de Fortaleza é redimensionada face à dimensão tomada pelo fenômeno de valorização dos espaços litorâneos em escala internacional, delineando domínio de estudo amplamente valorado nos últimos decênios do século XX. O redimensionamento do trabalho se apresentou neste contexto, com adoção de outras escalas, tanto temporal como espacial. A adoção de escala temporal mais ampla se dá devido assimilação do diacrônico (da historia do espaço) como complementar à análise sincrônica (morfologia urbana) (LEFEBVRE, 1978). A preocupação em apreender a história do espaço me aproximou da Geografia Histórica Francesa, cujo desdobramento implicou, também, na “descoberta” de bibliografia de colegas da área no Brasil. No primeiro caso destacaria Jean-René Troche (1998) e, no caso dos brasileiros, Maurício de Abreu (1997) e Pedro Vasconcelos (1997,2002). A partir do momento que fornece um método para estudar o espaço no long terme, a Geografia Histórica contribui, sobremaneira, na explicação e entendimento dos eventos contemporâneos. A adoção de um approche metodológico a tomar como ponto de partida a identificação das comunidades, dos grupos e das organizações para apreender as transformações notadas no espaço e a influência deste sobre eles. Neste domínio posso destacar duas obras fundantes, uma relacionada aos tempos pretéritos e outra aos atuais. Em tempos pretéritos, a obra de Alain Corbin (1978) possibilitou o entendimento de como o desejo em relação às praias se materializou no Ocidente, entre 1750 e 1840. Anteriormente se constituíam em ambientes portadores de imagens repulsivas, um “território do vazio”, cuja imagem somente foi modificada a partir de refinamento do olhar da sociedade interposto por atores estratégicos: os românticos, responsáveis pela elaboração de discurso coerente sobre o mar; os médicos/higienistas, a elaborarem discurso médico a provocar corrida de acometidos de males como o stress e a tuberculose às praias e; a nobreza, como geradora de um efeito de moda na sociedade. Tratar-se-ia da instituição do mito fundador de movimento a gerar fluxos cada vez maiores de usuários às paragens litorâneas, com a consequente instituição das práticas marítimas modernas: os banhos de mar, associados aos tratamentos terapêuticos e às atividades de lazer, acompanhados da vilegiatura marítima, sem se esquecer da invenção, dos esportes náuticos, especificamente da natação. Práticas a gerarem um ambiente de sociabilidade intenso e de caráter elitista, cuja implementação suscita fenômeno de urbanização caraterístico do mediterrâneo, com construção dos balneários e das residências secundárias da elite. Relacionados aos tempos atuais, a obra de Jean-Didier Urbain (1996) consistiu em recurso de peso. Ela possibilita compreensão das transformações ocorridas no Ocidente, bem como suas implicações no redimensionamento das práticas marítimas modernas. Práticas a perderem caráter elitista, com consequente implementação de lógica característica de uma cultura de massa e devida a avanços no domínio socioeconômico (leis trabalhistas, ganhos salariais, etc.) e tecnológico (principalmente com importância que a ferrovia adquire). Para ele, os banhos de mar dão lugar aos banhos de sol e surgem novos agentes responsáveis pela propagação da praia como lócus principal de sociabilidade, os atores e atrizes. Restou-nos a missão de apreender estes desdobramentos no Brasil. Em suma, compreender como se deu, no tempo, a aproximação da sociedade local em relação ao mar, com consequente valorização das praias. A missão não foi fácil, posto a obra de Alain Corbin (1978) ter virado modelo, padrão de análise, e não ponto de partida. É neste sentido que, em escala mundial, são produzidos trabalhos a evidenciar comportamento similar ao empreendido no Ocidente. As poucas exceções apresentavam quadro diferenciado do ocorrido no Brasil. Remetiam a ideia de conflito entre os de fora e os de dentro, sendo os primeiros os ocidentais e os segundos as populações autóctones das antigas colônias europeias. Dois mundos, porque não dois universos, que necessitaria apreender plenamente para avançar na leitura da lógica de constituição dos espaços de sociabilidade nas zonas de praia brasileiras. Neste sentido se impõe, também, o redimensionamento da escala espacial, associando o trabalho à escala mundo. Em suma, a indicar como as práticas marítimas modernas extrapolam os limites da Europa e adentram nas Américas, reflexo direto das transformações socioeconômicas, tecnológicas e simbólicas gestadas no primeiro continente, assim como da filtragem realizada pelos lugares (1985). O recurso a meu orientador me auxiliou nesta empreitada. Paul Claval (1995) trabalha com a ideia da fascinação exercida pela civilização europeia no mundo, dado a suscitar forte esforço de ocidentalização empreendido pelas elites e outras camadas da população. Consiste em tradição assimilada, também, na América Latina e a se fundar em forte processo de miscigenação, um quadro bem diverso do notado na América do Norte (países ocidentais como Canadá e Estados Unidos da América). No Brasil não se trata unicamente do atendimento de demanda externa (Ocidental) por espaços de sociabilidade nas praias. Internamente dispõe de uma elite local a empreender esforço de ocidentalização centrado na ideia da virtude da civilização europeia. Civilização cantada e propalada pela elite local (na qual a intelectualidade dispôs de papel estratégico), a acreditar ser ela a responsável por sua difusão aos outros. Por se tratar de sociedade em via de constituição, a noção de processo é retomada para exprimir sentimento de superioridade da elite local (composta por europeus e com forte participação de mestiços) e de outras camadas da população em relação a outros grupos autóctones (Índios, Negros e, também, Mestiços pobres). Em suma, um esforço motivado tanto pela fascinação exercida pela sociedade europeia como por uma tentativa de diferenciação social. Os membros desta elite se apresentavam como os Porta-Vozes do Ocidente, representando, na essência, o que caracterizo como emergência de grupos locais a produzirem os mesmos territórios e entreterem os mesmos desejos reinantes no Ocidente. São traços do processo de ocidentalização marcantes em países pouco afetados pelo turismo internacional e nos quais suas elites podem reproduzir livremente o modelo de maritimidade ocidental. Assiste-se, assim, a uma modificação de mentalidade dos grupos locais em relação ao mar, dado a inviabilizar noção de oposição entre maritimidade externa (alóctone e moderna) e maritimidade interna (autóctone e tradicional). Do posto concluo ser, a partir deste amalgama, possível vislumbrar os meandros da construção do desejo pelo mar no Brasil, movimento considerado vizinho do notado no Ocidente. Empreguei vizinho para não incorrer em erro cometido por colegas brasileiros, a empreenderem uma simples transposição das categorias e sem refletir sobre a filtragem realizada in lócus. ESPECIALIZAÇÃO ANIMADA PELA UFC: DOMÍNIO DA CRIAÇÃO DE CURSOS NOVOS Aqui se apresenta a especificidade característica, até início dos anos 2000, do Departamento de Geografia da UFC, cujo reconhecimento em escala nacional se dava no domínio da graduação. A exemplo da maioria dos Cursos de Geografia no Nordeste do Brasil, nós não dispúnhamos de quadro propício à inserção em outros domínios, sendo necessário envolvimento direto da instituição e nosso na criação de cursos de pós-graduação na área de geografia. No domínio da criação de cursos novos, stricto sensu, contei com ambiência relativamente favorável, o eu encontra os outros, principalmente colegas imbuídos dos mesmos anseios e desejosos em inovar. Como professor do Departamento de Geografia, inserido no Centro de Ciências, cuja composição reunia profissionais de áreas tradicionais (Física, Matemática e Química), nos impulsionou a buscar novas possibilidades, seguindo, assim, o exemplo do efetivado na Universidade Estadual do Ceará, primeira instituição do estado a investir na criação de pós-graduação em nossa área. Tomávamos ciência, nestes termos, de processo de crescimento da Pós-Graduação em Geografia no Brasil, o que nos animou a envidar esforços na construção de projeto próprio. Não se esquecendo da colaboração e assessoria de professores mais experientes, dentre os quais destacaria o Professor José Borzacchiello da Silva e a Profª Maria Clelia Lustosa, o primeiro com larga vivência em cursos de pós-graduação (Sociologia UFC, bem como de Geografia da UFPE e UFSE) e a segunda, uma das decanas da Geografia da UFC a oferecer contribuição impar, coube aos “recém-doutores” do Departamento de Geografia a incumbência de investir neste novo domínio (destaque a Vanda Claudino Sales e Antônio Jeovah de Andrade Meireles). Tal construção se deu de 2000 a 2004. Quatro anos de refinamento de nossa arte como profissionais, tudo direcionado ao objetivo de consolidar o Departamento de Geografia em escala nacional e internacional, bem como de seu reconhecimento na própria instituição. Dos projetos implementados neste sentido merecem especial atenção o de envolvimento dos “recém-doutores” no PRODEMA/UFC e o de criação de periódico da Universidade Federal do Ceará na Área de Geografia. Sabíamos da importância destas duas variáveis em processo de avaliação de propostas de criação de cursos novos e contamos, para tanto, com a sensibilidade dos colegas à frente da administração universitária. No primeiro domínio, se deu envolvimento imediato de todos os colegas em orientação no PRODEMA. No segundo domínio, foi retomada a discussão quanto à criação de uma revista, com efetivação do projeto em 2002, ano no qual foi aprovada como periódico da UFC, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). Meu envolvimento no citado constructo se deu no front, como primeiro Coordenador da Pós-Graduação em Geografia (Mestrado-Doutorado) e Criador da Revista MERCATOR. O nível de refinamento apresentado acima indica novas escalas a abordar, resultantes da indicação de condições materiais propícios ao desenvolvimento da pesquisa. Indica-se, a partir de então, inserção em redes de pesquisa a propiciarem construção de uma proposta de análise em escala regional e a lidar com abordagem comparativa, do desdobramento das práticas marítimas no mundo. As parcerias estabelecidas no Observatório das Metrópoles (no Brasil) e com colegas de instituições espanholas e francesas constituem o citado substrato sobre o qual a pesquisa se assenta. No Brasil, o envolvimento no Observatório das Metrópoles-INCT permite atingimento da escala nacional e, no caso específico, regional (das metrópoles estudadas). A citada articulação já resultou em conjunto de obras e de teses a tocar a temática da urbanização litorânea. Na Espanha, a aproximação em relação a colega espanhol da Universidad de Alicante (Antonio Aledo) se efetivou no interesse mútuo de apreender os desdobramentos do turismo no domínio do imobiliário, impactando na materialização de empreendimentos imobiliários-turísticos no mediterrâneo e, concomitantemente, com a exportação do modelo espanhol, no Nordeste brasileiro. A articulação em foco se fortaleceu ao ponto de orientarmos trabalho em co-tutela de doutorado. Na França, as relações estabelecidas dispõem de diâmetro mais amplo. De um lado, os com vínculos mais antigo, especificamente trabalhos desenvolvidos em parceria com o professores Jean-Pierre Peulvast e Herve Thery e a experiência como Professor Visitante da Université de Paris IV (Sorbonne) (2010), ambos imprescindíveis na configuração do tema de pesquisa abarcado atualmente em grupo de pesquisa que coordeno. De outro lado, os com vínculos mais recentes, a implicar em retomada das relações e envolvendo outras instituições francesas em: i. atuação como Professor Visitante (Université d’Angers, 2018); ii. envolvimento em Jornada Científica em Sable d’Ollone sobre a dinâmica de valorização dos espaços litorâneos na França e nos Países do Sul (ênfase dada ao Brasil e México), organizado pelo Prof. Arnaud Sebileau. A reaproximação indicada permitiu estabelecimento de diálogo com grupo de pesquisadores vinculados a ciências afins da Geografia. Na Espanha, os estudos são direcionados, sobremaneira, à incidência de dinâmica de valorização dos espaços litorâneos espanhóis por usuários, amantes de praia, a incorporarem como meio de hospedagem as segundas residências a pulularem na costa mediterrânea e cujo delineamento suscitou processo de urbanização intensa. Concebem assim o conceito de Turismo Residencial, para evidenciar comunicação que se tornou possível entre o turismo (fluxo de usuários) e o domínio do imobiliário (construção de condomínios residenciais de segunda residência nas zonas de praia) (ANDREU, 2005; ALEDO, 2008; NIEVES, 2008; DEMAJOROVIC et. al., 2011; FERNÁNDEZ MUNOZ & TIMON, 2011; TORRES BERNIER, 2013). Na França, há enveredamento para reflexão em relação aos esportes náuticos e aquáticos, apreendendo diversificação das práticas de lazer nas zonas de praia a partir do deslanche do surf (GUIBERT, 2006 e 2011), do winsurf e do kitesurf, ambos a animar as zonas de praia com a chegada de esportistas amadores (AUDINET; GUIBERT; SEBILEAU, 2017; SEBILEAU, 2017) a complementar fluxo de turistas e vilegiaturistas no mediterrâneo francês. No lido específico da temática na qual me especializei no tempo, convém ainda destacar papel assumido por conjunto de alunos formados no tempo, mestres e doutores, a contribuírem no refinamento do conhecimento geográfico juntamente comigo. A lista de nomes é razoável e, dentre eles, destaco a parceria rica e viva estabelecida com o Professor Alexandre Queiroz Pereira, atualmente colega dileto do Departamento de Geografia da UFC. OS SONHOS A JUSTIFICAREM O PRESENTE Não resta dúvida que o profissional que sou é reflexo direto do tempo no qual vivi e com o qual interagi. Tal dado foi evidenciado em minha articulação com várias instituições, a possibilitarem descoberta de mentores, colegas e aliados na implementação de conjunto substancial de projetos. No entanto, nada teria acontecido se não houvesse, no princípio, um elemento motivador. O começar pelo professor não foi à toa. A busca de implementação do projeto de ser professor me transformou no que sou, um profissional a investir e se articular com outros domínios: pesquisa e editoria. A colocação face ao apresentado reside em minha memória, especificamente no contexto a envolver um jovem pleno de sonhos e projetos almejados, especificamente o relacionado à primeira metade dos anos 1980. Refiro-me ao momento anterior a meu ingresso na universidade e cujas características fundantes são apresentadas na instituição basilar da família, com a qual os indivíduos têm o primeiro contato e balizam tanto caráter como pessoa como apontamento das possibilidades como profissional. Notem que não falarei de geógrafo! Geografia não constava em meu vocabulário inicial. A influência recebida de meus familiares (especificamente o lado feminino: a avó, Alvina Alves Correia; a mãe e tia, respectivamente Francisca Correia Dantas e Maria José Correia de Sousa, esta última minha primeira professora e responsável por minha alfabetização) indicava como meta o ser professor. Guardei na minha memória as histórias de minha avó ao se vangloriar de ter sido “Professora Interina” em Parnaíba/Piauí. Em suma, por saber ler e escrever medianamente havia, à sua época, a possibilidade de atuação voluntária na alfabetização de jovens e adultos, dado que ela guardou até seus últimos dias como boa recordação de sua juventude. No mais ela sempre afirmava ser a família de meu falecido avô composta de homens inteligentes, “todos doutores”. Nestes termos, apresentava naturalmente o peso do gênero no delineamento do papel dos sujeitos no tempo no qual viveu. Minha avó conseguiu influenciar, sobremaneira, minha mãe e tia. Ambas concluíram o antigo Normal e exerceram o magistério, no ensino fundamental, até a aposentadoria. O ciclo se fechava com elas ao realizarem um projeto de vida profissional almejado e não alcançado, de fato, por minha avó. Não fugi à regra. Com influência desta tríade, também abracei esta vocação e, no momento de pensar no ingresso na universidade somente existia uma certeza: o magistério. Minha vontade era tamanha que mesmo meus amigos mais próximos não ousavam me dissuadir. Eu não vislumbrava outras possibilidades e eles eram forçados a endossar. Toco neste ponto para denotar a já clara tendência de desvalorização deste profissional face a outras profissões. A Geografia apresentou-se como um meio para se atingir um fim, o me tornar professor. Na escolha desta ciência minha mãe me antecedeu, ingressando, aos 42 anos de idade, no Curso de Licenciatura da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Ingresso um semestre após (1985.2), dando início a meu percurso profissional. Consiste em trecho breve de meu relato, mas que carrego até hoje em minhas andanças. Seria a bússola a me orientar literalmente em mares bravios e a suscitar descoberta da praia. Ao entrar na universidade quis impor um ritmo diferente em minha vida, dedicando atenção especial a este momento de formação. Coloquei como meta, diferentemente do comportamento notado no ensino fundamental e médio, ser o melhor aluno. Mais uma vez acreditei nas histórias de minha avó, ousando acreditar ser, à exemplo da Família Correia, inteligente. Ingressei na licenciatura em Geografia da UECE para dar o melhor de mim. A tarefa não foi fácil, mas consegui manter o rumo. Concomitantemente à realização das disciplinas, já no terceiro semestre do curso, experimentei o ambiente de sala de aula como professor, especificamente em um curso supletivo noturno. Nele fui recepcionado pelo Professor Almeida, geógrafo formado pela Universidade Federal do Ceará e a exercitar suas habilidades profissionais como professor e proprietário do curso. O referido resolveu arriscar ao me contratar. Do meu lado fui levado a desenvolver a habilidade do autodidatismo para “enfrentar” a sala de aula. Se, de um lado, faltava experiência e conhecimento, de outro, abundava vontade em acertar. A relação com este personagem de minha história foi profícua, tendo me indicado, anos após, para substituí-lo como professor em uma escola particular: Colégio Castelo Branco, antigo estabelecimento religioso, sito no antigo Boulevard Dom Manuel, e responsável pela formação da elite da cidade em seus tempos áureos. Embora à minha época tenha se popularizado, significou uma importante experiência e cujo desdobramento foi o de identificação plena com o magistério. Enfoco a tônica da desvalorização do magistério não somente no sentido de criticar os governos ou a ausência de políticas de qualificação desta área e dos profissionais a ela associados. O objetivo é o de compreender como um profissional cheio de sonhos buscou maximizar suas chances de sucesso profissional. A saída foi a associação entre as variáveis magistério e especialização em dada área do conhecimento. Inicio minha descoberta da Geografia, ou melhor, de uma possibilidade não apresentada no exemplo de meus familiares, formados na lógica do antigo Normal (curso de formação de professores do ensino básico). À tônica dada ao Professor acrescento a de Professor de Geografia. A formação como Professor de Geografia pareceu-me razoável e as possibilidades de inserção no mercado se ampliavam para além do domínio do ensino básico, com a descoberta do magistério superior. Este novo horizonte me foi apresentado na universidade por professores especiais, a se destacarem na motivação dos jovens geógrafos em formação. Dentre eles indicaria Luzianeide Coriolano. A referida professora soube apresentar uma bibliografia atualizada e nos convencer da ideia de passarmos por um processo de renovação e no qual tínhamos uma contribuição a dar, tanto na defesa de uma sociedade justa como na efetiva atuação enquanto profissional geógrafo. Mais uma vez tenho reforçado o ideal do magistério e a essa altura do ensino superior. Nesta época percebo ser fundamental, na construção de meu perfil como professor, o investimento na dimensão da pesquisa, intento não fácil, posto dispor de fragilidades na formação como licenciado. O caminho encontrado foi o da realização de estudos de pós-graduação. A oportunidade se apresentou na Universidade Federal do Ceará (UFC), com ingresso no “Curso de Especialização Nordeste Questão Regional e Ambiental” em 1989, concebido pelo Prof. José Borzacchiello da Silva e coordenado pela Profª. Maria Geralda de Almeida. Consistiu em atividade fundamental em meu aperfeiçoamento. Pautado na temática Regional e a adentrar na compreensão da dinâmica da regionalização e do regionalismo no Nordeste, suscita a descoberta de bibliografia ampla e a impor um posicionamento científico e político face ao mundo. De meu posicionamento científico destaco formatação de meu primeiro projeto de pesquisa, associado à temática urbana e com objeto de estudo circunscrito no Centro de Fortaleza, especificamente o Comércio Ambulante. A vivência na cidade e as inquietações nela contidas foram as determinantes desta escolha, enveredando, neste momento, em movimento exploratório a englobar tanto pesquisa de campo como bibliográfica. Neste último domínio é que travo maior conhecimento de obras de Milton Santos e a versarem sobre Dimensão Temporal e Sistemas Espaciais (1979) e o Circuito Inferior da Economia (1985). Um conhecimento ampliado ao participar como aluno ouvinte de curso de especialização que ministrou em 1989 na Universidade Estadual do Ceará. Foi a oportunidade de dialogar, pela primeira vez, com professor conhecido através de seus escritos. Neste mesmo domínio recordo do como, a partir de desafio lançado pelo Prof. José Borzacchiello da Silva, ousei produzir trabalho associado à temática da especialização e publicado na primeira revista da Associação de Geógrafos do Brasil – Seção Fortaleza (Revista Espaço Aberto), com o título “Para Além das Dicotomias no Ensino de Geografia...” (DANTAS, 1989)(1). Do posicionamento político destaco participação nas reuniões da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Fortaleza, dado a culminar em atuação efetiva na gestão da associação como primeiro secretário (biênio 1988-1990). Nesta associação me envolvi diretamente com o estudo da problemática urbana, dado muito referendado pelas associações profissionais do gênero da AGB, no momento da reforma constitucional. Tratava-se de um movimento em escala nacional e no qual estabelecíamos contatos com colegas do Brasil inteiro e, também, de outras categorias profissionais. Localmente apresentou-se possibilidade de conhecimento e aprendizado com colegas da UFC: José Borzacchiello da Silva, Maria Clélia Lustosa Costa, Maria Geralda de Almeida e Vanda Claudino Sales. É a partir do posicionamento científico e político face ao mundo que a administração se impôs na minha vida. Lembro-me do quão foi difícil minha primeira aproximação (1993-1996), como Coordenador da Graduação em Geografia, posto ter, à época, restrições a envolvimento em atividades administrativas. Trabalhava bem com a ideia do tripé: ensino, pesquisa e extensão, mas a administração não era uma meta. Isto se explica pela influência anarquista em minha formação, dado a me levar a acreditar que meu aprimoramento não passava pelo exercício do poder, em nenhuma instância. Os meandros do destino me conduziram à administração e significou experiência gratificante, ao possibilitar conhecimento mais amplo da UFC e da própria Geografia, bem como ter a oportunidade de, em um passado recente, ter atuado como Coordenador da Área de Geografia na CAPES. Como a vida é sempre permeada de meandros, não segue uma linha reta, o individual (pessoal) entrou em choque com o institucional, dado a culminar em necessidade de capitulação de meus anseios face às demandas institucionais. CONCLUSÃO No constructo evidenciado minha alma foi forjada como a de um professor que produz conhecimento, adentrando nos meandros de uma geografia urbana a refletir sobre as transformações empreendidas nas cidades e face às demandas por espaços de lazer e recreação, fenômeno que, no concernente às cidades litorâneas, se concentram, sobremaneira, nos espaços metropolitanos. Esta mise em valeur justificaria a transferência de espaços de sociabilidade clássicos (continentais) às zonas de praia, tanto às cidades polo, como o tratado GOMES (2002) no caso do Rio de Janeiro, como aos municípios litorâneos metropolitanos, que abordo, com maior ênfase, no caso do Nordeste. Do até então apresentado evidencio tentativa de manutenção do rumo indicado já em 2005, no Encontro Nacional da ANPEGE em Fortaleza. O da apreensão das transformações ocorridas nas cidades litorâneas tropicais na passagem do século XX ao século XXI, conforme texto apresentado naquele evento, quando afirmei: "Com o veraneio marítimo, o efeito de moda do morar na praia e o turismo litorâneo associado aos banhos de sol, as zonas de praia das cidades litorâneas tropicais são redescobertas. Se anteriormente falávamos de eclipse relativo do mar, atualmente ele é descortinado em sua totalidade, apresentando-se como verdadeiro fenômeno social. A cidade e seus citadinos redescobrem parte esquecida em suas geografias, denotando necessidade de releitura de arcabouço teórico metodológico até então empregado na análise urbana. Resta-nos suplantar tradição nos estudos empreendidos, aquela de descartar, veementemente, o lado mar, direcionando o olhar para a parte continental e em consonância com o enfoque empreendido por aqueles que estudam as cidades continentais, matrizes do saber urbano e evidenciadas na bibliografia básica do gênero. Se nos anos 1980 Claval (1980) evocava a contribuição dos especialistas da vida marítima na construção de uma teoria unitária, (...) atualmente esta constatação torna-se mais evidente e adquire outra dimensão, aquela relacionada a uma rede urbana paralela à zona costeira e à transformação das cidades litorâneas em marítimas. De cidade portuária, representativa da época colonial até primeira metade do século XX, as cidades litorâneas tropicais tendem a se constituir, a partir do final do século XX, em cidades turísticas, reforçando tendência de valorização dos espaços litorâneos empreendido pelas elites locais, com adoção de práticas marítimas modernas. A análise permeada por reflexão em torno da construção do conceito de maritimidade, notadamente nos trópicos, apresenta-se como uma possibilidade de apreender as transformações em voga e de compreender a essência da cidade litorânea que se torna marítima no século XXI (DANTAS, 2006)." O texto acima significou uma tomada de postura científica face as relações entre o litoral, o mar e o marítimo, e o processo de metropolização. O Nordeste tem sido campo profícuo de análise dada a dinâmica de seu litoral, em constante transformação, com investimentos de monta (do estado e da iniciativa privada) que alteram sobremaneira sua geografia. A escolha até o presente se mostra acertada, indicando novos horizontes de pesquisa face à universalização da maritimidade como um fenômeno social. Do apresentado e reflexo de vivências múltiplas experimentadas, interessante indicar elementos em construção, resultantes dos diálogos e trocas estabelecidos com os professores Maria Clelia Lustosa Costa, Maria Elisa Zanella e José Borzacchiello da Silva e a diversificarem minhas linhas de abordagem. No caso das duas primeiras e em função de demandas sequenciadas de gestores do município, adentro em discussão sobre a temática da vulnerabilidade (DANTAS, E. W. C.; COSTA, M. C. L.; ZANELLA, M. E., 2016). No relativo ao segundo, adentro em discussão sobre a produção científica na área da Geografia Urbana brasileira, alimentada por material ajuntado no período de estada na CAPES (DANTAS, E.W.C; SILVA, J. B., 2018). REFERÊNCIAS ABREU, Maurício de Almeida. A apropriação do território no Brasil colonial. In: de Castro, Iná Elias et al. (orgs.). Explorações Geográficas - percursos no fim do século. Rio de Janeiro : Bertrand Brasil, 1997. p. 197-246 ABREU, Maurício de Almeida. Pensando a cidade no Brasil do passado. In: SILVA, J. B.; COSTA, M. C.; DANTAS, E. W. C. (orgs.), A cidade e o urbano: temas para debates. Fortaleza : EUFC, 1997. p. 27-52. ALEDO, A. De la tierra al suelo: la transformación del paisaje y el Turismo Residencial. Arbor Ciencia, Pensamiento y Cultura. CLXXXIV, enero-febrero, p. 99-113, 2008. ANDREU, Hugo, G. Un acercaimento al concepto de Turismo Residencial. In: MAZÓN, T.; ALEDO, A. (Ed.). Turismo Residencial y cambio social. Alicante: Universidad de Alicante, 2005. AUDINET, Laetitia; GUIBERT, Christophe; SEBILEAU, Arnaud. Les “Sports de Nature”. Paris: Édition du Croquant, 2017. Barroso, Gustavo. Praias e várzeas. Rio de Janeiro/Lisboa : Livraria Francisco Alves/Livrarias Ailland & Bertrand, 1915. Barroso, Gustavo. Terra de sol - costumes do Nordeste. Rio de Janeiro : B. de Aquila, 1912. CARLOS, Ana Fani Alessandri. A (Re)produção do Espaço Urbano. São Paulo: Tese de Doutorado em Geografia, USP/FFLCH, 1986. CARLOS, Ana Fani Alessandri. Espaço-tempo na metrópole. São Paulo: Contexto, 2001. Castro, José Liberal de. Fatores de localização e de expansão da Fortaleza. Fortaleza : Imprensa Universitária da Universidade Federal do Ceará,1977. CLAVAL, Paul. La géographie culturelle. Paris: Nathan, 1995. CLAVAL, Paul. Conclusion. In: PERON, Françoise; RIEUCAU, Jean (orgs.). La maritimité aujourd'hui. Paris : Éditions L'Harmattan, 1996. CLAVAL, Paul. La Fabrication du Brésil. Paris: Belin, 2004. CORBIN, Alain. Le territoire du vide. Paris: Aubier, 1978. CORMIER-SALEM, Marie-Christine. Maritimité et littoralité tropicales: la Casamance (Sénégal)". In: PERON, Françoise; RIEUCAU, Jean (orgs.). La maritimité aujourd'hui. Paris : Éditions L'Harmattan, 1996. DANTAS, Eustógio Wanderley Correia. Cidades Litorâneas Marítimas Tropicais: construção da segunda metade do século XX, fato no século XXI In: SILVA, José Borzacchiello; LIMA, Luiz Cruz; DANTAS, E. W. C. (orgs.) Panorama da Geografia Brasileira 2. São Paulo: Annablume, 2006. p. 79-89. DANTAS, E. W. C.; ARAGAO, R. F.; LIMA, E. L. V.; THERY, H. Nordeste Brasileiro Fragmentado. In: SILVA, J. B. da; DANTAS, E. W. C.; ZANELLA, E. Z.; MEIRELES, A. J. A. (Orgs.). Litoral e Sertão. Fortaleza: Expressão Gráfica, 2006. DANTAS, E. W. C.; FERREIRA, A. L; CLEMENTINO, M. L. M. (Orgs.). Turismo e imobiliário nas metrópoles. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2010 DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. A Cidade e o Comércio Ambulante. 2. ed. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2014. DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. Coastal Geography in Northeast Brazil. Springer, 2016. DANTAS, E. W. C.; COSTA, M. C. L. ; Zanella, Maria Elisa . Vulnerabilidade socioambiental e qualidade de vida em Fortaleza. 1. ed. Fortaleza: Imprensa Universitária - UFC, 2016. v. 1. 128p . DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. Mar à Vista. Fortaleza: Edições UFC, 2020. DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. Maritimidade nos Trópicos. Fortaleza: Edições UFC, 2008. DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. Metropolização Turística em Região Monocultora Industrializada. Mercator, v. 12, n.2 (n. especial). p. 65-84, 2013. DEMAJOROVIC, J. et. al. Complejos Turísticos Residenciales. Estudios y Perspectivas en Turismo, v. 20, p. 772-796, 2011. DESSE, Michel. L'inégale maritimité des villes des départements d'Outre-mer insulaires. In: PERON, Françoise; RIEUCAU, Jean (orgs.). La maritimité aujourd'hui. Paris : Éditions L'Harmattan, 1996. DUHAMEL, Philippe. Géographie du Tourisme et des Loisirs. Paris: Armand Colin, 2018. ELIAS, Norbert. La civilisation des mœurs. Paris : Calmann-Levy, 1973. FERNÁNDEZ MUNOZ, Santiago; TIMON, D. A. B. El Desarrollo Turístico Inmobiliario de la España Mediterránea y Insular frente a sus Referentes Internacionales (Florida y Costa Azul). Cuadernos de Turismo, n. 27, p. 373-402, 2011. GOMES, Paulo César Costa. A Condição Urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. GUIBERT, Christophe. L’univers du surf et stratégies politiques en Aquitaine. Paris : L’Harmattan, 2006. GUIBERT, Christophe; SLIMANI H. Emplois sportifs et saisonnalités. L’économie des activités nautiques. Paris: L’Harmattan, 2011. LEFEBVRE, Henri. La Vida Cotidiana en el Mundo Moderno. Madrid: Alianza Editorial, 1972. LEFEBVRE, Henri. Espacio y Politica. Barcelona: Ediciones Penisula, 1976. LEFEBVRE, Henri. De L’Etat. Paris: Union Générale d’Editions, 1978. LEFEBVRE, Henri. El Derecho a la Ciudad. Barcelona, Ediciones Peninsula, 1978. LEFEBVRE, Henri. La Production de l’Espace. Paris: Anthropos, 1986. NIEVES, Raquel Huete. Tendencias del Turismo Residencial. El Periplo Sustentable, n. 14, p. 65-87, 2008. NIJMAN, J. Miami. Philadelphia: Universsity of Pennsylnania Press, 2010 PEREIRA, A. Q. Coastal Resorts and Urbanization in Northeast Brazil. 1. ed. Basel, Switzerland: Springer International Publishing, 2020. PEREIRA, Alexandre Queiroz. A Urbanização Vai à Praia. Fortaleza: Edições UFC, 2014. PERON, Françoise; RIEUCAU, Jean (orgs.). La Maritimité aujourd'hui. Paris: Éditions L'Harmattan, 1996. SANTOS, Milton. O Espaço Dividido. Rio de Janeiro: F. Alves, 1979 SANTOS, Milton. Espaço & Método. São Paulo: Nobel, 1985. SEBILEAU, Arnaud. Les Figures de l’Empiètement dans une commune du littoral. In: GUIBERT, Christophe; TAUNAY, Benjamin. Tourisme et Sciences Sociales. Paris: L’Harmattan, 2017. SERRES, M. Hermes - uma filosofia das ciências. Tradução Andréa Daher. Rio de Janeiro: Graal, 1990. TORRES BERNIER. E. El Turismo Residenciado y sus Efectos em los Destinos Turísticos. Estudios Turisticos, p. 45-70, 2013. TROCHET, Jean René. Géographie historique. Paris: Éditions Nathan, 1998. URBAIN, Jean-Didier. Sur la plage. Paris: Éditions Payot, 1996. VASCONCELOS, Pedro de Almeida. Os Agentes Modeladores das Cidades Brasileiras no Período Colonial. In: Castro, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORREA, R. L. Expressões Geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. VASCONCELOS, Pedro de Almeida. Salvador. 1. ed. Ilhéus: Editus, 2002. ESTER LIMONAD ESTER LIMONAD Olhando para trás, posso dizer que os eixos ou caminhos fundantes que orientam atualmente minha inserção na Geografia e minha postura acadêmica e política encontram-se subjacentes em meu passado, e tem uma relação intrínseca com minha história de vida, com meu gosto por romances de mistério e de ficção científica, minha paixão por cinema e por rock & roll, com minha formação enquanto sujeito social e político, bem como com meu compromisso político e intelectual com a produção do conhecimento e com as transformações do mundo contemporâneo. Formação essa influenciada por leituras de autores diversos e, em particular, por meu encantamento com as proposições de Henri Lefebvre desde 1974, quando um colega da FAUUSP (1) me presenteou o “O Direito à Cidade” (2). Em uma apropriação metafórica de François Ascher(3) relativa aos múltiplos pertencimentos e inserções dos indivíduos no cotidiano, que exigem atualmente diferentes formas de interação social e de simultaneidade, que demandam que os sujeitos sociais transitem em múltiplos espaços, interajam com diversos grupos do local ao global e adotem múltiplas e diversas linguagens no decorrer de um dia; posso dizer que minha vida pregressa e presente é marcada por múltiplos pertencimentos e inserções em diferentes campos de conhecimento, que demandaram a assimilação de distintas linguagens, de diferentes formas de interação social, com um trânsito em múltiplos espaços, que vieram a resultar no que sou hoje. Assim, essa memória consiste em um esforço de explicitar diferentes caminhos trilhados, em que se inserem as distintas atividades desenvolvidas e está eivada por minha história pessoal e profissional pretérita. Retrospectivamente, minha aproximação à Geografia, se deu em diversos momentos, que culminaram com meu ingresso e efetivação no Departamento de Geografia da UFF, em 17 de agosto de 1998. Contudo, esta não foi uma jornada retilínea e sem desvios, ao contrário, foi permeada por diversas interrupções, muitas das quais alheias à minha vontade. Mas como dizem meus amigos mais próximos sou persistente e obstinada, para não dizer teimosa e cabeça dura. DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO TEÓRICO QUEM SOU EU? Começando pelo fim devo esclarecer que, desde julho de 2015, sou Professora Titular do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Conto com uma bolsa de produtividade do CNPq(4) , na área de Geografia Humana.Coordenei e participei de projetos interinstitucionais de cooperação e de ensino na área de Geografia com a UFPA, com a UECE, colaborei com diversos programas de pós-graduação na área de Geografia. Sou consultora ad-hoc da CAPES(5) e de diversas Fundações de Amparo à Pesquisa. Fui titular da Cátedra Rui Barbosa de Estudos Brasileiros da Universidade de Leiden, Holanda, uma das mais antigas da Europa, em 2014 e 2017, onde ministrei disciplinas de pós-graduação e graduação. Na qualidade de professora visitante convidada ministrei um curso no programa de Master en Estudios Urbanos (Universidad Nacional de Colombia-Medellín) e palestras em programas de pós-graduação de Estudos Urbanos e de Geografia das Universidades de Amsterdam (Holanda) e de Cardiff (País de Gales). Sou formada em Arquitetura e Urbanismo (MACKENZIE), Mestre em Planejamento Urbano e Regional (UFRJ e Doutora em Estruturas Ambientais Urbanas (USP), com pós-doutorado em Geografia Humana (Universidad de Barcelona). E muitas outras coisas mais, basta olhar meu lattes. De inicio devo explicitar o que não sou, para chegar a quem sou. Piaget(6) diferencia a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade e esclarece que todas zelam pela preservação e manutenção da identidade disciplinar original enriquecida. De fato, não sou nem uma coisa, nem outra, sou indisciplinada, pois trilhei muitos caminhos, sem haver retornado de forma integral à minha formação disciplinar original (Arquitetura), sem me preocupar em manter uma nítida delimitação conceitual entre meus interesses disciplinares e os das demais disciplinas. Incorporei conceitos, categorias, metodologias de diferentes campos disciplinares em diferentes momentos de minha vida, com destaque, além de minha formação básica, entre outros, para as Ciências Sociais, Ciência Política, Economia e História. A que se soma uma interlocução com a Biologia, em particular a Botânica, ao longo do científico de medicina do Colégio Dante Alighieri, que me familiarizaram com questões relativas à Ecologia e às especificidades geográficas e climáticas das diferentes espécies de plantas, que anos mais tarde me vieram dar suporte na Geografia. Embora me sinta geógrafa na mente e no coração, permaneço indisciplinar, por não descartar as diferentes rugosidades acadêmicas desses diversos campos disciplinares, que permanecem em mim e que contribuíram para minha formação e para ser quem sou. Durante minha existência, seja em termos do convívio ou da prática profissional e política, sempre tive de lidar com a perplexidade dos outros. Sentimento traduzido sucintamente em uma pergunta de minha mãe ao saber que eu estava na Geografia: mas você não se formou em Arquitetura? Perplexidade esta com a qual me defrontei inúmeras vezes. Sim, me formei em Arquitetura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 1977, então sede do CCC(7) , em plena ditadura militar, a despeito de minha militância na tendência estudantil Liberdade e Luta. De início, posso dizer que a questão identitária sempre marcou minha vida. Conquanto nunca houvesse me preocupado em refletir sobre isso, vi-me obrigada a fazê-lo, em razão de um convite de Edna Castro para participar de uma mesa redonda em um congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia realizado em Belém do Pará, em setembro de 2010, quando o tema da mesa para o qual havia sido convidada mudou, repentinamente, de “Sociedade e Natureza” para “Identidade e Sujeitos Sociais na Amazônia”(8) , coisas do mundo acadêmico. Confesso, que me senti provocada, principalmente, por ver-me obrigada a falar de um tema, tão em moda que, a princípio, me desagradava. Em uma reflexão sobre as razões de meu desagrado, conclui que este tinha por base três motivos. Primeiro, do ponto de vista pessoal; segundo, do ponto de vista acadêmico-intelectual dada minha formação heterogênea e, terceiro, por minha posição política, em termos de seu potencial de estigma e preconceito, com base na vinculação entre identidade e lugar, que remete às ideias nazifascistas de solo-pátria e identidade. Mas o que ficou claro para mim, naquele momento, foi que se os outros tinham um problema com minha identidade, eu não o tinha. COMO CHEGUEI ATÉ AQUI? COMO EXPLICAR MINHA TRAJETÓRIA? Nasci em um sábado, em 21 de agosto de 1954, em São Paulo, capital, três dias antes do suicídio de Getúlio Vargas, na madrugada de 24 de agosto. Sou a primeira filha tardia de um casal de imigrantes judeus europeus, ele nascido em 1895 no seio de uma família de classe média abastada russa, ela uma polonesa órfã de pai e mãe tragicamente falecidos poucos anos após a chegada ao Brasil, nascida em 1922, alienada da família e criada como agregada em uma casa de família, em São Paulo a partir dos 13 anos. Meus pais vieram a se conhecer e casar na cidade do Rio de Janeiro, em 1943, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, para logo em seguida se mudarem para a cidade de São Paulo, onde foram morar em uma pensão abarrotada de imigrantes italianos e portugueses no bairro do Bexiga. Na capital paulistana, meus pais construíram sua vida, ascenderam socialmente e mantiveram por toda vida as amizades feitas na pensão do Bexiga, mantendo pouco contato com a comunidade judaica. Motivo pelo qual, após a escola básica, onde fui alfabetizada em português e inglês, me matricularam no Dante Alighieri, colégio fundado pela colônia de imigrantes italianos. Aí conclui o ginásio, em 1969, e o segundo grau em 1972. Em minha infância as mulheres eram do lar e as boas meninas aspiravam casar e serem mães, aprendiam idiomas, a cozinhar, costurar, fazer tricô e crochê, se comportar e a cuidar do lar. Todavia, minha mãe já rompia com esse ideal, pois trabalhava com meu pai na editora de livros de direito, que fundaram em 1943 na capital federal e que os levara a São Paulo, em razão da inexistência de firmas de encadernação na cidade do Rio de Janeiro. Por esse motivo meu irmão e eu ficamos aos cuidados de uma babá, uma portuguesa católica e beata, que com suas idas diárias à missa pela manhã e à tarde, contribuiu para que recebêssemos uma formação católica, ao menos até minha mãe encontrar a minha coleção de santinhos, que eu jogava no “bafo” com os meninos da rua. A partir daí, foram envidados diversos esforços para me integrar à cultura e à comunidade judaicas, que mesmo assim me via como católica, enquanto os meus colegas de colégio me viam como judia e esquisita. Essa conjunção de fatores e, talvez, por haver sido criada e convivido basicamente apenas com meninos até os seis anos de idade, fez com que desde cedo o meu ideal fosse “ir à luta” e resolver a minha vida, o que não se mostrava muito fácil considerando as transformações sociais e políticas pelas quais passava o Brasil, então. Passei minha infância e juventude em São Paulo, capital, em um contexto de classe média ascendente. Toda a minha formação pré-universitária foi em escolas privadas. Estudei com filhas e filhos da burguesia paulista tradicional, de intelectuais engajados, de representantes de empresas multinacionais, de imigrantes europeus, de judeus, de sírio-libaneses e de famílias tradicionais paulistas. Reverberações do acirramento da repressão política da ditadura chegaram ao colégio, após diversas prisões de secundaristas e do assassinato, na rua vizinha, alameda Casa Branca, de Carlos Marighella, por agentes do DOPS comandados pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, na noite de 4 de novembro de 1969. Isso levou a direção do colégio a orientar e exigir que os seus alunos com mais de 13 anos, passassem a transitar sempre com documentos e carteira de estudante. Fato que me marcou sobremaneira, uma vez que até hoje me sinto despida quando caminho sem lenço, sem documento, como cantava Caetano Velloso em Alegria, Alegria... Em 1972, após algumas viagens para o exterior, o contato com outras gentes e culturas, visitas a museus, etc., tudo isso associado ao meu gosto e prazer de desenhar levaram-me a passar no último ano do científico, do de Medicina para o de Arquitetura. A essa altura, já cumpria um dos ideais do que se esperava de uma boa menina e falava fluentemente inglês, italiano, espanhol e um pouco de hebraico. No decorrer desse ano de preparação para o vestibular de ingresso à universidade, infelizmente, por problemas diversos de saúde meu pai veio a falecer. O rearranjo da constelação familiar e as exigências de preparação para o vestibular fizeram com que me distanciasse de amigos próximos, o que me levou a uma certa introspecção. Embora minha mãe, trabalhasse fora, ao contrário de meu pai, não via a necessidade, nem o por quê de eu ingressar em uma universidade ou ter amizades com não-judeus, bastava obedecê-la, ajudar na editora, arrumar um marido de seu agrado e, naturalmente, lhe dar netos. Quando jovem, me preocupava em como lidaria com as grandes decisões que definiriam o rumo de minha vida. Com o tempo descobri que não há grandes decisões impactantes a serem tomadas, que nossas trajetórias se constroem com base em pequenas decisões, muitas vezes com impactos muito mais profundos e maiores do que os esperados. E, amiúde, embora não saibamos ao certo o que queremos, certamente sabemos o que não queremos. Dessarte, minha aproximação à Geografia aconteceu gradualmente, por sucessivas aproximações, pelo acúmulo de carga conceitual de experiências acadêmicas, de trabalho e de vida. Durante o segundo grau, não imaginava ser professora, tampouco cogitava ser geógrafa, embora a Geografia me atraísse. Desejava ser cientista, médica, investigadora de doenças tropicais. Mais que tudo sonhava ser independente, sair de casa, viajar e conhecer o mundo. Passei da infância à adolescência entre os anos 1960 e 1970, tempos embalados ao som da Bossa Nova, dos Beatles, dos Rolling Stones e do The Doors, em que se sucederam diversos regimes políticos e governos. Período em que apesar da ditadura militar, ainda ecoavam os festivais da Record com Caetano, Gil, Vandré, Chico, Milton Nascimento e tantos outros. As reivindicações de Paris de 1968 faziam-se sentir na pele, no ar, despertando o desejo de mudança, de uma outra sociedade. Tempos do flower power, do paz e amor, da pílula, dos “soutiens” queimados, da liberação feminina, dos cabelos rebeldes, da ausência de liberdades democráticas, da proibição de reunião de mais de três pessoas, tempos de AI-5 e do famigerado Decreto Lei-477. Um período em que Caetano Veloso cantava “não confie em ninguém com mais de trinta anos” e nos lembrava que “é proibido proibir!”. E, conforme amadurecíamos, a despeito da repressão, da ditadura dos generais, do medo da tortura, conspirávamos para mudar a sociedade, amávamos a revolução, sentíamo-nos poderosos e acreditávamos que poderíamos mudar o mundo. A ESCOLHA DA GEOGRAFIA COMO CURSO SUPERIOR Não escolhi a Geografia como curso superior. Pode-se dizer que a Geografia aconteceu em minha vida. Motivo pelo qual busco expor, ainda que não de forma linear, o que designo de minhas sucessivas aproximações à Geografia, e pinço, pouco a pouco, os desvios, as linhas paralelas percorridas ao longo de minha vida acadêmica em diferentes campos disciplinares e do conhecimento, para apontar como estes vários percursos contribuíram para geografizar meu pensamento e moldar a indisciplinaridade, que me é intrínseca, em termos acadêmico-científico-profissionais e mesmo pessoais. Afinal, sempre apreciei as narrativas labirínticas das obras de Lewis Carroll, James Joyce, Júlio Cortázar e dos filmes de Quentin Tarantino, em que diferentes espaço-tempos se superpõem, se misturam, se condensam e buscam retratar uma realidade mais complexa. Em suma, não posso começar pelo meu ingresso na graduação, nem pelo meu encantamento com a Geografia na escola, quando a Geografia que então se ensinava se resumia a abordagens descritivas quantitativas, a uma enumeração de lugares, acidentes geográficos; a uma tipologia de paisagens, climas, relevos; ou seja, a uma geomorfologia árida e a uma geografia humana descritiva. E, tampouco, posso começar por meu ingresso em uma pós-graduação em Geografia, pois ao doutorado em Geografia da UFRJ tem inicio em 1992/93. Assim, minha relação com a Geografia se construiu e se constrói, efetivamente, pouco a pouco, nos últimos vinte e oito anos de minha vida acadêmica. ANTES DA GEOGRAFIA, UMA GRADUAÇÃO ENGAJADA Ingressei no curso de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1973. E, em um curto espaço de tempo, descobri que não era isso o que queria. No entanto as contingências da vida familiar levaram-me a concluir a faculdade, pois ou me dispunha a trabalhar na editora com minha mãe ou buscava minha independência. Assim, comecei a trabalhar em 1974, dando aulas particulares de matemática, inglês e física, fazendo estágios de monitoria na faculdade e estágios de projeto em escritórios de arquitetura e de engenharia elétrica. Em janeiro de 1978 concluí a graduação em Arquitetura. Durante o curso me identifiquei com as disciplinas de Planejamento, ministradas ao longo de quatro anos e com a linha de História da Arquitetura e da Urbanização. Olhando para trás, essa atração deveu-se em boa parte ao fato destas disciplinas haverem apresentado uma abordagem com ênfase nos aspectos teóricos e metodológicos do Planejamento Urbano e Regional e na análise da Organização do Espaço em detrimento do Planejamento Físico e do Desenho Urbano. Nessas disciplinas foram abordadas as obras de Singer, Lefèvbre, Castells e Lojikine entre outros, bem como os trabalhos de Weber, da Escola de Chicago, as teorias da localização de Lösch, Weber e von Thünen, a teoria do lugar central de Christaller, os setores circulares de Hoyt, as contribuições de Cullen, Alexander e Lynch, às quais se somaram abordagens relativas à organização do espaço das cidades. Durante a graduação assisti, também, informalmente, a diversas disciplinas na FAUUSP(9) relacionadas ao planejamento urbano, à história da urbanização, à problemática habitacional e à comunicação visual, entre outras. Meus estudos universitários foram marcados pela militância no movimento estudantil, participação em assembleias universitárias, em mobilizações pela reconstrução da UEE(10) e da UNE(11) , em manifestações contra a Ditadura e em favor das Liberdades Democráticas. A militância demandou leituras diversas de orientação social e política. À revelia dos grupos de estudo e dos sectarismos ideológicos de meus colegas militantes, devorei obras de Lefebvre, Gramsci e Luxemburgo, às quais se somaram leituras de Mandel e de Deborde. Em busca de uma alternativa à Arquitetura, em 1975, ingressei no curso de História da FFLCH(12) da Universidade de São Paulo, onde permaneci por dois anos sem dar seguimento. Aí me foram de especial valia as disciplinas de Metodologia Científica e as de História Moderna e Contemporânea, que me colocaram em contato com as bases da Economia Política e, levaram a leituras mais sistemáticas de trabalhos de Ricardo, Marx e Engels, seguidos pelas de Sweezy, Baran, Hobsbwan e Dobb referentes às características do capitalismo contemporâneo. As atividades desenvolvidas na graduação conjugadas à militância política levaram-me a elaborar uma monografia dissertativa, sem projeto de arquitetura, intitulada "Situação Atual da Habitação Popular no Brasil"(13) , onde procurei abordar os condicionantes econômicos, os diversos agentes e fatores determinantes da produção habitacional no Brasil. A elaboração dessa monografia e as atividades de monitoria iniciadas em 1976 junto à disciplina de “Estética e História da Arte e das Técnicas” levaram-me a colaborar também com a disciplina de “Sociologia Urbana” ao fim de 1977. Essa colaboração colocou-me em contato com o Instituto de Planejamento Regional e Urbano da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (URPLAN), que resultou em meu ingresso na Especialização em "Desenvolvimento Urbano e Mudança Social". Este curso, além de haver enfocado as Teorias de Desenvolvimento Econômico e Social, permitiu um aprofundamento de elementos da Economia Política; bem como questões relativas às abordagens da CEPAL e dos teóricos da marginalidade social. Em seguimento, fiz na FUNDAP o curso de aperfeiçoamento em "Renda Fundiária na Economia Urbana", organizado por Celso Lamparelli, o qual anos mais tarde seria meu orientador de doutorado. Este curso introduziu uma ampla gama de abordagens relativas à problemática da renda fundiária urbana. Esse curso contribuiu para a elaboração da monografia "Elementos para a Análise da intervenção do Estado no Setor de Auto Construção"(14) , feita com Gisela Eckschmidt , onde articulamos a questão da habitação para populações de baixa-renda com a problemática da renda fundiária urbana e as estratégias de reprodução da força de trabalho, dando de certa forma sequência ao meu trabalho de graduação. Em 1979, ingressei no Mestrado em Planejamento Urbano e Regional do Programa de Engenharia de Produção da COPPE/UFRJ, criado em 1972 como parte das intenções do I PND(15) de formar quadros técnicos qualificados para os órgãos de governo. A opção por esse curso teve por base o fato de que seu mestrado se distinguia dos demais por sua postura crítica em relação ao planejamento e à política urbana e regional, que ia ao encontro da minha posição política e dos grupos de estudos políticos e críticos que frequentei durante a militância na graduação. Por ocasião de meu ingresso o programa se encontrava ameaçado de extinção. As dificuldades enfrentadas pelo programa limitaram a oferta de disciplinas, ao menos até o fim de 1979. Por conseguinte, dirigimo-nos a outros Programas da COPPE-UFRJ e ao Mestrado em Desenvolvimento Agrícola, que então funcionava em um casarão histórico no Horto Florestal do Rio de Janeiro. As disciplinas dos primeiros períodos do mestrado do PUR-COPPE retomaram de forma sistemática as leituras da Ideologia Alemã de Marx e Engels, do Capital de Marx, de Economia e Sociedade de Weber, assim como obras de autores clássicos da Sociologia e da Economia. No mestrado reencontrei Milton Santos, que conhecera em uma palestra na pós-graduação da FAUUSP, o qual em sua breve estadia no PUR-COPPE, ministrou as disciplinas de “Estudos de Problemas Brasileiros” e de “Organização Territorial”, com um olhar crítico. Na primeira, tratou da criação do 3º Mundo, do planejamento no Brasil e introduziu a discussão de formação sócio-espacial e de divisão espacial do trabalho. Ao passo que na segunda disciplina, a partir de uma abordagem teórico-conceitual, tratou de questões relativas à produção e organização social do espaço, questões que mais tarde redescobri em seus livros “Espaço e Método”, “Espaço Dividido” e “Metamorfoses do Espaço Habitado”, que vieram ao encontro de meu interesse pela produção do espaço, despertado pelas leituras de Lefebvre na década de 1970. Durante o mestrado, três temas despertaram meu interesse e de certa forma orientaram minhas escolhas, o papel das políticas públicas e das teorias de desenvolvimento na resolução dos problemas sociais; a dinâmica espacial da renda fundiária urbana às quais veio se somar o interesse pela questão do Estado na sociedade contemporânea. Em decorrência aprofundei as leituras relativas à renda fundiária de Marx, as contribuições de Topalov, Lamarche, Lojikine, Castells, Lipietz, bem como estudei as teorias da modernização, da marginalidade social e as diversas teorias do desenvolvimento. O terceiro tema, relativo ao papel do Estado emerge quase como decorrência dos anteriores, e se constitui em uma tentativa de compreender o papel do Estado e o caráter do Estado brasileiro, em função da conjuntura autoritária que se arrastava desde 1964, para avaliar as condições de atuação política e possibilidades de transformação social. Interesse despertado pela leitura de Chico de Oliveira e de outros autores do CEBRAP(16) da Questão Meridional de Gramsci, bem como das Veias abertas da América Latina de Galeano. Destarte, os cursos sobre a “Sociologia do Desenvolvimento”, de “Introdução ao Planejamento” e de "Teoria Política", vieram ao encontro desse meu interesse pela questão do Estado capitalista e contribuíram sobremaneira para atualizar-me com relação à discussão teórica do Estado nos anos 1970, com base na contribuição de diversos pensadores, entre eles Buci-Glucksmann, Althusser, Poulantzas, Laclau e Milliband entre outros. De certa forma, o primeiro e o terceiro desses temas se entrecruzaram com diferentes ênfases e resultaram na dissertação “A Trajetória da Participação Social: sua Elaboração Teórica e Apropriação Prática”(17) , orientada por Rosélia Piquet Carneiro, defendida em 1984. Na dissertação procurei apontar as articulações entre a prática institucional que visa a participação e a integração das comunidades envolvidas na melhoria de suas condições de vida e a produção teórica que procura conceituar e definir a participação no processo de planejamento. Para concluir que sempre houve um "planejamento participativo" nos limites do concedido, planejado pelo Estado, e que a participação social apenas se viabilizará ao deixar de ser uma variável técnica e passar a integrar o cotidiano dos envolvidos. O interesse por esses temas contribuiu para a minha amizade e colaboração com Ana Clara Torres Ribeiro, que conheci em 1981 nos corredores do PUR-UFRJ, oriunda da Geografia da UFRJ. Animadas por uma comunhão de interesses em torno de questões relativas aos movimentos sociais e às desigualdades socioespaciais buscamos articular alguma forma de trabalho conjunto sistemático, que viabilizasse aglutinar pesquisadores e estudantes em torno de questões candentes da conjuntura brasileira. Em abril de 1982, Ana Clara Torres Ribeiro e eu, junto com outros mestrandos, criamos o Grupo de Trabalho de Políticas Urbanas no PUR/UFRJ, que se reuniu regularmente até se dissolver em 1984. Esse grupo contribuiu, em parte, para uma espacialização social de minha reflexão uma vez que um de nossos objetivos era procurar desenvolver um processo de análise de medidas de planejamento, que integrasse a rapidez necessária com o rigor teórico crítico, em uma tentativa de aprofundar os meios teóricos e empíricos necessários à análise dos vínculos entre a realidade metropolitana, a legislação urbana e os processos espaciais. Para isso selecionamos como objeto inicial de análise e discussão o Anteprojeto de Lei do Desenvolvimento Urbano do CNDU, posteriormente aprovado como Estatuto da Cidade. A reflexão sobre esse anteprojeto de lei se desdobrou em uma série de atividades conexas(18) , com destaque para o "Dossiê - Anteprojeto de Lei do Desenvolvimento Urbano"(19) . Entre 1982 e 1983 tive minha filha, o que limitou as minhas possibilidades de participação acadêmica, assim desliguei-me, pouco a pouco, do grupo de políticas urbanas do PUR. O grupo de trabalho de políticas urbanas teve por corolário ao menos quatro desdobramentos de que trato a seguir. O primeiro foi a minha inserção no curso de especialização em Sociologia Urbana no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o segundo foi o ingresso no doutorado, o terceiro foi meu retorno a UFRJ e o quarto foi minha primeira inserção na Geografia através do Laboratório de Gestão do Território (LAGET) do Instituto de Geociências da UFRJ. 1º DESDOBRAMENTO: A SOCIOLOGIA URBANA DA UERJ Em meados de 1984, após a defesa da dissertação de mestrado, recomendada por Ana Clara Torres Ribeiro e Lícia do Prado Valladares tornei-me docente do curso de especialização em “Sociologia Urbana” do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que me contratou inicialmente na qualidade de professora horista no Curso de Especialização em "Sociologia Urbana" (Pós-Graduação Lato-Sensu). Posteriormente, fui contratada como professora visitante por um período de dois anos (1987-1989). Durante o tempo em que permaneci nesta instituição, enquanto docente da Pós-Graduação Lato-Sensu, colaborei na criação e montagem do Curso de Especialização em "Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais" (Pós-Graduação Lato Sensu), colaborei na organização de eventos internos(20) , ministrei as disciplinas de "Planejamento Urbano" e de "Técnicas de Pesquisa", orientei monografias de especialização(21) , participei de bancas de trabalhos de conclusão de graduação e de especialização, bem como fiz um curso de computação e de análise de sistemas(22) . Subjacente a criação desse segundo curso de especialização estava a intenção de criar um mestrado em Sociologia Urbana, que se concretizou na década de 1990, quando já me encontrava na UFRJ. Um motivo de felicidade, então, foi a obtenção de uma bolsa de aperfeiçoamento do CNPq para um de meus orientandos(23). A proposta da disciplina de Planejamento Urbano era capacitar os alunos a proceder a uma leitura crítica do espaço urbano, dos agentes nele atuantes, com um enfoque no papel e atuação do Estado na regulação do espaço urbano vis à vis à erupção de movimentos sociais. A disciplina de Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais, por sua vez, demandou uma aproximação à Antropologia Urbana e aos métodos de observação participante, além de privilegiar um enfoque das diversas técnicas de investigação e de coleta de dados, analíticas e empíricas, finalizando com a estruturação de projetos e elaboração de relatórios de pesquisa. Essa disciplina demandou, ainda, a introdução do tratamento estatístico de dados aos alunos, o que impôs que me familiarizasse com equações estatísticas, o que me foi facilitado pela base em ciências exatas do curso básico de graduação em Arquitetura. Um fato curioso, que tomei conhecimento anos mais tarde, é que os meus predecessores na disciplina de Planejamento Urbano da especialização em Sociologia Urbana haviam sido Ruy Moreira e Carlos Walter Porto Gonçalves, que viriam a ser meus colegas no Departamento de Geografia da UFF. 2º DESDOBRAMENTO: O INGRESSO NO(S) DOUTORADO(S) Em 1987, embora contratada pela UERJ por tempo limitado, a inflação crescente fazia-se sentir, com cada vez sobrando mais mês ao fim dos salários. Não havia, então, possibilidade de ingressar em um doutorado fora do Rio de Janeiro. Assim, frente às limitadas opções ofertadas no Rio de Janeiro, candidatei-me à segunda turma do doutorado do IEI-UFRJ(24) , ao final de 1987, aonde fui aceita como ouvinte. Além de assistir aulas esparsas de diversas disciplinas, durante o ano de 1988, cursei disciplinas de Teoria Econômica, Economia Brasileira e Organização do Estado Contemporâneo, esta última com José Luís Fiori. A primeira destas disciplinas enfocou o pensamento econômico clássico (Smith, Ricardo e Marx) e algumas correntes que se seguiram com destaque para Keynes. A segunda, trabalhou com uma abordagem heterodoxa de autores de diversas escolas sobre a economia brasileira contemporânea, privilegiando questões relativas aos planos de governo, à inflação e à dívida externa. A terceira, permitiu um aprofundamento e atualização da discussão referente à crise do Estado e ao papel dos sindicatos e partidos políticos na arena de negociações, com base nas contribuições de Claus Offe, de Pierre Ronsanvallon e de outros autores. Em 1989, a restrição de ingresso ao doutorado do IEI-UFRJ e o desejo de desenvolver minha pesquisa de doutorado sobre o estado do Rio de Janeiro levaram-me a pensar em buscar outras alternativas. Foi quando, reencontrei Celso Lamparelli, em uma reunião preparatória do III Encontro Nacional da ANPUR, que sugeriu que me candidatasse ao Doutorado da FAUUSP com o seu apoio. Assim, em julho de 1989, ingressei no Doutorado de Arquitetura e Urbanismo com uma bolsa CNPq por quatro anos. Questionada, anos mais tarde, por Milton Santos do por que de não haver ido para a Geografia da USP, cheguei a conclusão que naquela ocasião, de um ponto de vista pragmático, a FAUUSP acumulava, então, condições gerais mais favoráveis ao meu doutoramento, sem demandar créditos suplementares e por permitir-me conjugar a dedicação aos estudos, à pesquisa e às demandas familiares. Para cumprir os créditos disciplinares cursei as disciplinas de "Teoria da Urbanização" com Celso Lamparelli e Rebeca Scherer, "Teoria do Desenvolvimento e do Planejamento" com Cândido Malta Campos Filho e "Os Processos do Projeto e do Planejamento" com Philip Maria Gunn. A primeira realizou uma recuperação e discussão da evolução da questão metodológica sobre o urbano e o planejamento e, também, privilegiou uma reflexão sobre as atuais práticas de planejamento procurando apontar as tendências correntes e possíveis vieses teórico-metodológicos. A segunda privilegiou, inicialmente, uma recuperação das teorias clássicas de planejamento articulando-as com a prática de planejamento do Estado no Brasil, para a seguir tratar das operações interligadas em São Paulo. Ao passo que a terceira procedeu a uma discussão dos veios ideológicos e políticos que conformaram a prática de produção do espaço urbano, de meados do século XIX à primeira metade do século XX. 3º DESDOBRAMENTO: DE VOLTA À UFRJ E A ERA DOS CONCURSOS No 2° semestre de 1988, em vista do fim do meu contrato com a UERJ, e de minha inserção como ouvinte no doutorado do IEI, voltei à UFRJ. Este retorno se deu com múltiplas e variadas inserções, de 1988 a 1995, de forma intermitente e com vínculos precários. Primeiro com atividades de pesquisa quase simultâneas no IEI, onde iniciei o doutoramento, e no IPPUR, bem como com aulas de especialização no IPPUR e na FAU e posteriormente com pesquisas na Geografia e no IPPUR. Durante este período me submeti a quatro concursos docentes, sendo aprovada e qualificada em todos, dois na área de Arquitetura e Urbanismo e dois na área de Geografia Humana. A estes quatro concursos seguiram-se mais dois, quando já me encontrava, em caráter precário, no Departamento de Geografia da UFF. De março a agosto de 1988, trabalhei na pesquisa "Mega-Cities Rio de Janeiro" sob a coordenação de Carmen Fabriani, com suporte de um convênio entre o IEI-UFRJ com a New York University. Nessa pesquisa trabalhei com diversos pesquisadores, com destaque para Janice Perlman, coordenadora geral do projeto, e Susana Finquelievich do Instituto Gino Germani da Universidade de Buenos Aires e do CEUR-Argentina. Além de colaborar na elaboração de relatórios mensais, na definição das diretrizes gerais do projeto, na organização do Encontro de Coordenadores do Mega-Cities, também, participei ativamente da elaboração do trabalho "El Sector Informal y la Calidad de Vida en las MegaCiudades"(25) , apresentado no Seminário "Setor Informal: Cooperação e Participação para Resolver Problemas Urbanos", promovido pela Escola Nacional de Habitação e Poupança, pelo IBAM, pela USAID e pelo Projeto Megacidades, que me oportunizou reencontrar Maria Adélia de Souza. Em paralelo às atividades desenvolvidas na UERJ e no IEI-UFRJ, no primeiro semestre de 1988, comecei a ministrar a disciplina de “Produção do Espaço” para a Especialização em Urbanismo da FAU-UFRJ, onde permaneci até meados de 1992. Esta disciplina tinha por objetivo fornecer um instrumental analítico e prático para a análise do processo de evolução do uso e ocupação do solo urbano; enfatizando do ponto de vista teórico o papel e interações entre os diversos agentes responsáveis pela produção do espaço (capital imobiliário, incorporadores e a autoconstrução), bem como os aspectos ligados às políticas e práticas do Estado e dos organismos financiadores na produção do espaço urbano (política habitacional, infraestrutura e legislação). Ao nível prático o curso privilegiou o estudo da cidade do Rio de Janeiro e das cidades da Baixada Fluminense, através do uso de mapas temáticos. Ao mesmo tempo, comecei a dar aulas de "Técnicas de Análise e de Diagnóstico Regional” no Curso de Especialização em "Desenvolvimento Regional e Planejamento Territorial" do IPPUR-UFRJ junto com Rainer Randolph. Na parte que me coube abordei técnicas de pesquisa ligadas à análise regional, através de uma visão crítica, procurando destacar aspectos da coleta de dados em diferentes escalas de análise e de reflexão. Entrementes, em dezembro de 1991, foi aberto o primeiro concurso em anos para Professor Assistente de Teoria da Arquitetura na Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF, no qual fui habilitada e aprovada em 2° lugar. Meio ano depois, prestei concurso para Professor Assistente para o Departamento de Planejamento Urbano da FAU-UFRJ, no qual fui habilitada e aprovada em 3° lugar. Entre 1991 e 1992, eu, Lilian Fessler Vaz e Elane Frossard Barbosa, coordenadora do curso, com quem trabalhara no Grupo de Trabalho de Políticas Urbanas, elaboramos a proposta preliminar do curso de mestrado em Urbanismo da FAU-UFRJ, tomando por base a estrutura curricular da especialização. No segundo semestre de 1992, já sob a coordenação de Denise Pinheiro Machado esta proposta foi aperfeiçoada, reelaborada, encaminhada e aprovada na CAPES, dando origem ao atual programa de urbanismo da FAU-UFRJ, hoje PROURB-UFRJ. A esta altura percebia que meus interesses de pesquisa se distanciavam cada vez mais da área de Arquitetura e Urbanismo. E, se colavam mais e mais a questões ligadas à análise regional da urbanização e da dinâmica econômica, que se desdobravam nos estudos da tese de doutorado sobre a urbanização fluminense. Em janeiro de 1992 comecei a participar do Laboratório de Organização de Redes Territoriais, Estratégicas e Sociais do IPPUR-UFRJ (ORTES - IPPUR/UFRJ), coordenado por Rainer Randolph, e da organização do projeto de pesquisa "Impactos de Projetos Turísticos na Ilha Grande, Município de Angra dos Reis" que se propunha a uma avaliação dos impactos de uma possível desativação do Instituto Penal Cândido Mendes na Ilha Grande, município de Angra dos Reis(26). Um desdobramento deste projeto foi a apresentação do trabalho "Life Conditions of Vila Abraão Inhabitants - a Multimedia Presentation"(27) , em coautoria com Rainer Randolph, no 1st Symposium of "Multimedia for Architecture and Urban Design" realizado na FAUUSP. Em paralelo às atividades na FAU-UFRJ, durante o 1° semestre de 1992, eu e Rainer Randolph tomamos contato com a Ação Rural da Paróquia de S. Sebastião de Lumiar- Município de Nova Friburgo / RJ. Resultou daí uma série de reuniões e discussões que culminaram em nosso apoio a elaboração conjunta do documento "Sustentabilidade dos pequenos produtores em Área de Tombamento (Mata Atlântica - RJ)"(28) apresentado no FORUM GLOBAL - RIO 92. Nesse documento são salientadas as condições de vida e trabalho dos pequenos produtores em áreas de Mata Atlântica, aí residentes há gerações, e os problemas que enfrentam gerados pela ação do IBAMA e de grupos ecológicos radicais, que visam sua erradicação dessas áreas em nome da preservação ambiental do meio físico e biológico, sem atentar para a necessidade de manter estes grupos no local. CHEGANDO NA GEOGRAFIA, DA UFRJ À UFF Em 1993, de setembro a dezembro, me aproximei da Geografia propriamente dita quando fui contratada pela Fundação Bio-Rio para gerenciar a 1a Fase da Pesquisa PADCT "Utilização de Sistema de Informações Geográficas na Avaliação Tecnológico Ambiental de Processos Produtivos", coordenada por Bertha Becker e Cláudio Egler, do Laboratório de Gestão do Território (LAGET), com a participação dos laboratórios de Geoprocessamento e de Estudos do Quaternário do Instituto de Geociências-UFRJ, junto com laboratórios do IPPUR-UFRJ e com laboratórios da Fundação Fiocruz. Esse projeto me facultou uma aproximação às técnicas de geoprocessamento e ao domínio de alguns programas, que me propiciaram elaborar mapas temáticos. Bem como propiciou o contato com Fany Davidovich, Lia Osório Machado, Iná Elias de Castro, Paulo César Gomes, entre muitos outros docentes da UFRJ. Durante esse período no LAGET, Cláudio Egler e Marcelo Lopes de Souza, docentes do Departamento de Geografia, incentivaram minha candidatura ao concurso para provimento de duas vagas de professor assistente em Geografia Humana da UFF. Aprofundei, assim, minhas leituras de Harvey, Soja, Benko e Milton Santos, entre outros autores, bem como dos clássicos da Geografia com destaque para os trabalhos de Ratzel, de La Blache e Waibel. Esse concurso realizado em outubro de 1993 contou com diversos candidatos, havendo sido aprovados e habilitados apenas quatro, eu em terceiro lugar. Segui no LAGET-UFRJ até dezembro de 1993, quando por força da necessidade de concluir o doutorado desliguei-me do projeto. Essa breve estadia no LAGET-UFRJ propiciou o meu acesso às bases de dados distritais do IBGE relativos ao estado do Rio de Janeiro, necessários ao desenvolvimento de minha tese. No primeiro semestre de 1994, mais uma vez incentivada por Claudio Egler, Marcelo Lopes de Souza e Bertha Becker prestei concurso para Professor Assistente de Geografia Humana no Departamento de Geografia da UFRJ, no qual fui aprovada em segundo lugar, dentre diversos candidatos. Após esse resultado, retomei a tese de doutorado, que ganhava cada vez mais contornos geográficos em função das intensas leituras e extensos fichamentos feitos para os concursos. Cabe ressaltar que muitas contribuições das leituras desses autores convergiam para as leituras passadas dos textos de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Salama feitas em grupos de estudos clandestinos durante minha militância política durante a graduação, relativos ao desenvolvimento desigual e combinado, às contradições entre o valor de uso e o valor de troca, entre capital e trabalho; bem como leituras de textos de Gramsci, Luxemburgo, Mandel, Deborde e Lefebvre feitas à revelia do sectarismo militante, que contribuíam para uma compreensão da dinâmica espacial do capitalismo e da divisão espacial do trabalho. INGRESSO NA GEOGRAFIA DA UFF E CONCLUSÃO DO DOUTORADO Em 1º de agosto de 1995 teve início o meu contrato como professora substituta no Departamento de Geografia da UFF, sem direito a renovação devido a medida provisória federal do primeiro governo presidencial de Fernando Henrique Cardoso. E, foi neste âmbito que se deu a elaboração e redação final de minha tese de doutorado "Os Lugares da Urbanização - o caso do interior fluminense", que me conferiu o grau de Doutora em Estruturas Ambientais Urbanas. Cabe ressaltar que a pesquisa e elaboração da tese se desenvolveu de 1990 a 1996, em meio a diversas atividades e com uma progressiva aproximação à Geografia, havendo sido defendida em novembro de 1996 e, posteriormente, disponibilizada no acervo digital de teses da USP, da qual trato mais adiante. Após a defesa da tese, em vista da falta de uma perspectiva de inserção acadêmica institucional na UFF e a convite de colegas do IEI-UFRJ, Fábio Sá Earp e Luiz Carlos Soares, candidatei-me a um concurso de professor assistente em Economia do Trabalho, em que fui aprovada e habilitada em terceiro lugar. Nessa ocasião foi aprovada a minha solicitação de bolsa de pesquisa de recém-doutor junto ao CNPq ao fim de 1996, o que determinou meu retorno ao Departamento de Geografia da UFF, onde estou até hoje, após haver sido efetivada, através de novo concurso público, em 17 de agosto de 1998. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA A GEOGRAFIA BRASILEIRA Espero que aqueles que ora me leem compreendam que, há décadas, convivo em uma relação de amor com a Geografia. Uma relação consensual estável, reconhecida por meus pares, porém sem títulos de papel que comprovem e atestem a legitimidade de minha relação com a Geografia, ou seja não sou graduada, nem pós-graduada em Geografia, porém com pós-doutorado em Geografia Humana com Horácio Capel em Barcelona, entre 2005 e 2006, na Universidad de Barcelona. Maurício de Almeida Abreu dizia que me tornei geógrafa, pouco a pouco, fazendo concursos e lecionando diversas disciplinas de Geografia Humana e Econômica ao nível da graduação da UFF, à exceção de Geografia Agrária, bem como formando geógrafos, que hoje lecionam em universidades e em escolas, desenvolvem pesquisas e atuam em diferentes instituições. A este conjunto de atividades somaram-se aulas em disciplinas dos cursos de especialização em Planejamento Ambiental e em Geografia do Rio de Janeiro, precursores do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFF. E, como observou uma vez, Milton Santos “só você para fazer uma tese de Geografia na FAUUSP”. Tese de doutorado defendida em 05 de novembro de 1996 que, posteriormente, para minha honra, citou em um dos seus últimos livros com Maria Laura Silveira, extensamente segundo meus alunos. Tese que, agora ao elaborar esse memorial, percebo que tem a ver justamente com meu momento de descoberta de uma outra Geografia, diferente daquela dos livros de escola(29) . Momento do meu primeiro encontro com Milton Santos na sala dos espelhos do casarão da FAU-Maranhão em São Paulo, em uma aula apinhada do curso de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da USP, em 1978. Onde, do alto de um púlpito, teatralmente, Milton Santos discorria sobre paisagem e lugar. Sua abordagem a um só tempo me deixou perplexa, me fascinou, seduziu e intrigou. Levantei questões, fiz perguntas e saí, então, com mais indagações do que respostas. Aqueles eram tempos marcados pela repressão autoritária que repercutia nas salas de aula e calava as vozes de muitos professores, tempos em que uma possível abertura política e transição para a democracia apenas se faziam anunciar. Tempos em que ainda reverberavam os esforços da ala conservadora das forças armadas por um golpe à direita. Assim, ouvir Milton Santos falar livremente naquela ocasião foi, por assim dizer, no mínimo, estimulante. Embora essa tese designada “Os lugares da urbanização: o caso do interior fluminense”(30) não discuta o conceito de lugar objetivamente, parte de uma discussão do espaço social, de sua produção e traz embutida em si uma concepção geográfica de lugar. Essa tese é um dos marcos de minha adesão à Geografia. Influenciada pelas obras de Harvey(31), Santos(32) , Soja(33) e Lefebvre(34) , procedo à uma reflexão sobre a urbanização no interior fluminense à luz da compreensão da urbanização enquanto um fator crucial para a estruturação do território, que na atual etapa transcende os limites físicos da aglomeração. Esse estudo permitiu-me concluir, então, que a persistência da concentração urbana vis a vis a uma dispersão da ocupação de caráter urbano no território era um sinal da dissolução da dicotomia rural-urbano, que demandava a necessidade de se relativizar a onipresença metropolitana no território. ATUAÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFF Uma de minhas maiores contribuições ao Departamento de Geografia foi minha atuação ativa junto a um pequeno grupo, constituído por Ruy Moreira, Jorge Luiz Barbosa e Rogério Haesbaert, para a implantação do curso de Pós-graduação em Geografia, cuja proposta foi elaborada no decorrer de 1997 e aprovada em 1998 com conceito 4 na CAPES, sem retificações. Posteriormente, em um esforço conjunto com esses colegas, apoiei e dei suporte efetivo ao encaminhamento da proposta de doutorado, aprovada em 2001 com conceito 4. Além de haver participado de diversas comissões de seleção do mestrado e do doutorado, participei e atuei diretamente, também, em vários níveis e em momentos cruciais à implantação e consolidação prática do Programa de Pós-Graduação em Geografia, de que trato em seguida. Primeiro, assumi a responsabilidade, por vários anos (1999-2005), dos seminários basilares do Mestrado, que implicavam em uma releitura das propostas de pesquisa apresentadas pelos mestrandos, para uma apresentação coletiva. Esses seminários integravam um sistema escalonado de apresentações semestrais e se constituíram na espinha dorsal da proposta, que permanece vigente até os dias atuais, igualmente implementada no doutorado. Os seminários escalonados do mestrado e do doutorado propiciam um ambiente coletivo de discussão, troca de informações e de acompanhamento do andamento dos trabalhos finais dos orientandos, com a participação do professor orientador e demais docentes do programa. Em termos da formação propriamente dita, que compreendeu a orientação de diversos mestrandos, implantei duas disciplinas na pós-graduação, uma primeira denominada Urbanização e Ordenamento Territorial, voltada para a problemática da produção social do espaço, com base em leituras da obra de Lefebvre(35) e trabalhos de Santos, com um foco particular em A Natureza do Espaço(36) . Recentemente, implementei a leitura do Capital de Marx(37) , junto com a leitura de David Harvey(38) de modo a instrumentalizar a abordagem da contradição valor de uso-valor de troca e o fetichismo da mercadoria, para a discussão dessa contradição e desse fetichismo em relação à produção social do espaço contemporâneo. Junto com Jorge Luiz Barbosa, implementei a disciplina “Questões Ambientais Contemporâneas”. Embora essa tenha sido uma experiência exitosa, não se repetiu em função do aumento das demandas administrativas e de pesquisa, que se fizeram acumular nos períodos seguintes. Após a criação do doutorado em Geografia, em 2001, passei a fazer um acompanhamento direto de vários Seminários de Doutorado, além de haver assumido diversas orientações, ano a ano. Segundo, para assegurar a qualidade do Curso, de 1999 a 2004, atuei como representante do programa junto à Comissão de Área CAPES coordenada por Maurício Abreu e Maria da Encarnação Beltrão Spósito, onde conheci docentes de outras instituições de ensino superior, entre os quais Ana Fani Alessandri Carlos, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Francisco Mendonça (UFPR )(39), João Lima (UNESP-PP )(40), Heloísa Soares de Moura Costa (UFMG) e, anos mais tarde, Dirce Surtearagay (UFRGS )(41). Terceiro, contribui, ainda, em um esforço conjunto com meus colegas para a criação da revista Geographia, em 1999. Essa revista concebida enquanto um periódico científico com a meta de viabilizar a tradução e publicação de textos de geógrafos, a publicação de trabalhos de docentes e de discentes, bem como textos clássicos da Geografia, foi avaliada com Qualis A1 na área de Geografia. Durante a gestão de Jacob Binsztok (2006-2008) na coordenação do Programa de Pós-Graduação de Geografia, promovi a digitalização desse periódico. Desde então, este periódico se encontra totalmente digitalizado e disponível online, em uma base OJS(42). Quarto, cabe ressaltar a importância, primeiro, da orientação de dissertações de mestrado, a que se seguiram as teses de doutorado. Essa função se caracterizou pela diversidade de temas decorrente da necessidade de atender, inicialmente, em parte aos próprios professores do Departamento, bem como a professores de outros departamentos e de outras Instituições de Ensino Superior, a que se somaram candidatos oriundos da graduação da UFF, da UERJ-FFP(43) e inclusive da UFRJ, aos quais vieram depois se juntar candidatos de outros cursos de Geografia do estado do Rio de Janeiro. A criação do Doutorado em Geografia da UFF contribuiu para aumentar a projeção do Programa ao nível nacional e internacional, com o estabelecimento de diversos convênios de intercâmbio e de cooperação nacional e internacional, com países latino-americanos, africanos e europeus, com um crescente intercâmbio de alunos de diversas partes de mundo. Entre meus orientandos do mestrado, doutorado, especialização e iniciação científica destacam-se Anita Loureiro de Oliveira (mestrado), docente de Geografia Humana da UFRRJ(44) ; Antônio de Oliveira Júnior (mestrado) docente de Geografia Humana da Universidade Federal de Uberlândia; Fernando Lannes Fernandes (mestrado), Senior Lecturer in Inequalities at the Research Centre for Inequalities, University of Dundee na Escócia; João Carlos Carvalhaes dos Santos Monteiro (iniciação científica, TCC e doutorado), pós-doutorando junto a UFF; Luísa Simões (iniciação científica), que após concluir seu mestrado em Paris, se encontra concluindo seu doutoramento em Geografia na Sorbonne; Marcelo Lopes de Souza (especialização) docente da Geografia da UFRJ e pesquisador 1 do CNPq; Marcia Feitosa Garcia (especialização, mestrado e doutorado) (in memoriam) que ocupou o cargo de Gerente de Avaliação Ambiental de Projetos na Eletrobrás; Marcus Rosa Soares (monitoria, doutorado), docente do CEFET-Nova Iguaçu; Tatiana Tramontani Ramos (iniciação científica) docente de Geografia Humana na UFF – Campos; Renato Fialho Martins (CEFET- Itaguaí) e Pablo Arturo Mansilla, docente da PUC de Valparaíso, bem como outros docentes e pesquisadores provenientes de outras instituições de ensino superior, que se qualificaram junto ao nosso programa, como Regina Mattos da PUC-RIO(45), Célio Augusto Horta do Instituto de Geociências da UFMG; Aldo Souza do CEFET-Belém, Regina Esteves Lustoza da UFV(46) e Josélia Alves docente da UFAC(47) entre muitos outros(48) , inclusive participantes de convênios de intercambio. Quinto, embora estivesse impedida, em 1998, de assumir a subcoordenação do programa, por me encontrar em regime probatório, assumi diversas tarefas relativas a esse cargo até meados de 2002. De 2002 a 2004, assumi de forma efetiva a (sub)coordenação da pós-graduação com Carlos Walter Porto Gonçalves, enquanto coordenador. A partir de 2007 voltei a dar suporte à coordenação do programa, então sob a gestão de Jacob Binsztok. E, de meados de 2008 até meados de 2010, assumi a coordenação, junto com Nelson Fernandes, ocasião em que o Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFF alcançou o conceito 6 junto a CAPES, o qual mantém até hoje. Sexto, contribui para com o departamento e o Programa de Pós-graduação em Geografia através da implementação de convênios e de acordos interinstitucionais relativos a formação de quadros qualificados (DINTER(49) informal com a UENF-Campos (2008)(50); DINTER-CAPES com a UNEMAT(51) e UFMT(52) (2010-2013), coordenado por Sandra Baptista da Cunha e Jacob Binsztok durante minha gestão, e implementação de uma política de cooperação e solidariedade interinstitucional através do PROCAD-NF tripartite com a pós-graduação em Geografia da UFPA(53) e da UNESP-PP (2009-2014), coordenado por mim, por Janete Gentil de Moura da UFPA e por Antônio César Leal da UNESP-PP, a que se soma o edital Casadinho com a UECE(54) , coordenado por Denise Elias. Dessas cooperações resultou um intercâmbio de docentes e discentes, que contribuiu para uma rica troca de experiências. Soma-se a essas experiências a interação entre o mencionado PROCAD-NF de Geografia da UFPA com o PROCAD-NF de Economia da mesma universidade, que promoveu a integração de docentes de todos os cinco programas envolvidos (Geografia da UFF, da UNESP-PP, da UFPA e Economia da UNICAMP(55) e da UFPA) em um Seminário realizado na UFPA com o apoio do CORECON-PA(56) em dezembro de 2010, coordenado por Carlos Antônio Brandão da UNICAMP. Sétimo, em termos da internacionalização do programa, além das iniciativas de meus colegas, cabe, em parte, uma responsabilidade minha nos laços estabelecidos com a Universidad de Barcelona, graças a um estágio de pós-doutorado realizado naquela universidade, junto ao professor Horacio Capel, entre 15 de julho de 2005 e 31 de março de 2006. Embora estivesse debilitada em razão de sérios problemas de saúde, este estágio foi extremamente profícuo e contribuiu, posteriormente, para diversos estágios de doutorado-sanduiche de nossos alunos da pós-graduação, bem como para a realização de estágios pós-doutorais de outros colegas. No âmbito dessa cooperação recebemos Paolo Russo da Universidad de Tarragona, que ministrou aulas no Programa de Pós-graduação em Geografia da UFF. Em 2016, graças às relações estabelecidas com a Universidade de Leiden (Holanda) conduzi as negociações para o estabelecimento de um convênio de intercâmbio e cooperação acadêmico interinstitucional com a UFF. ATUAÇÃO NA GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA Somam-se às atividades no programa de pós-graduação em Geografia minha dedicação à graduação em Geografia (bacharelado e licenciatura). Destacam-se entre outras atividades: Primeiro, a montagem e implementação do Programa Especial de Treinamento (PET) da CAPES, em conjunto com Jorge Luiz Barbosa e Rogério Haesbaert, esse PET segue em operação, congregando alunos bolsistas e não-bolsistas, com o objetivo de formar e preparar estudantes da graduação para o mestrado. Segundo, participei, em termos institucionais, ao longo de toda a minha trajetória acadêmica junto ao Departamento de Geografia de diversas comissões relacionadas à reestruturação curricular do curso de graduação em Geografia, informatização, alocação de vagas docentes, bem como de instâncias institucionais com destaque para o Colegiado do Curso de Graduação em Geografia, a Câmara Técnica de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, bem como do Colegiado do Instituto de Geociências, entre outras representações. Terceiro, em meus primeiros anos no Departamento de Geografia ministrei um carrossel de disciplinas(57) que levaram-me a aprofundar a reflexão geográfica vis ao vis ao desenvolvimento de pesquisas diversas e a familiarizar-me com o pensamento geográfico, com destaque para as obras e as contribuições de meus colegas(58) , bem como com a produção cientifica de um amplo repertório de geógrafos nacionais(59) , com a obra de geógrafos estrangeiros atuais(60) e de autores clássicos da Geografia(61). Quarto, desde meu ingresso no departamento de Geografia em 1º de agosto de 1995, participei de bancas de trabalho de conclusão de curso, orientei trabalhos de conclusão de curso em um amplo espectro de temas, bem como trabalhos de vários bolsistas de iniciação científica e de iniciação à docência (monitoria) que fizeram parte de meu grupo de pesquisa GECEL (Grupo de Estudos de Cidade, Espaço e Lugar), cadastrado junto ao CNPq. Muitos desses orientandos, posteriormente, ingressaram na pós-graduação e encontram-se inseridos em instituições de ensino superior ou em órgãos de pesquisa. Quinto, atuei efetivamente na seleção de novos docentes para o Departamento de Geografia, enquanto presidente de três bancas de seleção de provimento de vagas para professor adjunto de Geografia Humana e Econômica com ênfase em Brasil. Enfim, cabe ressaltar, que entre 1º de agosto de 1995 a 17 de agosto de 1998, estive vinculada ao departamento de Geografia em caráter precário. Primeiro, como professora substituta 20 horas (de 1º de agosto de 1995 a 31 de julho de 1996); depois como professora horista 15 horas na especialização. De meados de 1997 a 1998, passei a receber uma bolsa CNPq de Recém-Doutor em Geografia com o projeto Dinâmicas locais e regionais no sul fluminense - complexos de rede empresarial e o Porto de Sepetiba(62). 1998 era um ano eleitoral, em que Fernando Henrique Cardoso concorria à reeleição, embora fosse um momento que, aparentemente, não haveriam mais concursos, nem contratações, a UFF recebeu uma pequena quantidade de vagas docentes e uma foi alocada ao Departamento de Geografia. Após a realização do concurso em maio de 1998, fui aprovada em 1º lugar, e efetivada no cargo de Professor Assistente I de Geografia em 17 de agosto de 1998 e promovida a Professor Adjunto I em 20 de agosto de 1998. Um produto desse concurso foi a editoração junto com Rogério Haesbaert da prova de aula realizada, que resultou no artigo “O território em tempos de globalização”(63). ATUAÇÕES DIVERSAS E PROJEÇÃO EXTERNA Contribui, também, para a projeção externa do programa e para suas relações interinstitucionais ministrando cursos em Instituições de Ensino Superior no Brasil e no exterior, colaborando com Programas de Pós-graduação em Geografia de outras universidades, dando palestras, conferências, participando de semanas de Geografia, comemorações do dia do Geógrafo e realizando Aulas Magnas. Entre as quais se destacam: • as relações estabelecidas com o departamento de Latin American Studies, que abriga a cátedra Rui Barbosa, sob a coordenação da professora Marianne Wiesebron, que assumi na Universidade de Leiden, na Holanda, uma das mais antigas universidades da Europa, de 1º de fevereiro a 30 de abril de 2014, que contribuiu para darmos inicio a uma cooperação mais estreita e a realização de um convênio amplo de intercâmbio e cooperação. No âmbito desta estadia ministrei palestras nos programas de pós-graduação da Universidade de Amsterdã e na Universidade de Cardiff. • o curso de pós-graduação de curta duração no Mestrado em Estudios Urbanos da Universidad Nacional da Colombia, em Medellín, em março de 2012. • as Aulas Magnas nos programas de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em 2008, em Francisco Beltrão e da Universidade Federal de Pernambuco, em 2013. • a colaboração, participação em eventos, disciplinas ou palestras em outros os programas de pós-graduação (de Geografia da UNESP-PP, UFMG, UFPA, da UFPB; de Economia da UNICAMP e do CEDEPLAR (UFMG); de Planejamento Urbano e Regional do IPPUR-UFRJ, entre outros. • a participação em mesas redondas de comemoração de Semana de Geografia de diversos programas de pós-graduação (UFSJ, em 2014; UNESP-Rio Claro, em 2011; UNICAMP, em 2008, entre outras). • a atuação ativa no projeto de extensão, sob a coordenação de Jorge Luiz Barbosa, que resultou na Implantação e Ampliação do Polo Universitário da UFF em Volta Redonda; • a participação em bancas de concurso docente de Geografia na USP e na UFPE; • a participação em bancas de professor livre-docente na Geografia da USP e na Ciências Sociais da UNICAMP • a participação em bancas de professor titular em Geografia Humana, Geografia Física e Geoprocessamento na UFSC, UFPB, UFU. • a participação em bancas de professor titular de Ciências Sociais, Antropologia Social, Psicologia Social e Filosofia na UFSC. • a participação em mesas redondas em diversos eventos nacionais, internacionais, bem como em eventos de cunho local e regional promovidos nas áreas de Geografia e de Planejamento Urbano e Regional; • a colaboração e participação em comitês científicos, em comissões organizadoras e em advisory boards de eventos nacionais e internacionais da área de Geografia e de áreas correlatas. • a atuação como consultora ad-hoc em comissões editoriais de diversos periódicos científicos nacionais e internacionais; • a representação do programa de pós-graduação em reuniões da AGB(64) nacional e da ANPEGE(65) , e a participação enquanto convidada de mesas-redondas em Encontros Nacionais de Geógrafos, em Seminários itinerantes temáticos, entre os quais se destacam os Simpósios de Geografia Urbana (SIMPURB). A que se soma a coordenação, organização de grupos de trabalho em simpósios temáticos (SIMPURB) e encontros nacionais da pós-graduação em Geografia; • a participação nas Conferências Internacionais de Americanistas nos grupos de Sandra Lencioni e Sonia Vidal Koopmann, de Ana Fani Alessandri Carlos e Alicia Lindon. • a cooperação com outros programas de pós-graduação em Geografia para a definição de formas de melhoria das condições da pós-graduação. Assim como a colaboração ativa com associações nacionais de pesquisa e pós-graduação, implementando a filiação e associação do programa, com a promoção de eventos e fomento à pesquisa. Destaca-se nesse sentido à filiação e atuação ativa do programa e minha junto ao CLACSO(66) , à ANPEGE e à ANPUR, bem como junto à AGB. Enfim, em termos da projeção externa, enquanto docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia, cabe um item aparte para minha atuação junto à ANPUR, que me obrigou a retomar questões do planejamento urbano e regional. Esse período de certa maneira contribuiu para uma retomada renovada de minhas pesquisas na Geografia, conforme veremos adiante. INTERMEZZO: ANPUR Participei da ANPUR desde o seu I Encontro Nacional, com a apresentação de trabalhos e organização de sessões livres, com um breve intervalo entre o IV e o VII Encontro Nacional, em razão da tese de doutorado. Minha participação se torna mais ativa em termos institucionais, após 2005, com a filiação do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFF. Ao final do XIV encontro foi eleita uma chapa para a gestão 2011-2013, com Ana Clara Torres Ribeiro como presidente e eu na qualidade de secretária executiva-nacional, além de cinco outros diretores. Com seu falecimento precoce, em 09 de dezembro de 2011, assumi a presidência da ANPUR até 31 de julho de 2013. Durante a gestão da ANPUR participei de inúmeros eventos e mesas-redondas no Brasil e no exterior. Organizei com os demais membros da comissão organizadora, durante esse período a editoração e publicação da coleção ANPUR(67) , compreendendo as contribuições das mesas redondas do XIV Encontro Nacional, uma homenagem a Ana Clara Torres Ribeiro, a tese e a dissertação premiadas, a que se somam as contribuições do Simpósio organizado no âmbito da 65ª reunião anual da SBPC(68) em Recife. Viabilizei com base no trabalho desenvolvido na gestão de Leila Cristina Duarte Dias (2009-2011) a disponibilização online de todo o acervo de anais da ANPUR sob o formato OJS, apoiei e dei suporte à atualização da Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, sob a editoria de Carlos Antônio Brandão (2012-2014). O período de 2011 a 2013, na ANPUR foi marcado por intensas atividades relacionadas ao ensino, ao fomento e, em especial, à representação e participação em órgãos de governo, em que se destacam a participação na comissão da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional e subsequente participação na mesa de abertura da Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional do Rio de Janeiro, a participação na Comissão de Representantes de Associações Nacionais de Pesquisa e Pós-Graduação criada por Marcio Pochmann no IPEA(69) . Somam-se a estas atividades a interlocução com o Centro Celso Furtado, com o Observatório de Desenvolvimento Regional da UNISC(70) e com a Rede Brasileira de Cidades Médias (RCM) coordenada por Marcos Costa Lima (UFPE). A gestão da ANPUR foi um período marcado pela retomada da questão regional na pauta de preocupações e de formulação de políticas por parte do governo federal. Nesse sentido o I Seminário de Desenvolvimento Regional, Estado e Sociedade (SEDRES), organizado por Rainer Randolph, abriu um espaço de interlocução das questões regionais entre os programas de pós-graduação e órgãos institucionais de governo, havendo participado de suas duas primeiras edições. Dentre as muitas atividades associadas à gestão da ANPUR, quatro merecem um olhar especial. A primeira refere-se à organização por mim e pelo secretário-executivo, Benny Schvarsberg junto com um grupo de docentes da UNB, do VI Seminário Nacional de Avaliação do Ensino e da Pesquisa em Estudos Urbanos e Regionais em Brasília, que reuniu representações das áreas de geografia e de planejamento urbano na CAPES e no CNPq, com mesas de debates sobre questões relacionadas ao ensino e à pesquisa em planejamento urbano e regional. A segunda diz respeito, ao Simpósio ANPUR-SBPC, organizado por mim e Edna Castro (NAEA-UFPA)(71) realizado em Recife, durante a 65ª Reunião Anual da SBPC, que deu origem ao livro “Um novo planejamento para um novo Brasil?”(72) . Esse seminário permitiu reavivar e estreitar os laços da ANPUR com outras entidades científicas, bem como para que a ANPUR alcançasse uma explicitação maior de sua interdisciplinaridade, através da articulação das contribuições dos pesquisadores de diferentes campos do conhecimento que a integram. E, também, facultou aos membros da ANPUR refletir e se posicionar crítica e politicamente frente às jornadas de junho-julho de 2013, o que me levou, então, a alertar para o perigo da radicalização à direita, dada a ausência de vínculos partidários. A terceira é relativa ao estabelecimento de uma interlocução com outras associações nacionais de pesquisa e de pós-graduação (com destaque para a ANPEGE, ANPOCS(73) , ABEP(74) e ANPARQ(75) ) em torno de questões comuns como as limitações à participação no programa Ciências sem Fronteiras e a demanda por uma Diretoria de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E, em quarto lugar, merece destaque a projeção internacional da ANPUR, através do apoio ao Programa Atílio no âmbito dos diálogos França-Brasil e da participação nas reuniões do GPEAN realizadas em Lausanne (2012), em Recife (2013) e em Dublin (2013), que possibilitaram trazer para o Rio de Janeiro a realização do IV World Planning Schools Congress em 2016, organizado por uma missão organizadora, da qual fui parte integrante, sob a coordenação do IPPUR-UFRJ. A gestão da ANPUR além de haver possibilitado um maior contato com os programas da área de Desenvolvimento Regional permitiu-me perceber suas interações com a Geografia, abrindo diversas possibilidades de trabalho conjunto entre os programas de ambas as áreas, além de haver contribuído para ampliar as possibilidades de inserção e de projeção dos docentes e pesquisadores dos programas-membro. As atividades e interações desenvolvidas nesse período tiveram um desdobramento em minha produção acadêmica e atividades de pesquisa como veremos a seguir. PESQUISAS EXPRESSIVAS QUE MARCARAM O PERFIL ACADÊMICO A atividade de pesquisa sempre foi, junto com a docência, parte fundante de minha trajetória acadêmica, embora desenvolvida de forma intermitente. Ganha corpo maior após o mestrado e se desenvolve initerruptamente após o doutorado e o ingresso no Departamento de Geografia da UFF. A atividade de pesquisa inicia-se com estágios diversos(76) e ganha corpo com o Grupo de Políticas Urbanas, bem como com a pesquisa para a dissertação de mestrado, que resultou, também, na colaboração com a revista Espaço e Debates e organização de seu 2º número, onde foi publicado o artigo "Um Subsídio ao Debate sobre a Ação do Estado em Favelas: Rio de Janeiro – 1980”(77) . Esta colaboração estendeu-se do primeiro ao sexto número, de janeiro de 1981 a setembro de 1982. Merece menção especial, nesse período, uma consultoria realizada com Rainer Randolph, em 1986, para a ANPUR/CNPQ/BNH/ FINEP/CNDU, que se consubstanciou no relatório "Balanço Quantitativo da Produção Técnico-Científica em Planejamento Regional, Urbano e Habitacional”(78) , que contribuiu para delimitar as áreas de interesse da ANPUR e da ANTAC(79). Este balanço foi apresentado(80) na mesa de abertura do 1º Encontro Nacional da ANPUR, em que igualmente participei com Ana Clara Torres Ribeiro como relatora do grupo de trabalho de Planejamento Urbano(81). A esta seguiram-se outras participações como pesquisadora colaboradora em pesquisas já mencionadas, que contribuíram para diferentes olhares e enfoques sobre questões relativas à urbanização(82), à questão urbano-ambiental(83) , que influíram na minha pesquisa de doutoramento (1990-1995) e depois se desdobraram em apresentações de trabalhos, em publicações(84) e em projetos de pesquisa por mim coordenados, a partir de 1997, com fomento do CNPq. A tese teve por suporte teórico-conceitual a reflexão sobre o espaço, urbano e a urbanização, considerando as limitações impostas pelo desenvolvimento do capitalismo, na fase da acumulação flexível, à reprodução ampliada especializada do capital e do trabalho, que se expressam na distribuição e localização espacial da população e das atividades produtivas e nos esforços para maximizar as respectivas mobilidades espaciais, em diferentes escalas articuladas. A tese aponta para uma tendência crescente à diferenciação e complexificação da rede urbana fluminense, com a especialização dos lugares. Tais processos vieram a confirmar, ainda que parcialmente dada a desatualização dos dados econômicos, que a disseminação no território de relações espaciais e sociais de produção de caráter urbano tendem a conferir ao urbano uma amplitude territorial, que transcende aquilo que percebemos como "perímetro urbano"(85). O urbano poderia, assim, ser considerado não-simultaneamente tanto o lugar da reprodução das relações de produção, referentes aos bens e meios de produção, quanto o lugar da reprodução da força de trabalho. A difusão destas e de novas formas de organização do espaço colocaram "na ordem do dia" a reflexão da constituição de novas formas de regionalização do território e da sociedade, a partir da conformação de distintos níveis de redes de interações entre lugares diversos. E, tornavam perceptível uma modificação no perfil contemporâneo da urbanização brasileira, questão que perpassa o meu universo de preocupações até o presente. Um olhar retrospectivo às pesquisas que desenvolvi nos últimos vinte e cinco anos, permite distinguir três grandes eixos de preocupação: um primeiro direcionado a reflexão da urbanização, enquanto um processo de estruturação do espaço; um segundo dedicado a uma reflexão teórico-conceitual das obras de Lefebvre, e ao debate em torno da produção social do espaço e do cotidiano; e, um terceiro relacionado à questão socioambiental, para apreender a nova qualidade da urbanização, em razão de sua dispersão, em um esforço para resgatar a visão holística da Geografia a partir da compreensão de que não há mais como tratar da urbanização sem considerar a questão ambiental. A esses eixos, mais recentemente, se soma uma retomada da reflexão sobre o Estado capitalista e o caráter da financeirização do espaço, que se junta ao segundo eixo enquanto base para a reflexão sobre a urbanização e a questão ambiental intrínseca à produção social do espaço. Esses eixos se entrelaçam, se desenvolvem em paralelo, se complementam, se alimentam entre si e ao longo de minha trajetória ganham diferentes ênfases, em que uns permanecem subjacentes aos outros, como explicito a seguir. No âmbito do primeiro eixo, até 2005, se alternam projetos seja com um enfoque relacionado à dinâmica demográfica, sob a ótica da lógica da reprodução social da força de trabalho, seja com uma abordagem, relacionada à dinâmica econômica sob a lógica da reprodução dos meios de produção e do capital. Nesse eixo concentra-se boa parte de meu esforço de pesquisa e contei com a valiosa interlocução e apoio de Arlete Moysés Rodrigues, Doralice Satyro Maia, Heloisa Costa, Jan Bitoun, Maria da Encarnação Spósito, Sandra Lencioni, entre muitos outros docentes e pesquisadores preeminentes da área. A reflexão relativa ao 2º eixo se desenvolve em paralelo aos projetos de pesquisa, no âmbito das atividades do Grupo de Estudos Cidade, Espaço e Lugar (GECEL-CNPq); da organização ininterrupta, nos últimos vinte anos, de sessões livres nos Encontros Nacionais da ANPUR, que propiciaram a interlocução e colaboração profícua, direta e indireta, com pesquisadores de diversas instituições, com destaque para Amélia Luísa Damiani, Ana Fani Alessandri Carlos, Geraldo Magela Costa, Ivaldo Lima, Orlando Alves dos Santos Júnior, Rainer Randolph e Roberto Luís Monte-Mór, entre muitos outros. Essa cooperação resultou na produção de artigos, capítulos de livros, bem como na organização de uma coletânea com reflexões sobre as contribuições da obra de Lefebvre(86). Na tese privilegio o primeiro eixo conjugado ao segundo eixo, enquanto que os projetos de pesquisa subsequentes se consubstanciaram em publicações e deram ênfase ao enfoque econômico, às redes sociais e informacionais e ao papel das tecnologias de informação e comunicação na organização do espaço(87). Esse interesse pelas tecnologias de informação teve por base as proposições de Milton Santos(88) relativas à conformação de novas redes e emergência de novas formas de regionalização em virtude das verticalidades propiciadas pelo meio técnico científico informacional. A abordagem das tecnologias de informação levou a uma retomada do contato com Susana Finquelievich. E, de 1998 a 2005, realizei diversas missões de intercâmbio, com interações com o Instituto Gino Germani da Universidad de Buenos Aires, com a Universidad de Quilmes, com a rede Montevideo de investigadores e a uma participação na Red de Posgrados sobre Desarollo y Politicas Territoriales y Urbanas de los Países del Cono Sur(89). Em paralelo, aprofundei as pesquisas relativas à dinâmica econômica do Sul Fluminense. Após 2006, o objeto de referência amplia-se. Passei a considerar, então, outras áreas do estado do Rio de Janeiro(90) , o que contribuiu para confirmar algumas hipóteses relativas à crescente tendência de dispersão espacial da população e das atividades produtivas fora da malha urbana consolidada(91). Entre as atividades desenvolvidas entre 2003 e 2005, destaca-se o Seminário Brasil Século XXI: agentes, processos e escalas, que deu origem a uma coletânea de mesmo nome organizada por mim, Rogério Haesbaert e Ruy Moreira no âmbito do projeto do “Indústria Fluminense, Desigualdade Espacial e Economia Globalizada ”, o qual teve seguimento com o Projeto “Dinâmicas Espaciais e Regionalização no Sudeste Brasileiro”. Após 2006, começo a efetivamente articular o primeiro e o segundo eixo, com a incorporação, ainda que, de forma subjacente da questão ambiental (3º eixo). No âmbito do 1º eixo tendo por foco a problemática da urbanização e da produção do espaço colaborei, como consultora eventual nos encontros da Rede de Cidades Médias (RECIME), coordenada por Maria da Encarnação Beltrão Spósito, com a Rede Brasileira de Cidades Médias (RBCM) coordenada por Marcos Costa Lima (IFCH-UFPE); havendo participado da pesquisa interinstitucional coordenada por Nestor Goulart Reis Filho (FAUUSP) (2006-2010). Essas cooperações resultaram em diversas apresentações de trabalho, publicações em periódicos e capítulos de livros(92). A articulação entre as preocupações relativas à urbanização (1º eixo) e a produção social do espaço (2º eixo) resultou em algumas publicações(93) expressivas para mim. Essa reflexão se expressou nas investigações subsequentes relativas a urbanização, a relação urbano-rural, ao papel das grandes corporações e do Estado no processo de urbanização, o que me conduziu à discussão da financeirização do espaço social e as questões relativas à neoliberalização, que me permitiu articular à discussão anterior a reflexão relativa ao terceiro eixo, e ao caráter estratégico que assume a totalidade do espaço para a acumulação de capital na contemporaneidade. O terceiro eixo desenvolve-se de forma subjacente aos dois primeiros, havendo resultado em uma produção substancial(94) com participações e apresentação de trabalhos em eventos nacionais e internacionais, bem como em publicações em periódicos nacionais e internacionais sobre o controverso tema da sustentabilidade ambiental e às limitações da regulação legal, contando com poucos interlocutores. Nos últimos anos tenho buscado articular este eixo com o primeiro eixo da urbanização, que se explicita em alguns trabalhos(95) relacionados ao impacto da expansão das atividades de turismo receptivo de porte internacional em áreas de preservação permanente e de proteção ambiental, com apresentações de trabalho em eventos nacionais, internacionais e com a publicação de artigos. Nesse interim, cabe menção ao pós-doutorado em Geografia Humana na Universidad de Barcelona, de 2005 a 2006, que contribuiu para a mudança de tom, de abordagem e de escala de análise e de reflexão. Esse estágio colocou-me em contato com diversos docentes de Geografia Humana da Universidad de Barcelona e de outras universidades catalãs, viabilizando um rico intercâmbio de ideias e de experiências. Durante o pós-doutorado, Horacio Capel me instigou a articular a reflexão teórica com acontecimentos e fatos contemporâneos correntes, bem como a adotar uma escrita mais solta e irreverente. Desse encontro entre dois desconhecidos, proporcionado por Ivaldo Lima um colega do Departamento de Geografia, resultou uma amizade duradoura e uma colaboração continua desde então. Destaca-se, entre os trabalhos publicados no decorrer do pós-doutorado(96) o artigo Paris em Chamas, que conquistou o III Prêmio Milton Santos da ANPUR, e foi publicado no 3º volume dos “Dialogues in Urban and Regional Planning”(97). A partir de 2006 há uma gradual mudança na escala de abrangência geográfica da reflexão na investigação e produção acadêmica, que se inicia com o interior fluminense e o território do estado do Rio de Janeiro, para após 2009, passar a enfocar o Brasil e pontos selecionados do território fora das áreas metropolitanas, embora, se detenha sobre estas de modo a proceder a uma diferenciação entre áreas metropolitanas e áreas de urbanização dispersa, que tendencialmente conformam arquipélagos urbanos. Para tanto, contribuiu sobremaneira a interlocução com Ana Fani Carlos, Maria da Encarnação Spósito, Sandra Lencioni, Roberto Monte-Mór e Ruy Moreira. A mudança de escala de abrangência geográfica constituiu mais um passo na construção do objeto de reflexão: a urbanização, enquanto um esforço de compreensão da produção do espaço social. Construção que perpassa as várias fases e projetos de pesquisa, que demandou a aproximação de casos, por assim dizer, paradigmáticos. Essa mudança foi um meio de contornar as limitações impostas pelo estudo de um ou outro caso particular, tomando como referência de análise casos diversificados para gerar um quadro referencial mais complexo. Isso demandou, também, uma mudança da escala de reflexão, uma vez que entram em pauta outros processos mais gerais, que articulam o local ao global, ao mesmo tempo em que o papel do Estado, das corporações e dos grandes atores globais se faz mais presente. Em consequência, isso me levou a retomar e atualizar a reflexão sobre o Estado capitalista, que permaneceu subjacente, adormecida, desde o final da década de 1980, quando ingressei no doutorado da FAUUSP. Essa retomada da reflexão do Estado, veio acompanhada por uma discussão sobre as teorias do desenvolvimento, sobre o novo desenvolvimentismo e seu papel no planejamento. Resgatei, assim, as contribuições subsequentes ao Estado, o Poder e o Socialismo de Poulantzas, à L’Etat de Lefebvre, a que se somam as leituras das obras de Jessop, Brenner e Peck, entre outros autores. A retomada do papel do Estado e do planejamento na organização do espaço brasileiro teve por base um intenso acúmulo de leituras desde o mestrado, havendo resultado em publicações e participações em mesas-redondas em eventos nacionais e internacionais(98), que buscam conjugar a interação Estado-planejamento e a produção do espaço social. Esforço em que se insere o grupo de trabalho da ANPEGE Planejamento, Gestão e Produção do Espaço, que conta com Heloisa Costa, Adriana Bernardes, Cesar Simoni Santos, Paola Verri Santana e Tadeu Alencar Arrais. Essa constelação de fatores contribuiu para a inserção da reflexão do papel do Estado e do planejamento na urbanização, de modo a alcançar uma compreensão e esboçar um quadro inicial das tendências recentes da urbanização brasileira a partir de uma perspectiva crítica. Perspectiva que não se esgota, seja em razão de sua complexidade, seja por unir e possibilitar a convergência dos vários eixos de preocupações de pesquisa assinalados, que se expressam em diferentes momentos de meu percurso acadêmico e intelectual. A necessidade de rigor teórico e conceitual nesse sentido foi fundamental, ainda mais, considerando que, aparentemente, ao menos ao nível técnico e político-administrativo tudo se tornou metropolitano, sem efetivamente o ser. Soma-se a isso a preocupação com a relação rural-urbano, com as mudanças nas relações de centralidade, seja como elemento diferencial, seja com base no aprofundamento da divisão territorial e social do trabalho. Há que se considerar nas mudanças nas relações de centralidade e na organização territorial do espaço urbano o papel dos rearranjos políticos e espaciais, os quais evidentemente não se dão por si só, mas através das articulações entre diferentes agentes econômicos e o Estado, em particular o BNDES, enquanto agente financiador das ações de diversos agentes corporativos em diferentes escalas na última década e, em particular, das grandes empreiteiras. Isso vai ao encontro da ideia de Ribeiro e Dias(99) que ressaltam a necessidade de se “ (...) reconhecer, em qualquer escala, a existência de campos (ainda que frágeis) de poder, agentes econômicos e atores políticos que contribuem, com mais ou menos intensidade, para estabilizar ou desconstruir a própria escala que sustentou a sua emergência e/ou afirmação”. Salientam ainda que se multiplicam os processos em rede com a composição de “novos contextos de relações societárias” e a construção de arenas políticas, ainda que que efêmeras, que se contrapõem à ideia de uma totalidade homogênea inelutável, em que tudo estaria dado e pré-definido. A questão é que não só o espaço emerge como fator estratégico, mas a escala assume um novo significado. E isto se evidencia em minhas pesquisas, uma vez que os processos analisados apontam para a ação de atores sociais e de agentes econômicos e políticos em diferentes escalas e esferas de reprodução social. E, é nesse contexto, que se insere a preocupação agora com o Estado capitalista, com o planejamento e a organização do espaço, com foco no processo de urbanização. Voltei, assim, à discussão do Estado, a partir de uma perspectiva, mais complexa, em que se insere a discussão da produção social do espaço e da urbanização, vis a vis ao papel de grandes agentes corporativos. Em uma tentativa de inter-relacionar os três grandes eixos de preocupações assinalados. O esforço de síntese tinha por norte geral e mais amplo procurar compreender de forma mais abrangente as tendências recentes da urbanização brasileira de modos a alcançar elementos que permitissem pensar em novas formas de regular e controlar a ocupação desenfreada do território e seus impactos sobre o meio ambiente(100). Antes de ser concluída a investigação sobre os novos destinos urbanos e o papel das corporações na configuração da urbanização, esta foi, de certa forma, atropelada pelo desenrolar dos acontecimentos e pela mudança da conjuntura política e econômica nacional, que já se desenhava ao fim de 2015, um indicativo de que, aparentemente, me encontrava em um rumo acertado. A crise política que se abateu, em 2015-2016, sobre o país e envolveu as grandes empreiteiras colocou em um segundo plano as questões relativas à formação de aglomerados urbanos associados a grandes projetos e evidenciou a necessidade de se refletir sobre o caráter do Estado capitalista nesta fase neoliberal, e sobre a natureza da neoliberalização do espaço enquanto uma política de Estado. O subsequente impedimento da presidente Dilma Roussef e deslanchamento da crise econômica evidenciaram que vivemos um momento de incertezas e de mudanças. Mudanças políticas e econômicas que mexem com as várias dimensões e esferas da vida social. E, que a um só tempo revelaram as fragilidades e puseram em xeque as instituições democráticas, com a destruição de conquistas sociais seculares e a dilapidação dos recursos naturais. Esses acontecimentos revelaram imbricações e articulações espúrias, em diferentes escalas e esferas, que puseram a nu a promiscuidade, que já se desenhava, entre diversos capitais nacionais e internacionais com o aparelho de Estado. Destarte, ainda na perspectiva de entender a urbanização enquanto um processo de produção estruturante da organização social do espaço, que orientou nossas investigações nos últimos anos, pareceu-me imperativo, em razão das mudanças na conjuntura política e econômica, avançar e ampliar o olhar para pensar as especificidades da produção neoliberal do espaço na contemporaneidade e o papel desempenhado, contraditoriamente, pelo Estado. Essa segunda década do segundo milênio encerra-se em um momento de inflexão política e econômica, marcado por uma reversão de políticas sociais, mudança das prioridades de investimentos e retomada radical de ideários e postulados neoliberais, que privilegiam as elites, mantém a dominação social dos trabalhadores, com a ampliação da pobreza e crescente redução das possibilidades de mobilidade social. A crise que o país atravessa é reveladora, pois obriga os setores hegemônicos a se rearticular em diferentes escalas, pondo a nu alianças e coalisões entre os setores público e privado. No corolário dessa mudança de rumos, alterou-se a inserção do Brasil no cenário mundial. As relações Norte-Sul passaram a ser priorizadas, com a subordinação dos interesses nacionais às potências hegemônicas, em detrimento das relações Sul-Sul. Essa reflexão, igualmente resultou em publicações sobre a urbanização em escala regional (101) e em ensaios que articulam os três eixos com a inserção de questões relativas ao papel da utopia e a alternativas possíveis, à sustentabilidade, ao comum urbano, a decolonialidade e interculturalidade no âmbito da financeirização do espaço e da perspectiva de construção de uma sociedade mais equânime(102). E, PARA ENCERRAR: TRILHO CAMINHOS, SEM SABER O DESTINO Ao finalizar essa memória, percebo a incompletude dos caminhos trilhados até aqui, os quais abrem diversos destinos possíveis. Já dizia Fernando Pessoa: “navegar é preciso, viver, não é preciso”. A vida não é exata, nem precisa, ao contrário da navegação, e sua beleza reside exatamente nessa imprecisão. A inquietação, o desejo de entender e de compreender o que ocorre para pensar, para contribuir com possibilidades de mudança social na perspectiva de construção de uma sociedade mais equânime, de cidades para os cidadãos permanecem vivas. O impacto civilizatório do capitalismo contribuiu para um aprofundamento das diferenças, para uma cisão em termos de distribuição espacial da riqueza, do saber e das condições de vida da população. Padecemos de uma modernização incompleta, que nos faz parecer a Bélgica e a Índia ao mesmo tempo. Ou como diriam Gil e Caetano em uma de suas músicas, o Haiti é aqui. Encerro com algumas palavras de Milton Santos “de um ponto de vista das ideias, a questão central reside no encontro do caminho que vai do imediatismo às questões finalísticas. De um ponto de vista da ação, o problema é superar as soluções imediatistas, eleitoreiras, lobistas, e buscar remédios estruturais duradouros”(103). E, nessa perspectiva cabe buscar conciliar diferentes visões, encontrar novos patamares de entendimento, trilhar novos caminhos com o horizonte de avançar rumo a uma sociedade mais equânime. NOTAS 1- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 2 - LEFEBVRE, H. O direito à cidade. São Paulo: Documentos, 1969. 3 - ASCHER, F. Los nuevos principios del Urbanismo. Madrid: Alianza, 2007, p. 42. 4 - Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica. 5 - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. 6 - PIAGET, J. Problemas gerais da investigação interdisciplinar e mecanismos comuns. Lisboa: Bertrand, 1973: e estabelece que a multidisciplinaridade consistiria em adotar a partir de uma disciplina elementos de outras disciplinas, que se mantém estanques entre si; a interdisciplinaridade compreenderia o diálogo, interação e troca de conhecimentos entre diferentes disciplinas, a partir de uma base metodológica comum; ao passo que a transdisciplinaridade consistiria em uma abordagem que atravessa diversos campos disciplinares com foco em um objeto comum e, por vezes, com a formação do que poderia se caracterizar de uma meta-disciplina 7 - Comando de Caça aos Comunistas, organização paramilitar armada de direita. 8 - Palestra “Para pensar a identidade social”, Mesa redonda: “Sujeitos sociais e identidades na Amazônia” no Encontro da Sociedade Brasileira de Sociologia, 2010. 9 - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 10 - União Estadual dos Estudantes. 11 - União Nacional dos Estudantes 12 - Faculdade de Filosofia e Letras Ciências Humanas. 13 - LIMONAD, E. Situação Atual da Habitação Popular no Brasil. São Paulo, Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Mackenzie, 1977. 14 - LIMONAD, E.; ECKSCHMIDT, G. Elementos para a Análise da Intervenção do Estado no Setor de Auto construção. São Paulo, Monografia Especialização. URPLAN PUCSP,1978. 15 - I PND – Plano Nacional de Desenvolvimento implementado durante o governo do presidente general Emilio Médici. 16 - Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 17 - LIMONAD, E. A Trajetória da Participação Social, Rio de Janeiro, Dissertação de Mestrado, Programa de Enge¬nharia de Produção / COPPE - UFRJ, 1984 . 18 - Entre outras atividades o grupo de políticas urbanas colaborou para a realização do debate sobre o Anteprojeto de Lei promovido pelo Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro e pelo PUR / UFRJ, realizado em 17/08/82 no Instituto dos Arquitetos do Brasil, Seção Rio de Janeiro; elaborou o artigo "Uma lei para cidades sem pobres", publicado no "Jornal do Comércio" do Rio de Janeiro em 01 e 02 de agosto de 1982 (cópia no Dossiê - vide item 4) e organizou a jornada de política habitacional com a Prof. Lata Chaterjee da Boston University em 16 de agosto de 1982. 19 - LIMONAD, E.; BARBOSA, E.F. (org.) Dossiê - Anteprojeto de Lei do Desenvolvimento Urbano, Rio de Janeiro, Publicações PUR/UFRJ, série documentação no 4,1983. 20 - Ciclo de Palestras sobre Pesquisa Científica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, promovido pela Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ. 21 - O Problemático Relacionamento entre Partidos Políticos e Ativismos de Bairro" de Marcelo José Lopes de Souza, 1988. Ações Integradas de Saúde: Um direito de todos?" de Glória Regina Ma¬noel, 1988. Revolta Popular e Política Habitacional no início do século no Rio de Ja¬neiro" de Marcus Vinicius Gomes Silva, 1988. 22 - Curso de Extensão Universitária " Técnicas Avançadas de Programação de Micro-Computadores em Linguagem Basic" no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na área de Computação. 23 - Essa bolsa se destinou ao desenvolvimento da monografia "Revolta Popular e Política Habitacional no início do século no Rio de Janeiro" de meu orientando Marcus Vinicius Gomes Silva do curso de especialização lato sensu em "Sociologia Urbana" da UERJ. 24 - Instituto de Economia Industrial da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 25 - LIMONAD, E. El Sector Informal y la Calidad de Vida en las MegaCiudades In: Seminario Sector Informal: Cooperacion y Participacion en la Solucion de Problemas Urbanos, 1988, Rio de Janeiro: ENHAP - USAID - IEI- UFRJ, 1988. v.I. p.1 – 29. 26 - RANDOLPH, R. - Impactos de Projetos Turísticos na ilha Grande, Município de Angra dos Reis. Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e IPPUR/UFRJ, 1992. 27 - RANDOLPH, R., LIMONAD, E. Abraão´s Vila Inhabitants Conditions of Life. In: First Symposium Multimedia for Architecture and Urban Design, 1994, São Paulo - SP: FAUUSP, 1994. p.19 – 26. 28 - RANDOLPH, R.; LIMONAD, E. Sustentabilidade dos pequenos produtores em Área de Tombamento (Mata Atlântica - RJ) In: FÓRUM GLOBAL - RIO 92, 1992, Rio de Janeiro. Fórum Global - Rio 92. Rio de Janeiro: Forum das ONGs, 1992. v. I. p.25 – 27. 29 - LACOSTE, Y. La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre. Paris: Maspero, Petite Collection Maspero n° 165, 1982. 30 - LIMONAD, E. Os lugares da urbanização: o caso do interior fluminense. São Paulo. Tese de doutoramento, Universidade de São Paulo, 1996. 31 - Com destaque para HARVEY, D. La Geografia de la acumulacion capitalista: una reconstrucción de la teoría marxista. In GARCIA, M.D. (ed.) La Geografía Regional Anglosajona. Bellaterra: Universidad Antonina de Barcelona, 1978. HARVEY, D. O trabalho, o capital e o conflito de classes em torno do ambiente construído nas sociedades capitalistas avançadas. In Espaço & Debates. ano II, no 6, jun-set (6-35), 1982. HARVEY, D. The Geopolitics of Capitalism. In GREGORY, D. & URRY, J. (ed.), Social Relations and Spatial Structures. London, McMillan, Cambridge, 1985. 32 - SANTOS, M. Espaço e Método. São Paulo, Nobel, 1985. SANTOS, M. Modernidade, meio técnico-científico e urbanização no Brasil. In Cadernos do IPPUR, UFRJ. Rio de Janeiro, IPPUR/UFRJ, ano I, nº 1 (9-22), 1987. SANTOS, M. Involução Metropolitana e Economia Segmentada. In RIBEIRO, A.C.T. e MACHADO, D.P. (org.), Metropolização e Rede Urbana. Rio de Janeiro, UFRJ/IPPUR, 1990. SANTOS, M. Metamorfoses do Espaço Habitado. São Paulo, Hucitec, 1991. SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. São Paulo, Hucitec, 1993. SANTOS, M. Técnica, Espaço, Tempo. São Paulo, Hucitec, 1994. 33 - SOJA, E. Geografias Pós-modernas. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. 34 - SOJA (1993) e LEFEBVRE, H. The Production of Space. London. Blackwell, 1991. 35 - Op.cit. várias. 36 - SANTOS, M. A Natureza do Espaço. São Paulo: Loyola, 1996. 37 - MARX, K. O Capital. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. 38 - HARVEY, D. Para entender o Capital. São Paulo. Boitempo, 2013. 39 - Universidade Federal do Paraná. 40 - Universidade Estadual Paulista – Campus de Presidente Prudente. 41 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 42 - Open Journal System. 43 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Faculdade de Formação de Professores. 44 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 45 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 46 - Universidade Federal de Viçosa. 47 - Universidade Federal do Acre. 48 - Mestrado (Luiz Felipe Oliveira e Letícia Maria Badaró de Carvalho), Doutorado (Luiz Augusto Soares Mendes e Renato Domingues Fialho Martins) e TCC (Juliane dos Santos Lira e Daniel Alves Colaço). 49 - Programa de Doutorado Interinstitucional – fomento CAPES. 50 - Universidade Estadual do Norte Fluminense – Campos, com a inserção de quatro docentes como doutorandos no Programa de Pós-graduação em Geografia. 51 - Universidade Estadual do Norte Fluminense – Campos, com a inserção de quatro docentes como doutorandos no Programa de Pós-graduação em Geografia. 52 - Universidade Federal de Mato Grosso. 53 - Universidade Federal do Pará. 54 - Universidade do Estado do Ceará. 55 - Universidade Estadual de Campinas. 56 - Conselho Regional de Economia do Pará 57 - Geografia da População, Geografia Econômica, Geografia Urbana, Geografia Humana I, Geografia Aplicada ao Planejamento I e II, Geo-História e Planejamento Territorial, Tópicos Especiais de Geografia Regional, Estágio Curricular I, II, III, IV, além de haver criado e ministrado a disciplina optativa Novas Relações de Trabalho e Reestruturação do Espaço. Colaborei dando aulas nas disciplinas de Metodologia Científica, Estudo de Impactos Ambientais, Técnicas de Pesquisa e Geografia do Rio de Janeiro, entre outras. 58 - Ruy Moreira, Rogério Haesbaert, Carlos Walter Porto Gonçalves, Jorge Luiz Barbosa, Jacob Binsztok, Carlos Alberto Franco da Silva e outros. 59 - Aldo Paviani, Ana Fani Carlos, Amélia Damiani, Antônio Robert de Moraes, Arlete Moyses Rodrigues, Armando Correa de Andrade, Bertha Becker, Claudio Egler, Eliseu Spósito, Fany Davidovich, Iná Elias de Castro, Jan Bitoun, José Borzachiello, Leila Christina Dias, Manoel Correia de Andrade, Maria Adélia de Souza, Maria da Encarnação Beltrão Spósito, Maurício de Almeida Abreu, Michel Rochefort, Milton Santos, Odete Seabra, Pedro Geiger, Roberto Lobato Correa, Sandra Lencioni e muitos outros mais. 60 - Horacio Capel, Paul Claval, Derek Gregory, David Harvey, Doreen Massey, Alan Pred, Claude Raffestin, Edward Soja, Neil Smith, Peter Taylor, Pierre Veltz, entre muitos outros. 61 - Com destaque para as obras de Humboldt, Lablache, Ratzel, Reclus, Ritter, e de outros mais recentes como Lacoste, Kayser, George, Dolfuss, entre muitos outros. 62 - O propósito desse projeto era identificar e analisar a distribuição espacial das grandes e médias empresas no Sul Fluminense vis a vis às suas articulações em diversas escalas e suas interpenetrações financeiras, privilegiando atores globais ligados ao projeto do Porto de Sepetiba, com destaque para o setor siderúrgico e de mineração. 63 - HAESBAERT, Rogério, LIMONAD, E. O território em tempos de globalização. Etc (UFF), v.1, p.39 - 52, 2007. HAESBAERT, R., LIMONAD, E. O território em tempos de globalização. Geo UERJ, v.5, p.7 - 19, 1999. 64 - Associação dos Geógrafos Brasileiros. 65 - Associação Nacional de Pesquisa e Graduação em Geografia 66 - Conselho Latino Americano de Ciências Sociais. 67 - Coleção ANPUR 2011-2013: Por uma Sociologia do Presente, Política Governamental e Ação Social, Desafios ao Planejamento, Leituras da Cidade, A Festa e a Cidade, A parceria público-privada na política urbana recente, Um novo planejamento para um novo Brasil, publicados pela editora Letra Capital. 68 - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 69 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 70 - Universidade de Santa Cruz (Rio Grande do Sul). 71 - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. 72 - LIMONAD, E. CASTRO, E. (org.) Por um novo planejamento para um novo Brasil? Rio de Janeiro: Letra Capital, 2014. 73 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. 74 - Associação Brasileira de Estudos Populacionais. 75 - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 76 - Estágios realizados. - URPLAN, na PUC-SP, onde participei na pesquisa "Modelos de Participação Comunitária “coordenada por Maria da Glória Gohn (1977-1978); - UNICEF e SMDS-RJ no projeto piloto "Propostas para a Ação nas Favelas Cariocas", implementado na favela da Rocinha, sob a coordenação de Ana Maria Brasileiro e da equipe do UNICEF (1979-1980). - IUPERJ-RJ onde participei da pesquisa "Clientelismo Político e Associações de Favelas" coordenada por Eli Diniz e pela SMDS-RJ (1980-1981). 77 - LIMONAD, E. Um subsídio ao debate sobre a ação do Estado em favelas: Rio de Janeiro - 1980. Espaço & Debates, v.I, p.157 - 180, 1981. 78 - RANDOLPH, R. LIMONAD, E. Balanço Quantitativo da Produção Técnico-Cientifica em Planejamento Regional, Urbano e Habi¬tacional (1980/86), Friburgo/Rio de Janeiro: ANPUR- CNPQ, FINEP, CNDU, BNH,1986. 79 - Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. 80 - RANDOLPH, R.; LIMONAD, E. Síntese do Balanço Quantitativo da Produção Técnico-Cientifica em Planejamento Regional, Urbano e Habi¬tacional (1980/86). In: Encontro de Trabalho: Mudanças Sociais no Brasil e a Contribuição da Ciência e Tecnologia para o Planejamento Regional, Urbano e Habitacional, 1986, Nova Friburgo. Anais do I Encontro Nacional da ANPUR. Rio de Janeiro: ANPUR/IPPUR/FINEP/CNPq, 1986. v.I. 81 - RIBEIRO, A. C. T., LIMONAD, E. O Planejamento Urbano In: Encontro de Trabalho: Mudanças Sociais no Brasil e a Contribuição da Ciência e Tecnologia para o Planejamento Regional, Urbano e Habitacional, 1986, Nova Friburgo. Anais do I Encontro Nacional da ANPUR. Rio de Janeiro: ANPUR/IPPUR/FINEP/CNPq, 1986. v.I. p.15 – 18. 82 - Mega Cities Project (1988-1989) do IEI-UFRJ e o PADCT-UFRJ "Utilização de Sistema de Informações Geográficas na Avaliação Tecnológico Ambiental de Processos Produtivos" (1993). 83 - "Impactos de Projetos Turísticos na Ilha Grande, Município de Angra dos Reis" no IPPUR-UFRJ (1992). 84 - LIMONAD, E. Entre a Urbanização e a Sub-Urbanização do Território In: XI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 2005, Salvador. Planejamento, Soberania e Solidariedade: perspectivas para o território e a cidade. Salvador: UFBA/ANPUR, 2005. v.1. p.1 – 18. LIMONAD, E. Breves considerações sobre a fragmentação da personalidade do espaço urbano em tempos de globalização In: Milton Santos - Cidadania e Globalização. Bauru: AGB /Saraiva, 2000. LIMONAD, E. Das hierarquias urbanas à cooperação entre lugares In: VIII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 1999, Porto Alegre. Anais do VIII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Porto Alegre: UFRGS, 1999. v.1. p.CD-ROM LIMONAD, E. Reflexões sobre o espaço, o urbano e a urbanização. GEOgraphia (UFF), v.I, p.71 - 91, 1999. LIMONAD, E. A urbanização do território: o caso do interior fluminense. Revista Fluminense de Geografia, v.I, p.19 - 27, 1998. LIMONAD, E. Cidades: do Lugar ao Território In: V Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 1998, Campinas. Campinas - SP: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 1998. p.181 – 182 LIMONAD, E. Hierarquia urbana x multipolaridade de lugares In: Simpósio Multidisciplinar Internacional: O pensamento de Milton Santos e a construção da cidadania, 1997, Bauru. LIMONAD, E. Novas redes urbanas? In: VII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 1997, Recife. Novos recortes territoriais, novos sujeitos sociais: desafios do planejamento. Recife - PE: ANPUR, 1997. v.3. p.2121 - 2145 85 - LEFEBVRE, H, vários op.cit. 86 - LIMONAD, E., MONTE-MÓR, R. L. M. Por el derecho a la ciudad, entre lo rural y lo urbano. Scripta Nova (Barcelona), v.16, p.25 - , 2012. LIMONAD, E., MONTE-MÓR, R. L. M. Por el derecho a la ciudad, entre el rural y el urbano In: Colóquio internacional de Geocrítica, 2012, Bogotá. Independencias y construcción de estados nacionales. Barcelona: Geocrítica, 2012. v.XVI. LIMONAD, E., BARBOSA, J.L. Entre o ideal e o real rumo a sociedade urbana - algumas considerações sobre o Estatuto da Cidade?. Geousp, v.13, p.87 - 106, 2003. LIMONAD, E., BARBOSA, J.L. Estatuto da cidade: uma lei para cidades sem pobres ? In: X Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 2003, Belo Horizonte. Encruzilhadas do Planejamento: Repensando Teorias e Práticas. Belo Horizonte: IGC-UFMG-ANPUR, 2003. v.I. p.1 - 16 LIMONAD, E., LIMA, I. Entre a Ordem Próxima e a Ordem Distante - contribuições a partir da obra de Henri Lefebvre. Rio de Janeiro : GECEL, 2003, v.1. p.103. LIMONAD, E., LIMA, I. G. Alguns desdobramentos entre o próximo e o distante In: Entre a Ordem Próxima e a Ordem Distante: contribuições a partir do pensamento de Henri Lefebvre. Niterói : Ester Limonad, 2003, v.1, p. 98-103. LIMONAD, E., LIMA, I. G. Entre a Ordem Próxima e a Ordem Distante, contribuições a partir do pensamento de Lefebvre In: Entre a Ordem Próxima e a Ordem Distante: contribuições a partir do pensamento de Henri Lerfebvre. Niterói : Ester Limonad, 2003, v.1, p. 15-33. LIMONAD, E. Espaço e Tempo na Arquitetura e Urbanismo: algumas questões de método In: VII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 2002, Salvador. Historiografia da Cidade e do Urbanismo - Balanço da Produção Recente e Desafios Atuais. Salvador: ANPUR-UFBA, 2002. v.1. p.1 – 25. RANDOLPH, R., LIMONAD, E. Cidade, lugar e representação: sua crise e apropriação ideológica num mundo de 'urbanização generalizada'. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR), v.5, p.11 - 24, 2001. LIMONAD, E., RANDOLPH, R. Cidade, Lugar e Representação, sua crise e apropriação ideológica em um mundo de urbanização generalizada In: VI Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 2000 CdRom 87 - LIMONAD, E. Desarrollo local, la cuestión regional, las nuevas tecnologías, algunos puntos para reflexión In: V Coloquio sobre Transformaciones Territoriales, 2004, La Plata - Argentina. Nuevas Visiones en el inicio del Siglo XXI. Montevideo - Uruguay: Asociación de Universidades Grupo Montevideo, 2004. v.1. p.1 – 16. LIMONAD, E., RANDOLPH, R. port@l.eletrônico.gov: considerações sobre a interação Sociedade-Estado . GEOgraphia (UFF), v.I, p.53 - 42, 2002. LIMONAD, E., RANDOLPH, R. servicios_ y_ ciudadanía _en_líne@.gov: - una reflexión sobre la interacción Estado - Sociedad a través de la Internet In: .gov - gobierno electrónico en el Mercosur. Barcelona: Quaderns Digitals, 2002. p. 20-67. LIMONAD, E., RANDOLPH, R. e-governo e digital divide: reflexões sobre o fortalecimento da interação entre sociedade e Estado através das redes telemáticas In: Anais do XIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas). Guatemala: Universidad de San Carlos, 2001. v.1. p.28 - 29. LIMONAD, E. Towards new kinds of regionalization and urbanization In: Abstracts of the 42nd Annual Conference of the Associate Schools of Planning. Atlanta - Georgia: University of Georgia, 2000. p.68. LIMONAD, E. Entre Redes e Sistemas In: II Workshop sobre Redes, 2000, Rio de Janeiro. Redes Sociais, Territoriais e Informacionais. Rio de Janeiro: IPPUR-UFRJ e Programa de Pós-Graduação em Geografia - UFF, 2000. v.I. p.8 – 11 LIMONAD, E. Impactos Sócio-Espaciais das Inovações Tecnológicas In: Caderno de Resumos del XXI Congreso de la Asociación Latinoameriacana de Sociologia. La Concepción: ALAS - Universidad de La Concepción, 1999. v.1. p.67 - 67 LIMONAD, E. Nuevas tendencias de la urbanización en tiempos de otra revolucion industrial. Boletin de Riadel, p.9, 1999. LIMONAD, E. Nuevas tendencias de la urbanizacion en tiempos de otra revolucion industrial In: Seminario de Investigacion Urbana, 1998, Buenos Aires. El Nuevo Milenio y lo Urbano. Buenos Aires - Argentina: Universidad de Buenos Aires, 1998. v.I. p.21. RANDOLPH, R., LIMONAD, E. Digital Cities: Telecities, Cidades em Redes: Rumo a uma nova co-operação urbana ? In: II Jornadas Internacionales: Ciudad y Redes Informáticas, 1998, Quilmes - Argentina. La ciudad en.Red.ada. Quilmes - Argentina: Universidad Nacional de Quilmes, 1998. v.1. p.12 - 12 LIMONAD, E. Telecommunications and new trends of urbanization in non-metropolitan areas. In: Telecom. & the City conference, 1998. 88 - SANTOS, M. A Natureza do Espaço. São Paulo: Loyola, 1996. 89 - LIMONAD, E., MOREIRA, Ruy, BARBOSA, Jorge Luiz, HAESBAERT, Rogério, Perfil do Programa de Pós-Graduação em Geografia In: III Encuentro de Posgrados sobre Desarollo y Políticas Territoriales y Urbanas de los Países del Cono Sur, 2000, Bahia Blanca. Perfil de los Posgrados sobre Desarollo y Políticas Territoriales y Urbanas de los Países del Cono Sur. Bahia Blanca: Universidad Nacional del Sur, 2000. v.I. p.25 - 35 90 - Essa fase tem relação com o projeto de pesquisa desenvolvido de 2006-2010 Urbanização Dispersa: uma nova forma de desenvolvimento urbano? Estudos de caso no estado do Rio de Janeiro. 91 - LIMONAD, E. Alguns apontamentos sobre a urbanização dispersa no Estado do Rio de Janeiro In: REIS Fº, N.G. e TANAKA, M.S. (org.) Sobre Urbanização Dispersa. São Paulo : Via das Artes, 2009, v.1, p. 114-124. LIMONAD, E. Rio de Janeiro: uma nova relação capital-interior? In: LIMONAD, E. et al. (org)Brasil Século XX, por uma nova regionalização? agentes, processos e escalas.São Paulo : Max Limonad, 2004, v.1, p. 78-92. LIMONAD, E. Interiorização x Metropolização - Desenvolvimento do Interior e Involução Metropolitana: o caso do interior do Rio de Janeiro In: A Reestruturação Industrial e Espacial do Estado do Rio de Janeiro. Niterói : PPGEO - UFF GECEL - GERET, 2003, v.1, p. 129-138. LIMONAD, E. Considerações sobre o novo paradigma do espaço de produção industrial. Ciência Geográfica, v.1, p.1 - 12, 2003. LIMONAD, E., MONTEIRO, J.C.C.S. Rumo a um novo paradigma da organização do espaço de produção industrial In: XIII Encontro Nacional de Geógrafos, 2002, João Pessoa. Por uma Geografia Nova na Construção do Brasil. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba e Associação dos Geógrafos Brasileiros - Nacional, 2002. v.1. p.207 – 207. LIMONAD, E. Multipolar urbanisation patterns in south Rio de Janeiro: from competition or cooperation to coopetition In: Polycentric metropolitan regions - new concepts and experiences. Varsóvia : Polish Academy of Sciences - Committee for space economy and regional planning, 2002, v.11, p. 143-158. LIMONAD, E. Redes Logísticas e Complexos Empresariais no Sul Fluminense In: XII Encontro Nacional da AGB, 2000, Florianópolis. Os outros 500 na formação do território brasileiro. Florianópolis: AGB e UFSC, 2000. v.1. p.125 – 125. 92 - LIMONAD, E. Redes Urbanas, Metropolização e Desenvolvimento Regional no Brasil, 2014. (Conferência II SEDRES). LIMONAD, E. Recent Trends in Brazilian Urbanization, 2014. (Conferência CEDLA- University of Amsterdam). BARBOSA, Jorge Luiz, LIMONAD, E. Ordenamento Territorial e Ambiental. Niterói: EDUFF, 2012, v.1. LIMONAD, E. Brasil! Mostra a tua cara. Breves considerações sobre a urbanização brasileira recente. Revista Internacional de Língua Portuguesa (Pelotas), v.23, p.269 - 283, 2010. LIMONAD, E. Espaço-Tempo e Urbanização, algumas considerações sobre a urbanização brasileira. Cidades (Presidente Prudente), v.4, p.1 - 15, 2008. LIMONAD, E. América Latina mais além da urbanização dependente? In: OLIVEIRA, M.P: et al. (org.) Espacialidades Contemporâneas: o Brasil, a América Latina e o Mundo. São Paulo: Lamparina, 2008, v.1, p. 75-93. LIMONAD, E. Nunca Fomos Tão Metropolitanos! In: REIS, N.G. TANAKAm M.S. (org.) Brasil - Estudos sobre Dispersão Urbana. São Paulo: Via das Artes - FAPESP, 2007, v.1, p. 183-212. LIMONAD, E. No todo acaba en Los Angeles. ¿Un nuevo paradigma: entre la urbanización concentrada y dispersa?. Biblio 3w (Barcelona), v.XII, p.1 - 18, 2007. LIMONAD, E. Urbanização dispersa mais uma forma de expansão urbana?. Formação (Presidente Prudente), v.1, p.31 - 45, 2007. LIMONAD, E. Urbanização e Migrações: contribuições para uma agenda de pesquisas In: 2. Encontro Nacional de Produtores e Consumidores de Informações Sociais Econômicas e Territoriais, 2006, Rio de Janeiro. Anais do 2. Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. v.1. LIMONAD, E. Nem tudo acaba em Los Angeles In: 52. Congresso Internacional de Americanistas, 2006, Sevilla. Nuevas Dimensiones de la Industria y de lo Urbano en las Metrópolis Latinoamericanas. Universidad de Sevilla, 2006. v.1. p.1 - 21 LIMONAD, E., HAESBAERT, R., MOREIRA, R. Brasil Século XXI, por uma nova regionalização? agentes, processos e escalas. São Paulo: Max Limonad, 2004, v.1. p.212. LIMONAD, E. Brasil século XXI, regionalizar para que? Para quem? In: LIMONAD, E., HAESBAERT, R., MOREIRA, R. Brasil Século XXI, por uma nova regionalização? agentes, processos e escalas. São Paulo : Max Limonad, 2004, v.1, p. 54-66. LIMONAD, E. Urbanização e Organização do Espaço na Era dos Fluxos In: Território, territórios.3 ed.Rio de Janeiro : Lamparina, 2007, v.1, p. 15-170. LIMONAD, E. Urbanização e Organização do Espaço na Era dos Fluxos In: Território, Territórios, ensaios sobre o ordenamento territorial.2 ed.Rio de Janeiro : DP&A, 2006, v.1, p. 147-172. LIMONAD, E. Urbanização e Organização do Espaço na Era dos Fluxos In: Território territórios.1ª ed.Niterói : Programa de Pós-Graduação em Geografia - UFF e AGB-Niterói, 2002, v.1, p. 69-88. 93 - LIMONAD, E., MONTE-MÓR, R. L. M. Beyond the right to the city: between the rural and the urban. URBIA - Les Cahiers du développement urbain durable, v.17, p.103 - 115, 2015. LIMONAD, E. COSTA, H. S. M. Cidades excêntricas ou novas periferias? Cidades, v. 12, p. 278-305, 2015. LIMONAD, E., COSTA, H.S.M. Edgeless and eccentric cities or new peripheries?. Bulletin of Geography. Socio-economic series, v.24, p.117 - 134, 2014. LIMONAD, E. Uma homenagem a Ana Clara Torres Ribeiro, 2014. (Palestra –UNESP-PP) LIMONAD, E. Desafios a reflexão sobre a organização do espaço contemporâneo, 2013. (Aula Magna POSGEO-UFPE) LIMONAD, E., COSTA, H.S.M. Eccentric Centralities: From Center to Periphery and Back. In: AESOP-ACSP Joint Congress, Planning for resilient cities and regions. Dublin: University College of Dublin, 2013. MONTE-MÓR, R. L. M., LIMONAD, E. O Urbano e o Rural frente à Urbanização da Sociedade In: Expansão metropolitana e transformação das interfaces entre cidade, campo e região na América Latina. São Paulo: Max Limonad, 2011, v.1, p. 202-217. LIMONAD, E. Regiões Reticulares: algumas considerações metodológicas para a compreensão de novas formas urbanas. Cidades (Presidente Prudente), v.7, p.1 - 15, 2010. LIMONAD, E., BARBOSA, J.L. Para Além do Rural e do Urbano In: XI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 2005, Salvador. Perspectivas para o território e a cidade. Salvador: ANPUR - UFBA, 2005. v.1. p.1 – 1 94 - LIMONAD, E. A insustentável natureza da sustentabilidade. Cadernos Metrópole (PUCSP), v.15, p.123 - 142, 2013. LIMONAD, E. A natureza da ambientalização do discurso do planejamento. Scripta Nova (Barcelona), v.14, p.1 - 10, 2010. LIMONAD, E. A natureza da ambientalização do discurso do planejamento In: Colóquio Internacional de Geocrítica, 2010, Buenos Aires. La planificación territorial y el urbanismo desde el dialogo y la participación, 2010. LIMONAD, E., ALVES, J. APAS e APPs como instrumento legal de regulação urbano-ambiental? In: IV Encontro Nacional da ANPPAS, 2008, Brasília. Mudanças Ambientais Globais: A contribuição da ANPPAS ao debate. Brasília: ANPPAS, 2008. v.1. p.1 - 20 GARCIA, M. F., LIMONAD, E. Grandes projetos hidrelétricos e desenvolvimento regional - algumas considerações sobre o projeto hidrelétrico do rio Madeira In: IV Encontro Nacional da ANPPAS, 2008, Brasília. Mudanças Ambientais Globais a Contribuição da ANPPAS ao debate. Brasília: ANPPAS, 2008. LIMONAD, E. Regiões Urbanas e Questão Ambiental In: XVI Encontro Nacional da ABEP, 2008, Caxambu. As Desigualdades Sócio Demográficas e os Direitos Humanos no Brasil. Belo Horizonte: ABEP, 2008. LIMONAD, E. A natureza da questão ambiental contemporânea. Geografias (UFMG), v.4, p.1 - 25, 2007. LIMONAD, E. O Fio da Meada: Desafios ao planejamento e à preservação ambiental na Costa dos Coqueiros - Bahia. Scripta Nova (Barcelona), v.10, p.1 - 15, 2007. LIMONAD, E. O Fio da Meada desafios ao planejamento e à preservação ambiental na Costa dos Coqueiros - Bahia In: IX Colóquio Internacional de Geocrítica, 2007, Porto Alegre. LIMONAD, E. Questões ambientais e o desenvolvimento local-regional: de volta à Região In: X Encontro de Geógrafos da América Latina, 2005, São Paulo. Por uma Geografia Latino Americana do Labirinto da Solidão ao Espaço da Solidariedade. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2005. LIMONAD, E., MONTEIRO, J.C.C.S. Reestruturação Produtiva e Desenvolvimento Sustentável In: X Congresso Brasileiro de Geográfos, 2004, GoIânia. Anais do X Congresso Brasileiro de Geógrafos. Goiânia: AGB-Nacional e UFGO, 2004. v.1. p.1 - 11 LIMONAD, E. Questões ambientais contemporâneas, uma contribuição ao debate In: II Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, 2004, Indaiatuba - SP. Anais da II ANPPAS. Campinas: ANPPAS, 2004. v.1. p.1 – 11 LIMONAD, E. Towards an urban environmental planning In: III AESOP-ACSP Joint Congress, 2003, Leuven - Bélgica. The Network Society, the new context for planning. Leuven - Bélgica: University of Leuven, 2003. v.1. p.103 – 103 95 - LIMONAD, E. Na trilha do sol: urbanização e turismo no litoral do Nordeste brasileiro. In: MENDONÇA, J.G; COSTA, H.S.M. (Org.). Estado e capital imobiliário: convergências atuais na produção do espaço urbano brasileiro. Belo Horizonte : C/Arte, 2011, v.1, p. 15-30. LIMONAD, E. "Você já foi à Bahia, nêga? Não! Então vá! Antes que acabe..." Planejamento, urbanização e turismo no litoral do Nordeste brasileiro. Scripta Nova (Barcelona), v.XII, p.1 - 15, 2008. LIMONAD, E. "Você já foi a Bahia nêga? Pois então vá! Antes que acabe..." Planejamento, urbanização e turismo no litoral do Nordeste brasileiro, tendências e perspectivas In: X Coloquio Internacional de Geocrítica, 2008, Barcelona. Diez Años de Cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Barcelona: Geocrítica, 2008. v.1. p.1 - 20 LIMONAD, E. Yes, Nós Temos Bananas! Praias, Condomínios Fechados, Resorts e Problemas Sócio-Ambientais. GEOgraphia (UFF), v.8, p.12 - 32, 2007. LIMONAD, E. Yes, Nós Temos Bananas! Praias, Condomínios Fechados, Resorts e Problemas Sócio-Ambientais In: 12 Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Anais.... Belém: UFPA-ANPUR, 2007. v.1. p.1 – 20. 96 - LIMONAD, E. Identidades na Diferença. Geosul (UFSC), v.21, p.7 - 28, 2006. LIMONAD, E. Paris em Chamas: Arquitetura ou Revolução. Biblio 3w (Barcelona), v.XI, p.1 - 28, 2006. LIMONAD, E. Desafios ao Desenvolvimento Local e Regional. GeoInova (Lisboa), v.6, p.12 - 29, 2005. LIMONAD, E. Desenvolvimento local, a questão regional, as novas tecnologias, alguns pontos para reflexão. Plurais (Anápolis), v.1, p.45 - 58, 2005. LIMONAD, E. Estranhos no Paraíso de Barcelona. Impressões de uma geógrafa e arquiteta brasileira residente em Barcelona. Biblio 3w (Barcelona), v.X, 2005. 97 - LIMONAD, E. Paris Burns! Architecture or Revolution? In: Tom Harper; Heloisa Soares de Moura Costa, Anthony Yeh. (Org.) Dialogues in Urban and Regional Planning. Florence: Routledge, 2008, v.3 98 - LIMONAD, E. State reform and territorial planning from the military regime towards democracy, 2014. (Palestra University of Leiden) LIMONAD, E. Planejamento e Políticas Urbanas nos anos 2000 - um aporte crítico, 2014. (Palestra UFSJ) LIMONAD, E. Brazilian urbanization, the Statute of the City and the right to the city, 2014. (Conferência University of Cardiff). LIMONAD, E. A falsa transparência do Estado e do planejamento. Workshop: rumo à sociedade urbana. Belo Horizonte: UFMG, 2014 (Comunicação,Apresentação de Trabalho) LIMONAD, E. Brazil, challenges for a different development, 2014. (Conferência University of Leiden) LIMONAD, E., CASTRO, E. R. (org.) Um novo planejamento para um novo Brasil?. Rio de Janeiro : Letra Capital, 2014, v.1. p.300. RIBEIRO, A. C. T., LIMONAD, E., GUSMAO, P. P. (org.) Desafios ao Planejamento. Rio de Janeiro : Letra Capital, 2012, v.1. p.191. LIMONAD, E. Estado, espaço e escala no Brasil, subsídios para a reflexão. Scripta Nova (Barcelona). v.XVIII, p.1 - 19, 2014. LIMONAD, E. Em busca do Paraíso: Algumas considerações sobre o desenvolvimento. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR), v.15, p.125 - 138, 2013. LIMONAD, E., CASTRO, E. R. De uma “Ciência para o Novo Brasil” a “Um novo planejamento para um novo Brasil? In: Ester Limonad; Edna Castro. (Org.) Um novo planejamento para um novo Brasil?. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2014, p. 11-22. LIMONAD, E. Estado, espaço e escala no Brasil, subsídios para a reflexão In: BONASTRA, Quim; VASCONCELOS JUNIOR, Magno; TAPIA, Maricarmen. (Org.). El control del espacio y los espacios de control. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2014, p. 1-19. LIMONAD, E. Um novo planejamento ou um novo Estado para um novo Brasil? In: Um novo planejamento para um novo Brasil?. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2014, p. 80-99. LIMONAD, E. Da política a não política e a ingovernabilidade do território In: Maria Tereza Duarte Paes; Charlei Aparecido da Silva; Lindon Fonseca Matias (org.). Geografias, políticas públicas e dinâmicas territoriais. Dourados : UFGD, 2013, v.1, p. 15-27. 99 - RIIBEIRO, A.C.T.; DIAS, L.C. Escalas de poder e novas formas de gestão urbana e regional. Rio de Janeiro, 9 Encontro Nacional da ANPUR, Anais..., 2001. 100 - Durante esse período participei de eventos, elaborei e retomei trabalhos que se materializaram em diversas publicações relativas aos temas já elencados. a que se somam convites para diversas conferências e cursos nas Universidades de Leiden – Holanda (2014, 2015, 2016, 2017), Universidad Central de Chile (2016), Universidad de Chile (2016), Pontíficia Universidad Católica de Valparaíso (2016), a que se somam convites para participação em eventos em diversas Instituições de Ensino Superior no país. 101 - LIMONAD, E. Una Vez más la Región. Revista Geográfica de Valparaíso v. 54, p. 1-16, 2017. LIMONAD, E.; BARBOSA, J. L. (Org.). Geografias: Reflexões, Estudos e Leituras. São Paulo: Max Limonad, 2020. LIMONAD, E. (org.) ETC: espaço, tempo e crítica.... Rio de Janeiro: Letra Capital, 2019. LIMONAD, E.; MONTE MÓR, R. L. M. O rural e o urbano em uma era de urbanização generalizada. In: MAIA, D. S.; RODRIGUES, A. M.; SILVA, W.R. (Org.). Expansão urbana: despossessão, conflitos, diversidade na produção e consumo do espaço. João Pessoa: Editora da UFPB, 2020, p. 222-253. LIMONAD, E. Entre as lógicas e as escalas da urbanização. In: LIMONAD, E. (Org.). ETC: espaço, tempo e crítica.... Rio de Janeiro: Letra Capital, 2019, p. 284-306. LIMONAD, E. Novidades na urbanização brasileira? In: Elias, D.; Pequeno, R. (Org.). Tendências da urbanização brasileira novas dinâmicas de estruturação urbano-regional. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2018, p. 25-58. LIMONAD, E. Desafios ao Desenvolvimento Local e Regional. In: BARBOSA, J.L.; LIMONAD, E. (Org.). Ordenamento Territorial e Ambiental. 2ed.Rio de Janeiro: Letra Capital, 2016, p. 169-188. 102 - LIMONAD, E. Para pensar a descolonização do cotidiano: desentranhando o desenvolvimento. In: LIMONAD, E.; BARBOSA, J.L. (Org.). Geografias: Reflexões, Estudos e Leituras. São Paulo: Max Limonad, 2020, v. 1, p. 20-40. LIMONAD, E. Navegar é preciso, viver não é preciso, o que é necessário é criar: Da geopolítica urbana latino-americana aos comuns urbanos, alguns apontamentos. In: BARROS, A.M.L.; ZANOTELLI, C.L.; ALBANI, V. (Org.). Geografia urbana: cidades, revoluções e injustiças entre espaços privados, públicos, direito à cidade e comuns urbanos. Rio de Janeiro: Consequência, 2020, p. 445-464. LIMONAD, E. Do Político à não-política e a (in)governabilidade do território. Revista Política e Planejamento Regional, v. 7, p. 86-102, 2020. LIMONAD, E. Que diabos está havendo? Algumas breves considerações sobre a neoliberalização do espaço social. In: CASTRO, E. (Org.). Pensamento crítico latino-americano: reflexões sobre políticas e fronteiras. São Paulo: Annablume, 2019, p. 225-252. LIMONAD, E. Uma utopia com os pés no chão: algumas considerações sobre práticas espaciais transformadoras. Novos Cadernos Naea, v. 21, p. 79-92, 2018. LIMONAD, E. Lá se vão trinta anos de ANPUR.... Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 19, p. 219-232, 2017. LIMONAD, E.; BARBOSA, J. L.? Why don’t we do it in the road? Biblio3w, v. 22, p. 1-22, 2017. LIMONAD, E. "Amanhã há de ser um outro dia!". Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 18, p. 351-355, 2016. LIMONAD, E. Crise da Cidade, Crise na Cidade. In: OLIVEIRA, M.P.; GIANELLA, L.C.; MARTINS, F.E. (Org.). Dominação e apropriação na luta por espaço urbano. Rio de Janeiro: Consequência, 2018, p. 1-20. LIMONAD, E.; MONTE-MÓR, R. L. M.; COSTA, H. S. M. O Brave New World? Considerações sobre experiências presentes para um futuro próximo. In: ZAAR, M.; CAPEL, H. (Org.). Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad post-capitalista. Barcelona: Universidad de Barcelona/Geocrítica, 2018, p. 1-22. LIMONAD, E. Utopias urbanas, sonhos ou pesadelos? Cortando as cabeças da hidra de Lerna. In: Bencha, N; Zaar, M.H.; Vasconcelos P. Jr, M. (Org.). Las utopías y la construcción de la sociedad del futuro. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2016, p. 1-19. 103 - SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001.
ESTER LIMONAD ESTER LIMONAD Olhando para trás, posso dizer que os eixos ou caminhos fundantes que orientam atualmente minha inserção na Geografia e minha postura acadêmica e política encontram-se subjacentes em meu passado, e tem uma relação intrínseca com minha história de vida, com meu gosto por romances de mistério e de ficção científica, minha paixão por cinema e por rock & roll, com minha formação enquanto sujeito social e político, bem como com meu compromisso político e intelectual com a produção do conhecimento e com as transformações do mundo contemporâneo. Formação essa influenciada por leituras de autores diversos e, em particular, por meu encantamento com as proposições de Henri Lefebvre desde 1974, quando um colega da FAUUSP (1) me presenteou o “O Direito à Cidade” (2). Em uma apropriação metafórica de François Ascher(3) relativa aos múltiplos pertencimentos e inserções dos indivíduos no cotidiano, que exigem atualmente diferentes formas de interação social e de simultaneidade, que demandam que os sujeitos sociais transitem em múltiplos espaços, interajam com diversos grupos do local ao global e adotem múltiplas e diversas linguagens no decorrer de um dia; posso dizer que minha vida pregressa e presente é marcada por múltiplos pertencimentos e inserções em diferentes campos de conhecimento, que demandaram a assimilação de distintas linguagens, de diferentes formas de interação social, com um trânsito em múltiplos espaços, que vieram a resultar no que sou hoje. Assim, essa memória consiste em um esforço de explicitar diferentes caminhos trilhados, em que se inserem as distintas atividades desenvolvidas e está eivada por minha história pessoal e profissional pretérita. Retrospectivamente, minha aproximação à Geografia, se deu em diversos momentos, que culminaram com meu ingresso e efetivação no Departamento de Geografia da UFF, em 17 de agosto de 1998. Contudo, esta não foi uma jornada retilínea e sem desvios, ao contrário, foi permeada por diversas interrupções, muitas das quais alheias à minha vontade. Mas como dizem meus amigos mais próximos sou persistente e obstinada, para não dizer teimosa e cabeça dura. DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO TEÓRICO QUEM SOU EU? Começando pelo fim devo esclarecer que, desde julho de 2015, sou Professora Titular do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Conto com uma bolsa de produtividade do CNPq(4) , na área de Geografia Humana.Coordenei e participei de projetos interinstitucionais de cooperação e de ensino na área de Geografia com a UFPA, com a UECE, colaborei com diversos programas de pós-graduação na área de Geografia. Sou consultora ad-hoc da CAPES(5) e de diversas Fundações de Amparo à Pesquisa. Fui titular da Cátedra Rui Barbosa de Estudos Brasileiros da Universidade de Leiden, Holanda, uma das mais antigas da Europa, em 2014 e 2017, onde ministrei disciplinas de pós-graduação e graduação. Na qualidade de professora visitante convidada ministrei um curso no programa de Master en Estudios Urbanos (Universidad Nacional de Colombia-Medellín) e palestras em programas de pós-graduação de Estudos Urbanos e de Geografia das Universidades de Amsterdam (Holanda) e de Cardiff (País de Gales). Sou formada em Arquitetura e Urbanismo (MACKENZIE), Mestre em Planejamento Urbano e Regional (UFRJ e Doutora em Estruturas Ambientais Urbanas (USP), com pós-doutorado em Geografia Humana (Universidad de Barcelona). E muitas outras coisas mais, basta olhar meu lattes. De inicio devo explicitar o que não sou, para chegar a quem sou. Piaget(6) diferencia a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade e esclarece que todas zelam pela preservação e manutenção da identidade disciplinar original enriquecida. De fato, não sou nem uma coisa, nem outra, sou indisciplinada, pois trilhei muitos caminhos, sem haver retornado de forma integral à minha formação disciplinar original (Arquitetura), sem me preocupar em manter uma nítida delimitação conceitual entre meus interesses disciplinares e os das demais disciplinas. Incorporei conceitos, categorias, metodologias de diferentes campos disciplinares em diferentes momentos de minha vida, com destaque, além de minha formação básica, entre outros, para as Ciências Sociais, Ciência Política, Economia e História. A que se soma uma interlocução com a Biologia, em particular a Botânica, ao longo do científico de medicina do Colégio Dante Alighieri, que me familiarizaram com questões relativas à Ecologia e às especificidades geográficas e climáticas das diferentes espécies de plantas, que anos mais tarde me vieram dar suporte na Geografia. Embora me sinta geógrafa na mente e no coração, permaneço indisciplinar, por não descartar as diferentes rugosidades acadêmicas desses diversos campos disciplinares, que permanecem em mim e que contribuíram para minha formação e para ser quem sou. Durante minha existência, seja em termos do convívio ou da prática profissional e política, sempre tive de lidar com a perplexidade dos outros. Sentimento traduzido sucintamente em uma pergunta de minha mãe ao saber que eu estava na Geografia: mas você não se formou em Arquitetura? Perplexidade esta com a qual me defrontei inúmeras vezes. Sim, me formei em Arquitetura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 1977, então sede do CCC(7) , em plena ditadura militar, a despeito de minha militância na tendência estudantil Liberdade e Luta. De início, posso dizer que a questão identitária sempre marcou minha vida. Conquanto nunca houvesse me preocupado em refletir sobre isso, vi-me obrigada a fazê-lo, em razão de um convite de Edna Castro para participar de uma mesa redonda em um congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia realizado em Belém do Pará, em setembro de 2010, quando o tema da mesa para o qual havia sido convidada mudou, repentinamente, de “Sociedade e Natureza” para “Identidade e Sujeitos Sociais na Amazônia”(8) , coisas do mundo acadêmico. Confesso, que me senti provocada, principalmente, por ver-me obrigada a falar de um tema, tão em moda que, a princípio, me desagradava. Em uma reflexão sobre as razões de meu desagrado, conclui que este tinha por base três motivos. Primeiro, do ponto de vista pessoal; segundo, do ponto de vista acadêmico-intelectual dada minha formação heterogênea e, terceiro, por minha posição política, em termos de seu potencial de estigma e preconceito, com base na vinculação entre identidade e lugar, que remete às ideias nazifascistas de solo-pátria e identidade. Mas o que ficou claro para mim, naquele momento, foi que se os outros tinham um problema com minha identidade, eu não o tinha. COMO CHEGUEI ATÉ AQUI? COMO EXPLICAR MINHA TRAJETÓRIA? Nasci em um sábado, em 21 de agosto de 1954, em São Paulo, capital, três dias antes do suicídio de Getúlio Vargas, na madrugada de 24 de agosto. Sou a primeira filha tardia de um casal de imigrantes judeus europeus, ele nascido em 1895 no seio de uma família de classe média abastada russa, ela uma polonesa órfã de pai e mãe tragicamente falecidos poucos anos após a chegada ao Brasil, nascida em 1922, alienada da família e criada como agregada em uma casa de família, em São Paulo a partir dos 13 anos. Meus pais vieram a se conhecer e casar na cidade do Rio de Janeiro, em 1943, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, para logo em seguida se mudarem para a cidade de São Paulo, onde foram morar em uma pensão abarrotada de imigrantes italianos e portugueses no bairro do Bexiga. Na capital paulistana, meus pais construíram sua vida, ascenderam socialmente e mantiveram por toda vida as amizades feitas na pensão do Bexiga, mantendo pouco contato com a comunidade judaica. Motivo pelo qual, após a escola básica, onde fui alfabetizada em português e inglês, me matricularam no Dante Alighieri, colégio fundado pela colônia de imigrantes italianos. Aí conclui o ginásio, em 1969, e o segundo grau em 1972. Em minha infância as mulheres eram do lar e as boas meninas aspiravam casar e serem mães, aprendiam idiomas, a cozinhar, costurar, fazer tricô e crochê, se comportar e a cuidar do lar. Todavia, minha mãe já rompia com esse ideal, pois trabalhava com meu pai na editora de livros de direito, que fundaram em 1943 na capital federal e que os levara a São Paulo, em razão da inexistência de firmas de encadernação na cidade do Rio de Janeiro. Por esse motivo meu irmão e eu ficamos aos cuidados de uma babá, uma portuguesa católica e beata, que com suas idas diárias à missa pela manhã e à tarde, contribuiu para que recebêssemos uma formação católica, ao menos até minha mãe encontrar a minha coleção de santinhos, que eu jogava no “bafo” com os meninos da rua. A partir daí, foram envidados diversos esforços para me integrar à cultura e à comunidade judaicas, que mesmo assim me via como católica, enquanto os meus colegas de colégio me viam como judia e esquisita. Essa conjunção de fatores e, talvez, por haver sido criada e convivido basicamente apenas com meninos até os seis anos de idade, fez com que desde cedo o meu ideal fosse “ir à luta” e resolver a minha vida, o que não se mostrava muito fácil considerando as transformações sociais e políticas pelas quais passava o Brasil, então. Passei minha infância e juventude em São Paulo, capital, em um contexto de classe média ascendente. Toda a minha formação pré-universitária foi em escolas privadas. Estudei com filhas e filhos da burguesia paulista tradicional, de intelectuais engajados, de representantes de empresas multinacionais, de imigrantes europeus, de judeus, de sírio-libaneses e de famílias tradicionais paulistas. Reverberações do acirramento da repressão política da ditadura chegaram ao colégio, após diversas prisões de secundaristas e do assassinato, na rua vizinha, alameda Casa Branca, de Carlos Marighella, por agentes do DOPS comandados pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, na noite de 4 de novembro de 1969. Isso levou a direção do colégio a orientar e exigir que os seus alunos com mais de 13 anos, passassem a transitar sempre com documentos e carteira de estudante. Fato que me marcou sobremaneira, uma vez que até hoje me sinto despida quando caminho sem lenço, sem documento, como cantava Caetano Velloso em Alegria, Alegria... Em 1972, após algumas viagens para o exterior, o contato com outras gentes e culturas, visitas a museus, etc., tudo isso associado ao meu gosto e prazer de desenhar levaram-me a passar no último ano do científico, do de Medicina para o de Arquitetura. A essa altura, já cumpria um dos ideais do que se esperava de uma boa menina e falava fluentemente inglês, italiano, espanhol e um pouco de hebraico. No decorrer desse ano de preparação para o vestibular de ingresso à universidade, infelizmente, por problemas diversos de saúde meu pai veio a falecer. O rearranjo da constelação familiar e as exigências de preparação para o vestibular fizeram com que me distanciasse de amigos próximos, o que me levou a uma certa introspecção. Embora minha mãe, trabalhasse fora, ao contrário de meu pai, não via a necessidade, nem o por quê de eu ingressar em uma universidade ou ter amizades com não-judeus, bastava obedecê-la, ajudar na editora, arrumar um marido de seu agrado e, naturalmente, lhe dar netos. Quando jovem, me preocupava em como lidaria com as grandes decisões que definiriam o rumo de minha vida. Com o tempo descobri que não há grandes decisões impactantes a serem tomadas, que nossas trajetórias se constroem com base em pequenas decisões, muitas vezes com impactos muito mais profundos e maiores do que os esperados. E, amiúde, embora não saibamos ao certo o que queremos, certamente sabemos o que não queremos. Dessarte, minha aproximação à Geografia aconteceu gradualmente, por sucessivas aproximações, pelo acúmulo de carga conceitual de experiências acadêmicas, de trabalho e de vida. Durante o segundo grau, não imaginava ser professora, tampouco cogitava ser geógrafa, embora a Geografia me atraísse. Desejava ser cientista, médica, investigadora de doenças tropicais. Mais que tudo sonhava ser independente, sair de casa, viajar e conhecer o mundo. Passei da infância à adolescência entre os anos 1960 e 1970, tempos embalados ao som da Bossa Nova, dos Beatles, dos Rolling Stones e do The Doors, em que se sucederam diversos regimes políticos e governos. Período em que apesar da ditadura militar, ainda ecoavam os festivais da Record com Caetano, Gil, Vandré, Chico, Milton Nascimento e tantos outros. As reivindicações de Paris de 1968 faziam-se sentir na pele, no ar, despertando o desejo de mudança, de uma outra sociedade. Tempos do flower power, do paz e amor, da pílula, dos “soutiens” queimados, da liberação feminina, dos cabelos rebeldes, da ausência de liberdades democráticas, da proibição de reunião de mais de três pessoas, tempos de AI-5 e do famigerado Decreto Lei-477. Um período em que Caetano Veloso cantava “não confie em ninguém com mais de trinta anos” e nos lembrava que “é proibido proibir!”. E, conforme amadurecíamos, a despeito da repressão, da ditadura dos generais, do medo da tortura, conspirávamos para mudar a sociedade, amávamos a revolução, sentíamo-nos poderosos e acreditávamos que poderíamos mudar o mundo. A ESCOLHA DA GEOGRAFIA COMO CURSO SUPERIOR Não escolhi a Geografia como curso superior. Pode-se dizer que a Geografia aconteceu em minha vida. Motivo pelo qual busco expor, ainda que não de forma linear, o que designo de minhas sucessivas aproximações à Geografia, e pinço, pouco a pouco, os desvios, as linhas paralelas percorridas ao longo de minha vida acadêmica em diferentes campos disciplinares e do conhecimento, para apontar como estes vários percursos contribuíram para geografizar meu pensamento e moldar a indisciplinaridade, que me é intrínseca, em termos acadêmico-científico-profissionais e mesmo pessoais. Afinal, sempre apreciei as narrativas labirínticas das obras de Lewis Carroll, James Joyce, Júlio Cortázar e dos filmes de Quentin Tarantino, em que diferentes espaço-tempos se superpõem, se misturam, se condensam e buscam retratar uma realidade mais complexa. Em suma, não posso começar pelo meu ingresso na graduação, nem pelo meu encantamento com a Geografia na escola, quando a Geografia que então se ensinava se resumia a abordagens descritivas quantitativas, a uma enumeração de lugares, acidentes geográficos; a uma tipologia de paisagens, climas, relevos; ou seja, a uma geomorfologia árida e a uma geografia humana descritiva. E, tampouco, posso começar por meu ingresso em uma pós-graduação em Geografia, pois ao doutorado em Geografia da UFRJ tem inicio em 1992/93. Assim, minha relação com a Geografia se construiu e se constrói, efetivamente, pouco a pouco, nos últimos vinte e oito anos de minha vida acadêmica. ANTES DA GEOGRAFIA, UMA GRADUAÇÃO ENGAJADA Ingressei no curso de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1973. E, em um curto espaço de tempo, descobri que não era isso o que queria. No entanto as contingências da vida familiar levaram-me a concluir a faculdade, pois ou me dispunha a trabalhar na editora com minha mãe ou buscava minha independência. Assim, comecei a trabalhar em 1974, dando aulas particulares de matemática, inglês e física, fazendo estágios de monitoria na faculdade e estágios de projeto em escritórios de arquitetura e de engenharia elétrica. Em janeiro de 1978 concluí a graduação em Arquitetura. Durante o curso me identifiquei com as disciplinas de Planejamento, ministradas ao longo de quatro anos e com a linha de História da Arquitetura e da Urbanização. Olhando para trás, essa atração deveu-se em boa parte ao fato destas disciplinas haverem apresentado uma abordagem com ênfase nos aspectos teóricos e metodológicos do Planejamento Urbano e Regional e na análise da Organização do Espaço em detrimento do Planejamento Físico e do Desenho Urbano. Nessas disciplinas foram abordadas as obras de Singer, Lefèvbre, Castells e Lojikine entre outros, bem como os trabalhos de Weber, da Escola de Chicago, as teorias da localização de Lösch, Weber e von Thünen, a teoria do lugar central de Christaller, os setores circulares de Hoyt, as contribuições de Cullen, Alexander e Lynch, às quais se somaram abordagens relativas à organização do espaço das cidades. Durante a graduação assisti, também, informalmente, a diversas disciplinas na FAUUSP(9) relacionadas ao planejamento urbano, à história da urbanização, à problemática habitacional e à comunicação visual, entre outras. Meus estudos universitários foram marcados pela militância no movimento estudantil, participação em assembleias universitárias, em mobilizações pela reconstrução da UEE(10) e da UNE(11) , em manifestações contra a Ditadura e em favor das Liberdades Democráticas. A militância demandou leituras diversas de orientação social e política. À revelia dos grupos de estudo e dos sectarismos ideológicos de meus colegas militantes, devorei obras de Lefebvre, Gramsci e Luxemburgo, às quais se somaram leituras de Mandel e de Deborde. Em busca de uma alternativa à Arquitetura, em 1975, ingressei no curso de História da FFLCH(12) da Universidade de São Paulo, onde permaneci por dois anos sem dar seguimento. Aí me foram de especial valia as disciplinas de Metodologia Científica e as de História Moderna e Contemporânea, que me colocaram em contato com as bases da Economia Política e, levaram a leituras mais sistemáticas de trabalhos de Ricardo, Marx e Engels, seguidos pelas de Sweezy, Baran, Hobsbwan e Dobb referentes às características do capitalismo contemporâneo. As atividades desenvolvidas na graduação conjugadas à militância política levaram-me a elaborar uma monografia dissertativa, sem projeto de arquitetura, intitulada "Situação Atual da Habitação Popular no Brasil"(13) , onde procurei abordar os condicionantes econômicos, os diversos agentes e fatores determinantes da produção habitacional no Brasil. A elaboração dessa monografia e as atividades de monitoria iniciadas em 1976 junto à disciplina de “Estética e História da Arte e das Técnicas” levaram-me a colaborar também com a disciplina de “Sociologia Urbana” ao fim de 1977. Essa colaboração colocou-me em contato com o Instituto de Planejamento Regional e Urbano da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (URPLAN), que resultou em meu ingresso na Especialização em "Desenvolvimento Urbano e Mudança Social". Este curso, além de haver enfocado as Teorias de Desenvolvimento Econômico e Social, permitiu um aprofundamento de elementos da Economia Política; bem como questões relativas às abordagens da CEPAL e dos teóricos da marginalidade social. Em seguimento, fiz na FUNDAP o curso de aperfeiçoamento em "Renda Fundiária na Economia Urbana", organizado por Celso Lamparelli, o qual anos mais tarde seria meu orientador de doutorado. Este curso introduziu uma ampla gama de abordagens relativas à problemática da renda fundiária urbana. Esse curso contribuiu para a elaboração da monografia "Elementos para a Análise da intervenção do Estado no Setor de Auto Construção"(14) , feita com Gisela Eckschmidt , onde articulamos a questão da habitação para populações de baixa-renda com a problemática da renda fundiária urbana e as estratégias de reprodução da força de trabalho, dando de certa forma sequência ao meu trabalho de graduação. Em 1979, ingressei no Mestrado em Planejamento Urbano e Regional do Programa de Engenharia de Produção da COPPE/UFRJ, criado em 1972 como parte das intenções do I PND(15) de formar quadros técnicos qualificados para os órgãos de governo. A opção por esse curso teve por base o fato de que seu mestrado se distinguia dos demais por sua postura crítica em relação ao planejamento e à política urbana e regional, que ia ao encontro da minha posição política e dos grupos de estudos políticos e críticos que frequentei durante a militância na graduação. Por ocasião de meu ingresso o programa se encontrava ameaçado de extinção. As dificuldades enfrentadas pelo programa limitaram a oferta de disciplinas, ao menos até o fim de 1979. Por conseguinte, dirigimo-nos a outros Programas da COPPE-UFRJ e ao Mestrado em Desenvolvimento Agrícola, que então funcionava em um casarão histórico no Horto Florestal do Rio de Janeiro. As disciplinas dos primeiros períodos do mestrado do PUR-COPPE retomaram de forma sistemática as leituras da Ideologia Alemã de Marx e Engels, do Capital de Marx, de Economia e Sociedade de Weber, assim como obras de autores clássicos da Sociologia e da Economia. No mestrado reencontrei Milton Santos, que conhecera em uma palestra na pós-graduação da FAUUSP, o qual em sua breve estadia no PUR-COPPE, ministrou as disciplinas de “Estudos de Problemas Brasileiros” e de “Organização Territorial”, com um olhar crítico. Na primeira, tratou da criação do 3º Mundo, do planejamento no Brasil e introduziu a discussão de formação sócio-espacial e de divisão espacial do trabalho. Ao passo que na segunda disciplina, a partir de uma abordagem teórico-conceitual, tratou de questões relativas à produção e organização social do espaço, questões que mais tarde redescobri em seus livros “Espaço e Método”, “Espaço Dividido” e “Metamorfoses do Espaço Habitado”, que vieram ao encontro de meu interesse pela produção do espaço, despertado pelas leituras de Lefebvre na década de 1970. Durante o mestrado, três temas despertaram meu interesse e de certa forma orientaram minhas escolhas, o papel das políticas públicas e das teorias de desenvolvimento na resolução dos problemas sociais; a dinâmica espacial da renda fundiária urbana às quais veio se somar o interesse pela questão do Estado na sociedade contemporânea. Em decorrência aprofundei as leituras relativas à renda fundiária de Marx, as contribuições de Topalov, Lamarche, Lojikine, Castells, Lipietz, bem como estudei as teorias da modernização, da marginalidade social e as diversas teorias do desenvolvimento. O terceiro tema, relativo ao papel do Estado emerge quase como decorrência dos anteriores, e se constitui em uma tentativa de compreender o papel do Estado e o caráter do Estado brasileiro, em função da conjuntura autoritária que se arrastava desde 1964, para avaliar as condições de atuação política e possibilidades de transformação social. Interesse despertado pela leitura de Chico de Oliveira e de outros autores do CEBRAP(16) da Questão Meridional de Gramsci, bem como das Veias abertas da América Latina de Galeano. Destarte, os cursos sobre a “Sociologia do Desenvolvimento”, de “Introdução ao Planejamento” e de "Teoria Política", vieram ao encontro desse meu interesse pela questão do Estado capitalista e contribuíram sobremaneira para atualizar-me com relação à discussão teórica do Estado nos anos 1970, com base na contribuição de diversos pensadores, entre eles Buci-Glucksmann, Althusser, Poulantzas, Laclau e Milliband entre outros. De certa forma, o primeiro e o terceiro desses temas se entrecruzaram com diferentes ênfases e resultaram na dissertação “A Trajetória da Participação Social: sua Elaboração Teórica e Apropriação Prática”(17) , orientada por Rosélia Piquet Carneiro, defendida em 1984. Na dissertação procurei apontar as articulações entre a prática institucional que visa a participação e a integração das comunidades envolvidas na melhoria de suas condições de vida e a produção teórica que procura conceituar e definir a participação no processo de planejamento. Para concluir que sempre houve um "planejamento participativo" nos limites do concedido, planejado pelo Estado, e que a participação social apenas se viabilizará ao deixar de ser uma variável técnica e passar a integrar o cotidiano dos envolvidos. O interesse por esses temas contribuiu para a minha amizade e colaboração com Ana Clara Torres Ribeiro, que conheci em 1981 nos corredores do PUR-UFRJ, oriunda da Geografia da UFRJ. Animadas por uma comunhão de interesses em torno de questões relativas aos movimentos sociais e às desigualdades socioespaciais buscamos articular alguma forma de trabalho conjunto sistemático, que viabilizasse aglutinar pesquisadores e estudantes em torno de questões candentes da conjuntura brasileira. Em abril de 1982, Ana Clara Torres Ribeiro e eu, junto com outros mestrandos, criamos o Grupo de Trabalho de Políticas Urbanas no PUR/UFRJ, que se reuniu regularmente até se dissolver em 1984. Esse grupo contribuiu, em parte, para uma espacialização social de minha reflexão uma vez que um de nossos objetivos era procurar desenvolver um processo de análise de medidas de planejamento, que integrasse a rapidez necessária com o rigor teórico crítico, em uma tentativa de aprofundar os meios teóricos e empíricos necessários à análise dos vínculos entre a realidade metropolitana, a legislação urbana e os processos espaciais. Para isso selecionamos como objeto inicial de análise e discussão o Anteprojeto de Lei do Desenvolvimento Urbano do CNDU, posteriormente aprovado como Estatuto da Cidade. A reflexão sobre esse anteprojeto de lei se desdobrou em uma série de atividades conexas(18) , com destaque para o "Dossiê - Anteprojeto de Lei do Desenvolvimento Urbano"(19) . Entre 1982 e 1983 tive minha filha, o que limitou as minhas possibilidades de participação acadêmica, assim desliguei-me, pouco a pouco, do grupo de políticas urbanas do PUR. O grupo de trabalho de políticas urbanas teve por corolário ao menos quatro desdobramentos de que trato a seguir. O primeiro foi a minha inserção no curso de especialização em Sociologia Urbana no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o segundo foi o ingresso no doutorado, o terceiro foi meu retorno a UFRJ e o quarto foi minha primeira inserção na Geografia através do Laboratório de Gestão do Território (LAGET) do Instituto de Geociências da UFRJ. 1º DESDOBRAMENTO: A SOCIOLOGIA URBANA DA UERJ Em meados de 1984, após a defesa da dissertação de mestrado, recomendada por Ana Clara Torres Ribeiro e Lícia do Prado Valladares tornei-me docente do curso de especialização em “Sociologia Urbana” do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que me contratou inicialmente na qualidade de professora horista no Curso de Especialização em "Sociologia Urbana" (Pós-Graduação Lato-Sensu). Posteriormente, fui contratada como professora visitante por um período de dois anos (1987-1989). Durante o tempo em que permaneci nesta instituição, enquanto docente da Pós-Graduação Lato-Sensu, colaborei na criação e montagem do Curso de Especialização em "Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais" (Pós-Graduação Lato Sensu), colaborei na organização de eventos internos(20) , ministrei as disciplinas de "Planejamento Urbano" e de "Técnicas de Pesquisa", orientei monografias de especialização(21) , participei de bancas de trabalhos de conclusão de graduação e de especialização, bem como fiz um curso de computação e de análise de sistemas(22) . Subjacente a criação desse segundo curso de especialização estava a intenção de criar um mestrado em Sociologia Urbana, que se concretizou na década de 1990, quando já me encontrava na UFRJ. Um motivo de felicidade, então, foi a obtenção de uma bolsa de aperfeiçoamento do CNPq para um de meus orientandos(23). A proposta da disciplina de Planejamento Urbano era capacitar os alunos a proceder a uma leitura crítica do espaço urbano, dos agentes nele atuantes, com um enfoque no papel e atuação do Estado na regulação do espaço urbano vis à vis à erupção de movimentos sociais. A disciplina de Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais, por sua vez, demandou uma aproximação à Antropologia Urbana e aos métodos de observação participante, além de privilegiar um enfoque das diversas técnicas de investigação e de coleta de dados, analíticas e empíricas, finalizando com a estruturação de projetos e elaboração de relatórios de pesquisa. Essa disciplina demandou, ainda, a introdução do tratamento estatístico de dados aos alunos, o que impôs que me familiarizasse com equações estatísticas, o que me foi facilitado pela base em ciências exatas do curso básico de graduação em Arquitetura. Um fato curioso, que tomei conhecimento anos mais tarde, é que os meus predecessores na disciplina de Planejamento Urbano da especialização em Sociologia Urbana haviam sido Ruy Moreira e Carlos Walter Porto Gonçalves, que viriam a ser meus colegas no Departamento de Geografia da UFF. 2º DESDOBRAMENTO: O INGRESSO NO(S) DOUTORADO(S) Em 1987, embora contratada pela UERJ por tempo limitado, a inflação crescente fazia-se sentir, com cada vez sobrando mais mês ao fim dos salários. Não havia, então, possibilidade de ingressar em um doutorado fora do Rio de Janeiro. Assim, frente às limitadas opções ofertadas no Rio de Janeiro, candidatei-me à segunda turma do doutorado do IEI-UFRJ(24) , ao final de 1987, aonde fui aceita como ouvinte. Além de assistir aulas esparsas de diversas disciplinas, durante o ano de 1988, cursei disciplinas de Teoria Econômica, Economia Brasileira e Organização do Estado Contemporâneo, esta última com José Luís Fiori. A primeira destas disciplinas enfocou o pensamento econômico clássico (Smith, Ricardo e Marx) e algumas correntes que se seguiram com destaque para Keynes. A segunda, trabalhou com uma abordagem heterodoxa de autores de diversas escolas sobre a economia brasileira contemporânea, privilegiando questões relativas aos planos de governo, à inflação e à dívida externa. A terceira, permitiu um aprofundamento e atualização da discussão referente à crise do Estado e ao papel dos sindicatos e partidos políticos na arena de negociações, com base nas contribuições de Claus Offe, de Pierre Ronsanvallon e de outros autores. Em 1989, a restrição de ingresso ao doutorado do IEI-UFRJ e o desejo de desenvolver minha pesquisa de doutorado sobre o estado do Rio de Janeiro levaram-me a pensar em buscar outras alternativas. Foi quando, reencontrei Celso Lamparelli, em uma reunião preparatória do III Encontro Nacional da ANPUR, que sugeriu que me candidatasse ao Doutorado da FAUUSP com o seu apoio. Assim, em julho de 1989, ingressei no Doutorado de Arquitetura e Urbanismo com uma bolsa CNPq por quatro anos. Questionada, anos mais tarde, por Milton Santos do por que de não haver ido para a Geografia da USP, cheguei a conclusão que naquela ocasião, de um ponto de vista pragmático, a FAUUSP acumulava, então, condições gerais mais favoráveis ao meu doutoramento, sem demandar créditos suplementares e por permitir-me conjugar a dedicação aos estudos, à pesquisa e às demandas familiares. Para cumprir os créditos disciplinares cursei as disciplinas de "Teoria da Urbanização" com Celso Lamparelli e Rebeca Scherer, "Teoria do Desenvolvimento e do Planejamento" com Cândido Malta Campos Filho e "Os Processos do Projeto e do Planejamento" com Philip Maria Gunn. A primeira realizou uma recuperação e discussão da evolução da questão metodológica sobre o urbano e o planejamento e, também, privilegiou uma reflexão sobre as atuais práticas de planejamento procurando apontar as tendências correntes e possíveis vieses teórico-metodológicos. A segunda privilegiou, inicialmente, uma recuperação das teorias clássicas de planejamento articulando-as com a prática de planejamento do Estado no Brasil, para a seguir tratar das operações interligadas em São Paulo. Ao passo que a terceira procedeu a uma discussão dos veios ideológicos e políticos que conformaram a prática de produção do espaço urbano, de meados do século XIX à primeira metade do século XX. 3º DESDOBRAMENTO: DE VOLTA À UFRJ E A ERA DOS CONCURSOS No 2° semestre de 1988, em vista do fim do meu contrato com a UERJ, e de minha inserção como ouvinte no doutorado do IEI, voltei à UFRJ. Este retorno se deu com múltiplas e variadas inserções, de 1988 a 1995, de forma intermitente e com vínculos precários. Primeiro com atividades de pesquisa quase simultâneas no IEI, onde iniciei o doutoramento, e no IPPUR, bem como com aulas de especialização no IPPUR e na FAU e posteriormente com pesquisas na Geografia e no IPPUR. Durante este período me submeti a quatro concursos docentes, sendo aprovada e qualificada em todos, dois na área de Arquitetura e Urbanismo e dois na área de Geografia Humana. A estes quatro concursos seguiram-se mais dois, quando já me encontrava, em caráter precário, no Departamento de Geografia da UFF. De março a agosto de 1988, trabalhei na pesquisa "Mega-Cities Rio de Janeiro" sob a coordenação de Carmen Fabriani, com suporte de um convênio entre o IEI-UFRJ com a New York University. Nessa pesquisa trabalhei com diversos pesquisadores, com destaque para Janice Perlman, coordenadora geral do projeto, e Susana Finquelievich do Instituto Gino Germani da Universidade de Buenos Aires e do CEUR-Argentina. Além de colaborar na elaboração de relatórios mensais, na definição das diretrizes gerais do projeto, na organização do Encontro de Coordenadores do Mega-Cities, também, participei ativamente da elaboração do trabalho "El Sector Informal y la Calidad de Vida en las MegaCiudades"(25) , apresentado no Seminário "Setor Informal: Cooperação e Participação para Resolver Problemas Urbanos", promovido pela Escola Nacional de Habitação e Poupança, pelo IBAM, pela USAID e pelo Projeto Megacidades, que me oportunizou reencontrar Maria Adélia de Souza. Em paralelo às atividades desenvolvidas na UERJ e no IEI-UFRJ, no primeiro semestre de 1988, comecei a ministrar a disciplina de “Produção do Espaço” para a Especialização em Urbanismo da FAU-UFRJ, onde permaneci até meados de 1992. Esta disciplina tinha por objetivo fornecer um instrumental analítico e prático para a análise do processo de evolução do uso e ocupação do solo urbano; enfatizando do ponto de vista teórico o papel e interações entre os diversos agentes responsáveis pela produção do espaço (capital imobiliário, incorporadores e a autoconstrução), bem como os aspectos ligados às políticas e práticas do Estado e dos organismos financiadores na produção do espaço urbano (política habitacional, infraestrutura e legislação). Ao nível prático o curso privilegiou o estudo da cidade do Rio de Janeiro e das cidades da Baixada Fluminense, através do uso de mapas temáticos. Ao mesmo tempo, comecei a dar aulas de "Técnicas de Análise e de Diagnóstico Regional” no Curso de Especialização em "Desenvolvimento Regional e Planejamento Territorial" do IPPUR-UFRJ junto com Rainer Randolph. Na parte que me coube abordei técnicas de pesquisa ligadas à análise regional, através de uma visão crítica, procurando destacar aspectos da coleta de dados em diferentes escalas de análise e de reflexão. Entrementes, em dezembro de 1991, foi aberto o primeiro concurso em anos para Professor Assistente de Teoria da Arquitetura na Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF, no qual fui habilitada e aprovada em 2° lugar. Meio ano depois, prestei concurso para Professor Assistente para o Departamento de Planejamento Urbano da FAU-UFRJ, no qual fui habilitada e aprovada em 3° lugar. Entre 1991 e 1992, eu, Lilian Fessler Vaz e Elane Frossard Barbosa, coordenadora do curso, com quem trabalhara no Grupo de Trabalho de Políticas Urbanas, elaboramos a proposta preliminar do curso de mestrado em Urbanismo da FAU-UFRJ, tomando por base a estrutura curricular da especialização. No segundo semestre de 1992, já sob a coordenação de Denise Pinheiro Machado esta proposta foi aperfeiçoada, reelaborada, encaminhada e aprovada na CAPES, dando origem ao atual programa de urbanismo da FAU-UFRJ, hoje PROURB-UFRJ. A esta altura percebia que meus interesses de pesquisa se distanciavam cada vez mais da área de Arquitetura e Urbanismo. E, se colavam mais e mais a questões ligadas à análise regional da urbanização e da dinâmica econômica, que se desdobravam nos estudos da tese de doutorado sobre a urbanização fluminense. Em janeiro de 1992 comecei a participar do Laboratório de Organização de Redes Territoriais, Estratégicas e Sociais do IPPUR-UFRJ (ORTES - IPPUR/UFRJ), coordenado por Rainer Randolph, e da organização do projeto de pesquisa "Impactos de Projetos Turísticos na Ilha Grande, Município de Angra dos Reis" que se propunha a uma avaliação dos impactos de uma possível desativação do Instituto Penal Cândido Mendes na Ilha Grande, município de Angra dos Reis(26). Um desdobramento deste projeto foi a apresentação do trabalho "Life Conditions of Vila Abraão Inhabitants - a Multimedia Presentation"(27) , em coautoria com Rainer Randolph, no 1st Symposium of "Multimedia for Architecture and Urban Design" realizado na FAUUSP. Em paralelo às atividades na FAU-UFRJ, durante o 1° semestre de 1992, eu e Rainer Randolph tomamos contato com a Ação Rural da Paróquia de S. Sebastião de Lumiar- Município de Nova Friburgo / RJ. Resultou daí uma série de reuniões e discussões que culminaram em nosso apoio a elaboração conjunta do documento "Sustentabilidade dos pequenos produtores em Área de Tombamento (Mata Atlântica - RJ)"(28) apresentado no FORUM GLOBAL - RIO 92. Nesse documento são salientadas as condições de vida e trabalho dos pequenos produtores em áreas de Mata Atlântica, aí residentes há gerações, e os problemas que enfrentam gerados pela ação do IBAMA e de grupos ecológicos radicais, que visam sua erradicação dessas áreas em nome da preservação ambiental do meio físico e biológico, sem atentar para a necessidade de manter estes grupos no local. CHEGANDO NA GEOGRAFIA, DA UFRJ À UFF Em 1993, de setembro a dezembro, me aproximei da Geografia propriamente dita quando fui contratada pela Fundação Bio-Rio para gerenciar a 1a Fase da Pesquisa PADCT "Utilização de Sistema de Informações Geográficas na Avaliação Tecnológico Ambiental de Processos Produtivos", coordenada por Bertha Becker e Cláudio Egler, do Laboratório de Gestão do Território (LAGET), com a participação dos laboratórios de Geoprocessamento e de Estudos do Quaternário do Instituto de Geociências-UFRJ, junto com laboratórios do IPPUR-UFRJ e com laboratórios da Fundação Fiocruz. Esse projeto me facultou uma aproximação às técnicas de geoprocessamento e ao domínio de alguns programas, que me propiciaram elaborar mapas temáticos. Bem como propiciou o contato com Fany Davidovich, Lia Osório Machado, Iná Elias de Castro, Paulo César Gomes, entre muitos outros docentes da UFRJ. Durante esse período no LAGET, Cláudio Egler e Marcelo Lopes de Souza, docentes do Departamento de Geografia, incentivaram minha candidatura ao concurso para provimento de duas vagas de professor assistente em Geografia Humana da UFF. Aprofundei, assim, minhas leituras de Harvey, Soja, Benko e Milton Santos, entre outros autores, bem como dos clássicos da Geografia com destaque para os trabalhos de Ratzel, de La Blache e Waibel. Esse concurso realizado em outubro de 1993 contou com diversos candidatos, havendo sido aprovados e habilitados apenas quatro, eu em terceiro lugar. Segui no LAGET-UFRJ até dezembro de 1993, quando por força da necessidade de concluir o doutorado desliguei-me do projeto. Essa breve estadia no LAGET-UFRJ propiciou o meu acesso às bases de dados distritais do IBGE relativos ao estado do Rio de Janeiro, necessários ao desenvolvimento de minha tese. No primeiro semestre de 1994, mais uma vez incentivada por Claudio Egler, Marcelo Lopes de Souza e Bertha Becker prestei concurso para Professor Assistente de Geografia Humana no Departamento de Geografia da UFRJ, no qual fui aprovada em segundo lugar, dentre diversos candidatos. Após esse resultado, retomei a tese de doutorado, que ganhava cada vez mais contornos geográficos em função das intensas leituras e extensos fichamentos feitos para os concursos. Cabe ressaltar que muitas contribuições das leituras desses autores convergiam para as leituras passadas dos textos de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Salama feitas em grupos de estudos clandestinos durante minha militância política durante a graduação, relativos ao desenvolvimento desigual e combinado, às contradições entre o valor de uso e o valor de troca, entre capital e trabalho; bem como leituras de textos de Gramsci, Luxemburgo, Mandel, Deborde e Lefebvre feitas à revelia do sectarismo militante, que contribuíam para uma compreensão da dinâmica espacial do capitalismo e da divisão espacial do trabalho. INGRESSO NA GEOGRAFIA DA UFF E CONCLUSÃO DO DOUTORADO Em 1º de agosto de 1995 teve início o meu contrato como professora substituta no Departamento de Geografia da UFF, sem direito a renovação devido a medida provisória federal do primeiro governo presidencial de Fernando Henrique Cardoso. E, foi neste âmbito que se deu a elaboração e redação final de minha tese de doutorado "Os Lugares da Urbanização - o caso do interior fluminense", que me conferiu o grau de Doutora em Estruturas Ambientais Urbanas. Cabe ressaltar que a pesquisa e elaboração da tese se desenvolveu de 1990 a 1996, em meio a diversas atividades e com uma progressiva aproximação à Geografia, havendo sido defendida em novembro de 1996 e, posteriormente, disponibilizada no acervo digital de teses da USP, da qual trato mais adiante. Após a defesa da tese, em vista da falta de uma perspectiva de inserção acadêmica institucional na UFF e a convite de colegas do IEI-UFRJ, Fábio Sá Earp e Luiz Carlos Soares, candidatei-me a um concurso de professor assistente em Economia do Trabalho, em que fui aprovada e habilitada em terceiro lugar. Nessa ocasião foi aprovada a minha solicitação de bolsa de pesquisa de recém-doutor junto ao CNPq ao fim de 1996, o que determinou meu retorno ao Departamento de Geografia da UFF, onde estou até hoje, após haver sido efetivada, através de novo concurso público, em 17 de agosto de 1998. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA A GEOGRAFIA BRASILEIRA Espero que aqueles que ora me leem compreendam que, há décadas, convivo em uma relação de amor com a Geografia. Uma relação consensual estável, reconhecida por meus pares, porém sem títulos de papel que comprovem e atestem a legitimidade de minha relação com a Geografia, ou seja não sou graduada, nem pós-graduada em Geografia, porém com pós-doutorado em Geografia Humana com Horácio Capel em Barcelona, entre 2005 e 2006, na Universidad de Barcelona. Maurício de Almeida Abreu dizia que me tornei geógrafa, pouco a pouco, fazendo concursos e lecionando diversas disciplinas de Geografia Humana e Econômica ao nível da graduação da UFF, à exceção de Geografia Agrária, bem como formando geógrafos, que hoje lecionam em universidades e em escolas, desenvolvem pesquisas e atuam em diferentes instituições. A este conjunto de atividades somaram-se aulas em disciplinas dos cursos de especialização em Planejamento Ambiental e em Geografia do Rio de Janeiro, precursores do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFF. E, como observou uma vez, Milton Santos “só você para fazer uma tese de Geografia na FAUUSP”. Tese de doutorado defendida em 05 de novembro de 1996 que, posteriormente, para minha honra, citou em um dos seus últimos livros com Maria Laura Silveira, extensamente segundo meus alunos. Tese que, agora ao elaborar esse memorial, percebo que tem a ver justamente com meu momento de descoberta de uma outra Geografia, diferente daquela dos livros de escola(29) . Momento do meu primeiro encontro com Milton Santos na sala dos espelhos do casarão da FAU-Maranhão em São Paulo, em uma aula apinhada do curso de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da USP, em 1978. Onde, do alto de um púlpito, teatralmente, Milton Santos discorria sobre paisagem e lugar. Sua abordagem a um só tempo me deixou perplexa, me fascinou, seduziu e intrigou. Levantei questões, fiz perguntas e saí, então, com mais indagações do que respostas. Aqueles eram tempos marcados pela repressão autoritária que repercutia nas salas de aula e calava as vozes de muitos professores, tempos em que uma possível abertura política e transição para a democracia apenas se faziam anunciar. Tempos em que ainda reverberavam os esforços da ala conservadora das forças armadas por um golpe à direita. Assim, ouvir Milton Santos falar livremente naquela ocasião foi, por assim dizer, no mínimo, estimulante. Embora essa tese designada “Os lugares da urbanização: o caso do interior fluminense”(30) não discuta o conceito de lugar objetivamente, parte de uma discussão do espaço social, de sua produção e traz embutida em si uma concepção geográfica de lugar. Essa tese é um dos marcos de minha adesão à Geografia. Influenciada pelas obras de Harvey(31), Santos(32) , Soja(33) e Lefebvre(34) , procedo à uma reflexão sobre a urbanização no interior fluminense à luz da compreensão da urbanização enquanto um fator crucial para a estruturação do território, que na atual etapa transcende os limites físicos da aglomeração. Esse estudo permitiu-me concluir, então, que a persistência da concentração urbana vis a vis a uma dispersão da ocupação de caráter urbano no território era um sinal da dissolução da dicotomia rural-urbano, que demandava a necessidade de se relativizar a onipresença metropolitana no território. ATUAÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFF Uma de minhas maiores contribuições ao Departamento de Geografia foi minha atuação ativa junto a um pequeno grupo, constituído por Ruy Moreira, Jorge Luiz Barbosa e Rogério Haesbaert, para a implantação do curso de Pós-graduação em Geografia, cuja proposta foi elaborada no decorrer de 1997 e aprovada em 1998 com conceito 4 na CAPES, sem retificações. Posteriormente, em um esforço conjunto com esses colegas, apoiei e dei suporte efetivo ao encaminhamento da proposta de doutorado, aprovada em 2001 com conceito 4. Além de haver participado de diversas comissões de seleção do mestrado e do doutorado, participei e atuei diretamente, também, em vários níveis e em momentos cruciais à implantação e consolidação prática do Programa de Pós-Graduação em Geografia, de que trato em seguida. Primeiro, assumi a responsabilidade, por vários anos (1999-2005), dos seminários basilares do Mestrado, que implicavam em uma releitura das propostas de pesquisa apresentadas pelos mestrandos, para uma apresentação coletiva. Esses seminários integravam um sistema escalonado de apresentações semestrais e se constituíram na espinha dorsal da proposta, que permanece vigente até os dias atuais, igualmente implementada no doutorado. Os seminários escalonados do mestrado e do doutorado propiciam um ambiente coletivo de discussão, troca de informações e de acompanhamento do andamento dos trabalhos finais dos orientandos, com a participação do professor orientador e demais docentes do programa. Em termos da formação propriamente dita, que compreendeu a orientação de diversos mestrandos, implantei duas disciplinas na pós-graduação, uma primeira denominada Urbanização e Ordenamento Territorial, voltada para a problemática da produção social do espaço, com base em leituras da obra de Lefebvre(35) e trabalhos de Santos, com um foco particular em A Natureza do Espaço(36) . Recentemente, implementei a leitura do Capital de Marx(37) , junto com a leitura de David Harvey(38) de modo a instrumentalizar a abordagem da contradição valor de uso-valor de troca e o fetichismo da mercadoria, para a discussão dessa contradição e desse fetichismo em relação à produção social do espaço contemporâneo. Junto com Jorge Luiz Barbosa, implementei a disciplina “Questões Ambientais Contemporâneas”. Embora essa tenha sido uma experiência exitosa, não se repetiu em função do aumento das demandas administrativas e de pesquisa, que se fizeram acumular nos períodos seguintes. Após a criação do doutorado em Geografia, em 2001, passei a fazer um acompanhamento direto de vários Seminários de Doutorado, além de haver assumido diversas orientações, ano a ano. Segundo, para assegurar a qualidade do Curso, de 1999 a 2004, atuei como representante do programa junto à Comissão de Área CAPES coordenada por Maurício Abreu e Maria da Encarnação Beltrão Spósito, onde conheci docentes de outras instituições de ensino superior, entre os quais Ana Fani Alessandri Carlos, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Francisco Mendonça (UFPR )(39), João Lima (UNESP-PP )(40), Heloísa Soares de Moura Costa (UFMG) e, anos mais tarde, Dirce Surtearagay (UFRGS )(41). Terceiro, contribui, ainda, em um esforço conjunto com meus colegas para a criação da revista Geographia, em 1999. Essa revista concebida enquanto um periódico científico com a meta de viabilizar a tradução e publicação de textos de geógrafos, a publicação de trabalhos de docentes e de discentes, bem como textos clássicos da Geografia, foi avaliada com Qualis A1 na área de Geografia. Durante a gestão de Jacob Binsztok (2006-2008) na coordenação do Programa de Pós-Graduação de Geografia, promovi a digitalização desse periódico. Desde então, este periódico se encontra totalmente digitalizado e disponível online, em uma base OJS(42). Quarto, cabe ressaltar a importância, primeiro, da orientação de dissertações de mestrado, a que se seguiram as teses de doutorado. Essa função se caracterizou pela diversidade de temas decorrente da necessidade de atender, inicialmente, em parte aos próprios professores do Departamento, bem como a professores de outros departamentos e de outras Instituições de Ensino Superior, a que se somaram candidatos oriundos da graduação da UFF, da UERJ-FFP(43) e inclusive da UFRJ, aos quais vieram depois se juntar candidatos de outros cursos de Geografia do estado do Rio de Janeiro. A criação do Doutorado em Geografia da UFF contribuiu para aumentar a projeção do Programa ao nível nacional e internacional, com o estabelecimento de diversos convênios de intercâmbio e de cooperação nacional e internacional, com países latino-americanos, africanos e europeus, com um crescente intercâmbio de alunos de diversas partes de mundo. Entre meus orientandos do mestrado, doutorado, especialização e iniciação científica destacam-se Anita Loureiro de Oliveira (mestrado), docente de Geografia Humana da UFRRJ(44) ; Antônio de Oliveira Júnior (mestrado) docente de Geografia Humana da Universidade Federal de Uberlândia; Fernando Lannes Fernandes (mestrado), Senior Lecturer in Inequalities at the Research Centre for Inequalities, University of Dundee na Escócia; João Carlos Carvalhaes dos Santos Monteiro (iniciação científica, TCC e doutorado), pós-doutorando junto a UFF; Luísa Simões (iniciação científica), que após concluir seu mestrado em Paris, se encontra concluindo seu doutoramento em Geografia na Sorbonne; Marcelo Lopes de Souza (especialização) docente da Geografia da UFRJ e pesquisador 1 do CNPq; Marcia Feitosa Garcia (especialização, mestrado e doutorado) (in memoriam) que ocupou o cargo de Gerente de Avaliação Ambiental de Projetos na Eletrobrás; Marcus Rosa Soares (monitoria, doutorado), docente do CEFET-Nova Iguaçu; Tatiana Tramontani Ramos (iniciação científica) docente de Geografia Humana na UFF – Campos; Renato Fialho Martins (CEFET- Itaguaí) e Pablo Arturo Mansilla, docente da PUC de Valparaíso, bem como outros docentes e pesquisadores provenientes de outras instituições de ensino superior, que se qualificaram junto ao nosso programa, como Regina Mattos da PUC-RIO(45), Célio Augusto Horta do Instituto de Geociências da UFMG; Aldo Souza do CEFET-Belém, Regina Esteves Lustoza da UFV(46) e Josélia Alves docente da UFAC(47) entre muitos outros(48) , inclusive participantes de convênios de intercambio. Quinto, embora estivesse impedida, em 1998, de assumir a subcoordenação do programa, por me encontrar em regime probatório, assumi diversas tarefas relativas a esse cargo até meados de 2002. De 2002 a 2004, assumi de forma efetiva a (sub)coordenação da pós-graduação com Carlos Walter Porto Gonçalves, enquanto coordenador. A partir de 2007 voltei a dar suporte à coordenação do programa, então sob a gestão de Jacob Binsztok. E, de meados de 2008 até meados de 2010, assumi a coordenação, junto com Nelson Fernandes, ocasião em que o Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFF alcançou o conceito 6 junto a CAPES, o qual mantém até hoje. Sexto, contribui para com o departamento e o Programa de Pós-graduação em Geografia através da implementação de convênios e de acordos interinstitucionais relativos a formação de quadros qualificados (DINTER(49) informal com a UENF-Campos (2008)(50); DINTER-CAPES com a UNEMAT(51) e UFMT(52) (2010-2013), coordenado por Sandra Baptista da Cunha e Jacob Binsztok durante minha gestão, e implementação de uma política de cooperação e solidariedade interinstitucional através do PROCAD-NF tripartite com a pós-graduação em Geografia da UFPA(53) e da UNESP-PP (2009-2014), coordenado por mim, por Janete Gentil de Moura da UFPA e por Antônio César Leal da UNESP-PP, a que se soma o edital Casadinho com a UECE(54) , coordenado por Denise Elias. Dessas cooperações resultou um intercâmbio de docentes e discentes, que contribuiu para uma rica troca de experiências. Soma-se a essas experiências a interação entre o mencionado PROCAD-NF de Geografia da UFPA com o PROCAD-NF de Economia da mesma universidade, que promoveu a integração de docentes de todos os cinco programas envolvidos (Geografia da UFF, da UNESP-PP, da UFPA e Economia da UNICAMP(55) e da UFPA) em um Seminário realizado na UFPA com o apoio do CORECON-PA(56) em dezembro de 2010, coordenado por Carlos Antônio Brandão da UNICAMP. Sétimo, em termos da internacionalização do programa, além das iniciativas de meus colegas, cabe, em parte, uma responsabilidade minha nos laços estabelecidos com a Universidad de Barcelona, graças a um estágio de pós-doutorado realizado naquela universidade, junto ao professor Horacio Capel, entre 15 de julho de 2005 e 31 de março de 2006. Embora estivesse debilitada em razão de sérios problemas de saúde, este estágio foi extremamente profícuo e contribuiu, posteriormente, para diversos estágios de doutorado-sanduiche de nossos alunos da pós-graduação, bem como para a realização de estágios pós-doutorais de outros colegas. No âmbito dessa cooperação recebemos Paolo Russo da Universidad de Tarragona, que ministrou aulas no Programa de Pós-graduação em Geografia da UFF. Em 2016, graças às relações estabelecidas com a Universidade de Leiden (Holanda) conduzi as negociações para o estabelecimento de um convênio de intercâmbio e cooperação acadêmico interinstitucional com a UFF. ATUAÇÃO NA GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA Somam-se às atividades no programa de pós-graduação em Geografia minha dedicação à graduação em Geografia (bacharelado e licenciatura). Destacam-se entre outras atividades: Primeiro, a montagem e implementação do Programa Especial de Treinamento (PET) da CAPES, em conjunto com Jorge Luiz Barbosa e Rogério Haesbaert, esse PET segue em operação, congregando alunos bolsistas e não-bolsistas, com o objetivo de formar e preparar estudantes da graduação para o mestrado. Segundo, participei, em termos institucionais, ao longo de toda a minha trajetória acadêmica junto ao Departamento de Geografia de diversas comissões relacionadas à reestruturação curricular do curso de graduação em Geografia, informatização, alocação de vagas docentes, bem como de instâncias institucionais com destaque para o Colegiado do Curso de Graduação em Geografia, a Câmara Técnica de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, bem como do Colegiado do Instituto de Geociências, entre outras representações. Terceiro, em meus primeiros anos no Departamento de Geografia ministrei um carrossel de disciplinas(57) que levaram-me a aprofundar a reflexão geográfica vis ao vis ao desenvolvimento de pesquisas diversas e a familiarizar-me com o pensamento geográfico, com destaque para as obras e as contribuições de meus colegas(58) , bem como com a produção cientifica de um amplo repertório de geógrafos nacionais(59) , com a obra de geógrafos estrangeiros atuais(60) e de autores clássicos da Geografia(61). Quarto, desde meu ingresso no departamento de Geografia em 1º de agosto de 1995, participei de bancas de trabalho de conclusão de curso, orientei trabalhos de conclusão de curso em um amplo espectro de temas, bem como trabalhos de vários bolsistas de iniciação científica e de iniciação à docência (monitoria) que fizeram parte de meu grupo de pesquisa GECEL (Grupo de Estudos de Cidade, Espaço e Lugar), cadastrado junto ao CNPq. Muitos desses orientandos, posteriormente, ingressaram na pós-graduação e encontram-se inseridos em instituições de ensino superior ou em órgãos de pesquisa. Quinto, atuei efetivamente na seleção de novos docentes para o Departamento de Geografia, enquanto presidente de três bancas de seleção de provimento de vagas para professor adjunto de Geografia Humana e Econômica com ênfase em Brasil. Enfim, cabe ressaltar, que entre 1º de agosto de 1995 a 17 de agosto de 1998, estive vinculada ao departamento de Geografia em caráter precário. Primeiro, como professora substituta 20 horas (de 1º de agosto de 1995 a 31 de julho de 1996); depois como professora horista 15 horas na especialização. De meados de 1997 a 1998, passei a receber uma bolsa CNPq de Recém-Doutor em Geografia com o projeto Dinâmicas locais e regionais no sul fluminense - complexos de rede empresarial e o Porto de Sepetiba(62). 1998 era um ano eleitoral, em que Fernando Henrique Cardoso concorria à reeleição, embora fosse um momento que, aparentemente, não haveriam mais concursos, nem contratações, a UFF recebeu uma pequena quantidade de vagas docentes e uma foi alocada ao Departamento de Geografia. Após a realização do concurso em maio de 1998, fui aprovada em 1º lugar, e efetivada no cargo de Professor Assistente I de Geografia em 17 de agosto de 1998 e promovida a Professor Adjunto I em 20 de agosto de 1998. Um produto desse concurso foi a editoração junto com Rogério Haesbaert da prova de aula realizada, que resultou no artigo “O território em tempos de globalização”(63). ATUAÇÕES DIVERSAS E PROJEÇÃO EXTERNA Contribui, também, para a projeção externa do programa e para suas relações interinstitucionais ministrando cursos em Instituições de Ensino Superior no Brasil e no exterior, colaborando com Programas de Pós-graduação em Geografia de outras universidades, dando palestras, conferências, participando de semanas de Geografia, comemorações do dia do Geógrafo e realizando Aulas Magnas. Entre as quais se destacam: • as relações estabelecidas com o departamento de Latin American Studies, que abriga a cátedra Rui Barbosa, sob a coordenação da professora Marianne Wiesebron, que assumi na Universidade de Leiden, na Holanda, uma das mais antigas universidades da Europa, de 1º de fevereiro a 30 de abril de 2014, que contribuiu para darmos inicio a uma cooperação mais estreita e a realização de um convênio amplo de intercâmbio e cooperação. No âmbito desta estadia ministrei palestras nos programas de pós-graduação da Universidade de Amsterdã e na Universidade de Cardiff. • o curso de pós-graduação de curta duração no Mestrado em Estudios Urbanos da Universidad Nacional da Colombia, em Medellín, em março de 2012. • as Aulas Magnas nos programas de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em 2008, em Francisco Beltrão e da Universidade Federal de Pernambuco, em 2013. • a colaboração, participação em eventos, disciplinas ou palestras em outros os programas de pós-graduação (de Geografia da UNESP-PP, UFMG, UFPA, da UFPB; de Economia da UNICAMP e do CEDEPLAR (UFMG); de Planejamento Urbano e Regional do IPPUR-UFRJ, entre outros. • a participação em mesas redondas de comemoração de Semana de Geografia de diversos programas de pós-graduação (UFSJ, em 2014; UNESP-Rio Claro, em 2011; UNICAMP, em 2008, entre outras). • a atuação ativa no projeto de extensão, sob a coordenação de Jorge Luiz Barbosa, que resultou na Implantação e Ampliação do Polo Universitário da UFF em Volta Redonda; • a participação em bancas de concurso docente de Geografia na USP e na UFPE; • a participação em bancas de professor livre-docente na Geografia da USP e na Ciências Sociais da UNICAMP • a participação em bancas de professor titular em Geografia Humana, Geografia Física e Geoprocessamento na UFSC, UFPB, UFU. • a participação em bancas de professor titular de Ciências Sociais, Antropologia Social, Psicologia Social e Filosofia na UFSC. • a participação em mesas redondas em diversos eventos nacionais, internacionais, bem como em eventos de cunho local e regional promovidos nas áreas de Geografia e de Planejamento Urbano e Regional; • a colaboração e participação em comitês científicos, em comissões organizadoras e em advisory boards de eventos nacionais e internacionais da área de Geografia e de áreas correlatas. • a atuação como consultora ad-hoc em comissões editoriais de diversos periódicos científicos nacionais e internacionais; • a representação do programa de pós-graduação em reuniões da AGB(64) nacional e da ANPEGE(65) , e a participação enquanto convidada de mesas-redondas em Encontros Nacionais de Geógrafos, em Seminários itinerantes temáticos, entre os quais se destacam os Simpósios de Geografia Urbana (SIMPURB). A que se soma a coordenação, organização de grupos de trabalho em simpósios temáticos (SIMPURB) e encontros nacionais da pós-graduação em Geografia; • a participação nas Conferências Internacionais de Americanistas nos grupos de Sandra Lencioni e Sonia Vidal Koopmann, de Ana Fani Alessandri Carlos e Alicia Lindon. • a cooperação com outros programas de pós-graduação em Geografia para a definição de formas de melhoria das condições da pós-graduação. Assim como a colaboração ativa com associações nacionais de pesquisa e pós-graduação, implementando a filiação e associação do programa, com a promoção de eventos e fomento à pesquisa. Destaca-se nesse sentido à filiação e atuação ativa do programa e minha junto ao CLACSO(66) , à ANPEGE e à ANPUR, bem como junto à AGB. Enfim, em termos da projeção externa, enquanto docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia, cabe um item aparte para minha atuação junto à ANPUR, que me obrigou a retomar questões do planejamento urbano e regional. Esse período de certa maneira contribuiu para uma retomada renovada de minhas pesquisas na Geografia, conforme veremos adiante. INTERMEZZO: ANPUR Participei da ANPUR desde o seu I Encontro Nacional, com a apresentação de trabalhos e organização de sessões livres, com um breve intervalo entre o IV e o VII Encontro Nacional, em razão da tese de doutorado. Minha participação se torna mais ativa em termos institucionais, após 2005, com a filiação do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFF. Ao final do XIV encontro foi eleita uma chapa para a gestão 2011-2013, com Ana Clara Torres Ribeiro como presidente e eu na qualidade de secretária executiva-nacional, além de cinco outros diretores. Com seu falecimento precoce, em 09 de dezembro de 2011, assumi a presidência da ANPUR até 31 de julho de 2013. Durante a gestão da ANPUR participei de inúmeros eventos e mesas-redondas no Brasil e no exterior. Organizei com os demais membros da comissão organizadora, durante esse período a editoração e publicação da coleção ANPUR(67) , compreendendo as contribuições das mesas redondas do XIV Encontro Nacional, uma homenagem a Ana Clara Torres Ribeiro, a tese e a dissertação premiadas, a que se somam as contribuições do Simpósio organizado no âmbito da 65ª reunião anual da SBPC(68) em Recife. Viabilizei com base no trabalho desenvolvido na gestão de Leila Cristina Duarte Dias (2009-2011) a disponibilização online de todo o acervo de anais da ANPUR sob o formato OJS, apoiei e dei suporte à atualização da Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, sob a editoria de Carlos Antônio Brandão (2012-2014). O período de 2011 a 2013, na ANPUR foi marcado por intensas atividades relacionadas ao ensino, ao fomento e, em especial, à representação e participação em órgãos de governo, em que se destacam a participação na comissão da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional e subsequente participação na mesa de abertura da Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional do Rio de Janeiro, a participação na Comissão de Representantes de Associações Nacionais de Pesquisa e Pós-Graduação criada por Marcio Pochmann no IPEA(69) . Somam-se a estas atividades a interlocução com o Centro Celso Furtado, com o Observatório de Desenvolvimento Regional da UNISC(70) e com a Rede Brasileira de Cidades Médias (RCM) coordenada por Marcos Costa Lima (UFPE). A gestão da ANPUR foi um período marcado pela retomada da questão regional na pauta de preocupações e de formulação de políticas por parte do governo federal. Nesse sentido o I Seminário de Desenvolvimento Regional, Estado e Sociedade (SEDRES), organizado por Rainer Randolph, abriu um espaço de interlocução das questões regionais entre os programas de pós-graduação e órgãos institucionais de governo, havendo participado de suas duas primeiras edições. Dentre as muitas atividades associadas à gestão da ANPUR, quatro merecem um olhar especial. A primeira refere-se à organização por mim e pelo secretário-executivo, Benny Schvarsberg junto com um grupo de docentes da UNB, do VI Seminário Nacional de Avaliação do Ensino e da Pesquisa em Estudos Urbanos e Regionais em Brasília, que reuniu representações das áreas de geografia e de planejamento urbano na CAPES e no CNPq, com mesas de debates sobre questões relacionadas ao ensino e à pesquisa em planejamento urbano e regional. A segunda diz respeito, ao Simpósio ANPUR-SBPC, organizado por mim e Edna Castro (NAEA-UFPA)(71) realizado em Recife, durante a 65ª Reunião Anual da SBPC, que deu origem ao livro “Um novo planejamento para um novo Brasil?”(72) . Esse seminário permitiu reavivar e estreitar os laços da ANPUR com outras entidades científicas, bem como para que a ANPUR alcançasse uma explicitação maior de sua interdisciplinaridade, através da articulação das contribuições dos pesquisadores de diferentes campos do conhecimento que a integram. E, também, facultou aos membros da ANPUR refletir e se posicionar crítica e politicamente frente às jornadas de junho-julho de 2013, o que me levou, então, a alertar para o perigo da radicalização à direita, dada a ausência de vínculos partidários. A terceira é relativa ao estabelecimento de uma interlocução com outras associações nacionais de pesquisa e de pós-graduação (com destaque para a ANPEGE, ANPOCS(73) , ABEP(74) e ANPARQ(75) ) em torno de questões comuns como as limitações à participação no programa Ciências sem Fronteiras e a demanda por uma Diretoria de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E, em quarto lugar, merece destaque a projeção internacional da ANPUR, através do apoio ao Programa Atílio no âmbito dos diálogos França-Brasil e da participação nas reuniões do GPEAN realizadas em Lausanne (2012), em Recife (2013) e em Dublin (2013), que possibilitaram trazer para o Rio de Janeiro a realização do IV World Planning Schools Congress em 2016, organizado por uma missão organizadora, da qual fui parte integrante, sob a coordenação do IPPUR-UFRJ. A gestão da ANPUR além de haver possibilitado um maior contato com os programas da área de Desenvolvimento Regional permitiu-me perceber suas interações com a Geografia, abrindo diversas possibilidades de trabalho conjunto entre os programas de ambas as áreas, além de haver contribuído para ampliar as possibilidades de inserção e de projeção dos docentes e pesquisadores dos programas-membro. As atividades e interações desenvolvidas nesse período tiveram um desdobramento em minha produção acadêmica e atividades de pesquisa como veremos a seguir. PESQUISAS EXPRESSIVAS QUE MARCARAM O PERFIL ACADÊMICO A atividade de pesquisa sempre foi, junto com a docência, parte fundante de minha trajetória acadêmica, embora desenvolvida de forma intermitente. Ganha corpo maior após o mestrado e se desenvolve initerruptamente após o doutorado e o ingresso no Departamento de Geografia da UFF. A atividade de pesquisa inicia-se com estágios diversos(76) e ganha corpo com o Grupo de Políticas Urbanas, bem como com a pesquisa para a dissertação de mestrado, que resultou, também, na colaboração com a revista Espaço e Debates e organização de seu 2º número, onde foi publicado o artigo "Um Subsídio ao Debate sobre a Ação do Estado em Favelas: Rio de Janeiro – 1980”(77) . Esta colaboração estendeu-se do primeiro ao sexto número, de janeiro de 1981 a setembro de 1982. Merece menção especial, nesse período, uma consultoria realizada com Rainer Randolph, em 1986, para a ANPUR/CNPQ/BNH/ FINEP/CNDU, que se consubstanciou no relatório "Balanço Quantitativo da Produção Técnico-Científica em Planejamento Regional, Urbano e Habitacional”(78) , que contribuiu para delimitar as áreas de interesse da ANPUR e da ANTAC(79). Este balanço foi apresentado(80) na mesa de abertura do 1º Encontro Nacional da ANPUR, em que igualmente participei com Ana Clara Torres Ribeiro como relatora do grupo de trabalho de Planejamento Urbano(81). A esta seguiram-se outras participações como pesquisadora colaboradora em pesquisas já mencionadas, que contribuíram para diferentes olhares e enfoques sobre questões relativas à urbanização(82), à questão urbano-ambiental(83) , que influíram na minha pesquisa de doutoramento (1990-1995) e depois se desdobraram em apresentações de trabalhos, em publicações(84) e em projetos de pesquisa por mim coordenados, a partir de 1997, com fomento do CNPq. A tese teve por suporte teórico-conceitual a reflexão sobre o espaço, urbano e a urbanização, considerando as limitações impostas pelo desenvolvimento do capitalismo, na fase da acumulação flexível, à reprodução ampliada especializada do capital e do trabalho, que se expressam na distribuição e localização espacial da população e das atividades produtivas e nos esforços para maximizar as respectivas mobilidades espaciais, em diferentes escalas articuladas. A tese aponta para uma tendência crescente à diferenciação e complexificação da rede urbana fluminense, com a especialização dos lugares. Tais processos vieram a confirmar, ainda que parcialmente dada a desatualização dos dados econômicos, que a disseminação no território de relações espaciais e sociais de produção de caráter urbano tendem a conferir ao urbano uma amplitude territorial, que transcende aquilo que percebemos como "perímetro urbano"(85). O urbano poderia, assim, ser considerado não-simultaneamente tanto o lugar da reprodução das relações de produção, referentes aos bens e meios de produção, quanto o lugar da reprodução da força de trabalho. A difusão destas e de novas formas de organização do espaço colocaram "na ordem do dia" a reflexão da constituição de novas formas de regionalização do território e da sociedade, a partir da conformação de distintos níveis de redes de interações entre lugares diversos. E, tornavam perceptível uma modificação no perfil contemporâneo da urbanização brasileira, questão que perpassa o meu universo de preocupações até o presente. Um olhar retrospectivo às pesquisas que desenvolvi nos últimos vinte e cinco anos, permite distinguir três grandes eixos de preocupação: um primeiro direcionado a reflexão da urbanização, enquanto um processo de estruturação do espaço; um segundo dedicado a uma reflexão teórico-conceitual das obras de Lefebvre, e ao debate em torno da produção social do espaço e do cotidiano; e, um terceiro relacionado à questão socioambiental, para apreender a nova qualidade da urbanização, em razão de sua dispersão, em um esforço para resgatar a visão holística da Geografia a partir da compreensão de que não há mais como tratar da urbanização sem considerar a questão ambiental. A esses eixos, mais recentemente, se soma uma retomada da reflexão sobre o Estado capitalista e o caráter da financeirização do espaço, que se junta ao segundo eixo enquanto base para a reflexão sobre a urbanização e a questão ambiental intrínseca à produção social do espaço. Esses eixos se entrelaçam, se desenvolvem em paralelo, se complementam, se alimentam entre si e ao longo de minha trajetória ganham diferentes ênfases, em que uns permanecem subjacentes aos outros, como explicito a seguir. No âmbito do primeiro eixo, até 2005, se alternam projetos seja com um enfoque relacionado à dinâmica demográfica, sob a ótica da lógica da reprodução social da força de trabalho, seja com uma abordagem, relacionada à dinâmica econômica sob a lógica da reprodução dos meios de produção e do capital. Nesse eixo concentra-se boa parte de meu esforço de pesquisa e contei com a valiosa interlocução e apoio de Arlete Moysés Rodrigues, Doralice Satyro Maia, Heloisa Costa, Jan Bitoun, Maria da Encarnação Spósito, Sandra Lencioni, entre muitos outros docentes e pesquisadores preeminentes da área. A reflexão relativa ao 2º eixo se desenvolve em paralelo aos projetos de pesquisa, no âmbito das atividades do Grupo de Estudos Cidade, Espaço e Lugar (GECEL-CNPq); da organização ininterrupta, nos últimos vinte anos, de sessões livres nos Encontros Nacionais da ANPUR, que propiciaram a interlocução e colaboração profícua, direta e indireta, com pesquisadores de diversas instituições, com destaque para Amélia Luísa Damiani, Ana Fani Alessandri Carlos, Geraldo Magela Costa, Ivaldo Lima, Orlando Alves dos Santos Júnior, Rainer Randolph e Roberto Luís Monte-Mór, entre muitos outros. Essa cooperação resultou na produção de artigos, capítulos de livros, bem como na organização de uma coletânea com reflexões sobre as contribuições da obra de Lefebvre(86). Na tese privilegio o primeiro eixo conjugado ao segundo eixo, enquanto que os projetos de pesquisa subsequentes se consubstanciaram em publicações e deram ênfase ao enfoque econômico, às redes sociais e informacionais e ao papel das tecnologias de informação e comunicação na organização do espaço(87). Esse interesse pelas tecnologias de informação teve por base as proposições de Milton Santos(88) relativas à conformação de novas redes e emergência de novas formas de regionalização em virtude das verticalidades propiciadas pelo meio técnico científico informacional. A abordagem das tecnologias de informação levou a uma retomada do contato com Susana Finquelievich. E, de 1998 a 2005, realizei diversas missões de intercâmbio, com interações com o Instituto Gino Germani da Universidad de Buenos Aires, com a Universidad de Quilmes, com a rede Montevideo de investigadores e a uma participação na Red de Posgrados sobre Desarollo y Politicas Territoriales y Urbanas de los Países del Cono Sur(89). Em paralelo, aprofundei as pesquisas relativas à dinâmica econômica do Sul Fluminense. Após 2006, o objeto de referência amplia-se. Passei a considerar, então, outras áreas do estado do Rio de Janeiro(90) , o que contribuiu para confirmar algumas hipóteses relativas à crescente tendência de dispersão espacial da população e das atividades produtivas fora da malha urbana consolidada(91). Entre as atividades desenvolvidas entre 2003 e 2005, destaca-se o Seminário Brasil Século XXI: agentes, processos e escalas, que deu origem a uma coletânea de mesmo nome organizada por mim, Rogério Haesbaert e Ruy Moreira no âmbito do projeto do “Indústria Fluminense, Desigualdade Espacial e Economia Globalizada ”, o qual teve seguimento com o Projeto “Dinâmicas Espaciais e Regionalização no Sudeste Brasileiro”. Após 2006, começo a efetivamente articular o primeiro e o segundo eixo, com a incorporação, ainda que, de forma subjacente da questão ambiental (3º eixo). No âmbito do 1º eixo tendo por foco a problemática da urbanização e da produção do espaço colaborei, como consultora eventual nos encontros da Rede de Cidades Médias (RECIME), coordenada por Maria da Encarnação Beltrão Spósito, com a Rede Brasileira de Cidades Médias (RBCM) coordenada por Marcos Costa Lima (IFCH-UFPE); havendo participado da pesquisa interinstitucional coordenada por Nestor Goulart Reis Filho (FAUUSP) (2006-2010). Essas cooperações resultaram em diversas apresentações de trabalho, publicações em periódicos e capítulos de livros(92). A articulação entre as preocupações relativas à urbanização (1º eixo) e a produção social do espaço (2º eixo) resultou em algumas publicações(93) expressivas para mim. Essa reflexão se expressou nas investigações subsequentes relativas a urbanização, a relação urbano-rural, ao papel das grandes corporações e do Estado no processo de urbanização, o que me conduziu à discussão da financeirização do espaço social e as questões relativas à neoliberalização, que me permitiu articular à discussão anterior a reflexão relativa ao terceiro eixo, e ao caráter estratégico que assume a totalidade do espaço para a acumulação de capital na contemporaneidade. O terceiro eixo desenvolve-se de forma subjacente aos dois primeiros, havendo resultado em uma produção substancial(94) com participações e apresentação de trabalhos em eventos nacionais e internacionais, bem como em publicações em periódicos nacionais e internacionais sobre o controverso tema da sustentabilidade ambiental e às limitações da regulação legal, contando com poucos interlocutores. Nos últimos anos tenho buscado articular este eixo com o primeiro eixo da urbanização, que se explicita em alguns trabalhos(95) relacionados ao impacto da expansão das atividades de turismo receptivo de porte internacional em áreas de preservação permanente e de proteção ambiental, com apresentações de trabalho em eventos nacionais, internacionais e com a publicação de artigos. Nesse interim, cabe menção ao pós-doutorado em Geografia Humana na Universidad de Barcelona, de 2005 a 2006, que contribuiu para a mudança de tom, de abordagem e de escala de análise e de reflexão. Esse estágio colocou-me em contato com diversos docentes de Geografia Humana da Universidad de Barcelona e de outras universidades catalãs, viabilizando um rico intercâmbio de ideias e de experiências. Durante o pós-doutorado, Horacio Capel me instigou a articular a reflexão teórica com acontecimentos e fatos contemporâneos correntes, bem como a adotar uma escrita mais solta e irreverente. Desse encontro entre dois desconhecidos, proporcionado por Ivaldo Lima um colega do Departamento de Geografia, resultou uma amizade duradoura e uma colaboração continua desde então. Destaca-se, entre os trabalhos publicados no decorrer do pós-doutorado(96) o artigo Paris em Chamas, que conquistou o III Prêmio Milton Santos da ANPUR, e foi publicado no 3º volume dos “Dialogues in Urban and Regional Planning”(97). A partir de 2006 há uma gradual mudança na escala de abrangência geográfica da reflexão na investigação e produção acadêmica, que se inicia com o interior fluminense e o território do estado do Rio de Janeiro, para após 2009, passar a enfocar o Brasil e pontos selecionados do território fora das áreas metropolitanas, embora, se detenha sobre estas de modo a proceder a uma diferenciação entre áreas metropolitanas e áreas de urbanização dispersa, que tendencialmente conformam arquipélagos urbanos. Para tanto, contribuiu sobremaneira a interlocução com Ana Fani Carlos, Maria da Encarnação Spósito, Sandra Lencioni, Roberto Monte-Mór e Ruy Moreira. A mudança de escala de abrangência geográfica constituiu mais um passo na construção do objeto de reflexão: a urbanização, enquanto um esforço de compreensão da produção do espaço social. Construção que perpassa as várias fases e projetos de pesquisa, que demandou a aproximação de casos, por assim dizer, paradigmáticos. Essa mudança foi um meio de contornar as limitações impostas pelo estudo de um ou outro caso particular, tomando como referência de análise casos diversificados para gerar um quadro referencial mais complexo. Isso demandou, também, uma mudança da escala de reflexão, uma vez que entram em pauta outros processos mais gerais, que articulam o local ao global, ao mesmo tempo em que o papel do Estado, das corporações e dos grandes atores globais se faz mais presente. Em consequência, isso me levou a retomar e atualizar a reflexão sobre o Estado capitalista, que permaneceu subjacente, adormecida, desde o final da década de 1980, quando ingressei no doutorado da FAUUSP. Essa retomada da reflexão do Estado, veio acompanhada por uma discussão sobre as teorias do desenvolvimento, sobre o novo desenvolvimentismo e seu papel no planejamento. Resgatei, assim, as contribuições subsequentes ao Estado, o Poder e o Socialismo de Poulantzas, à L’Etat de Lefebvre, a que se somam as leituras das obras de Jessop, Brenner e Peck, entre outros autores. A retomada do papel do Estado e do planejamento na organização do espaço brasileiro teve por base um intenso acúmulo de leituras desde o mestrado, havendo resultado em publicações e participações em mesas-redondas em eventos nacionais e internacionais(98), que buscam conjugar a interação Estado-planejamento e a produção do espaço social. Esforço em que se insere o grupo de trabalho da ANPEGE Planejamento, Gestão e Produção do Espaço, que conta com Heloisa Costa, Adriana Bernardes, Cesar Simoni Santos, Paola Verri Santana e Tadeu Alencar Arrais. Essa constelação de fatores contribuiu para a inserção da reflexão do papel do Estado e do planejamento na urbanização, de modo a alcançar uma compreensão e esboçar um quadro inicial das tendências recentes da urbanização brasileira a partir de uma perspectiva crítica. Perspectiva que não se esgota, seja em razão de sua complexidade, seja por unir e possibilitar a convergência dos vários eixos de preocupações de pesquisa assinalados, que se expressam em diferentes momentos de meu percurso acadêmico e intelectual. A necessidade de rigor teórico e conceitual nesse sentido foi fundamental, ainda mais, considerando que, aparentemente, ao menos ao nível técnico e político-administrativo tudo se tornou metropolitano, sem efetivamente o ser. Soma-se a isso a preocupação com a relação rural-urbano, com as mudanças nas relações de centralidade, seja como elemento diferencial, seja com base no aprofundamento da divisão territorial e social do trabalho. Há que se considerar nas mudanças nas relações de centralidade e na organização territorial do espaço urbano o papel dos rearranjos políticos e espaciais, os quais evidentemente não se dão por si só, mas através das articulações entre diferentes agentes econômicos e o Estado, em particular o BNDES, enquanto agente financiador das ações de diversos agentes corporativos em diferentes escalas na última década e, em particular, das grandes empreiteiras. Isso vai ao encontro da ideia de Ribeiro e Dias(99) que ressaltam a necessidade de se “ (...) reconhecer, em qualquer escala, a existência de campos (ainda que frágeis) de poder, agentes econômicos e atores políticos que contribuem, com mais ou menos intensidade, para estabilizar ou desconstruir a própria escala que sustentou a sua emergência e/ou afirmação”. Salientam ainda que se multiplicam os processos em rede com a composição de “novos contextos de relações societárias” e a construção de arenas políticas, ainda que que efêmeras, que se contrapõem à ideia de uma totalidade homogênea inelutável, em que tudo estaria dado e pré-definido. A questão é que não só o espaço emerge como fator estratégico, mas a escala assume um novo significado. E isto se evidencia em minhas pesquisas, uma vez que os processos analisados apontam para a ação de atores sociais e de agentes econômicos e políticos em diferentes escalas e esferas de reprodução social. E, é nesse contexto, que se insere a preocupação agora com o Estado capitalista, com o planejamento e a organização do espaço, com foco no processo de urbanização. Voltei, assim, à discussão do Estado, a partir de uma perspectiva, mais complexa, em que se insere a discussão da produção social do espaço e da urbanização, vis a vis ao papel de grandes agentes corporativos. Em uma tentativa de inter-relacionar os três grandes eixos de preocupações assinalados. O esforço de síntese tinha por norte geral e mais amplo procurar compreender de forma mais abrangente as tendências recentes da urbanização brasileira de modos a alcançar elementos que permitissem pensar em novas formas de regular e controlar a ocupação desenfreada do território e seus impactos sobre o meio ambiente(100). Antes de ser concluída a investigação sobre os novos destinos urbanos e o papel das corporações na configuração da urbanização, esta foi, de certa forma, atropelada pelo desenrolar dos acontecimentos e pela mudança da conjuntura política e econômica nacional, que já se desenhava ao fim de 2015, um indicativo de que, aparentemente, me encontrava em um rumo acertado. A crise política que se abateu, em 2015-2016, sobre o país e envolveu as grandes empreiteiras colocou em um segundo plano as questões relativas à formação de aglomerados urbanos associados a grandes projetos e evidenciou a necessidade de se refletir sobre o caráter do Estado capitalista nesta fase neoliberal, e sobre a natureza da neoliberalização do espaço enquanto uma política de Estado. O subsequente impedimento da presidente Dilma Roussef e deslanchamento da crise econômica evidenciaram que vivemos um momento de incertezas e de mudanças. Mudanças políticas e econômicas que mexem com as várias dimensões e esferas da vida social. E, que a um só tempo revelaram as fragilidades e puseram em xeque as instituições democráticas, com a destruição de conquistas sociais seculares e a dilapidação dos recursos naturais. Esses acontecimentos revelaram imbricações e articulações espúrias, em diferentes escalas e esferas, que puseram a nu a promiscuidade, que já se desenhava, entre diversos capitais nacionais e internacionais com o aparelho de Estado. Destarte, ainda na perspectiva de entender a urbanização enquanto um processo de produção estruturante da organização social do espaço, que orientou nossas investigações nos últimos anos, pareceu-me imperativo, em razão das mudanças na conjuntura política e econômica, avançar e ampliar o olhar para pensar as especificidades da produção neoliberal do espaço na contemporaneidade e o papel desempenhado, contraditoriamente, pelo Estado. Essa segunda década do segundo milênio encerra-se em um momento de inflexão política e econômica, marcado por uma reversão de políticas sociais, mudança das prioridades de investimentos e retomada radical de ideários e postulados neoliberais, que privilegiam as elites, mantém a dominação social dos trabalhadores, com a ampliação da pobreza e crescente redução das possibilidades de mobilidade social. A crise que o país atravessa é reveladora, pois obriga os setores hegemônicos a se rearticular em diferentes escalas, pondo a nu alianças e coalisões entre os setores público e privado. No corolário dessa mudança de rumos, alterou-se a inserção do Brasil no cenário mundial. As relações Norte-Sul passaram a ser priorizadas, com a subordinação dos interesses nacionais às potências hegemônicas, em detrimento das relações Sul-Sul. Essa reflexão, igualmente resultou em publicações sobre a urbanização em escala regional (101) e em ensaios que articulam os três eixos com a inserção de questões relativas ao papel da utopia e a alternativas possíveis, à sustentabilidade, ao comum urbano, a decolonialidade e interculturalidade no âmbito da financeirização do espaço e da perspectiva de construção de uma sociedade mais equânime(102). E, PARA ENCERRAR: TRILHO CAMINHOS, SEM SABER O DESTINO Ao finalizar essa memória, percebo a incompletude dos caminhos trilhados até aqui, os quais abrem diversos destinos possíveis. Já dizia Fernando Pessoa: “navegar é preciso, viver, não é preciso”. A vida não é exata, nem precisa, ao contrário da navegação, e sua beleza reside exatamente nessa imprecisão. A inquietação, o desejo de entender e de compreender o que ocorre para pensar, para contribuir com possibilidades de mudança social na perspectiva de construção de uma sociedade mais equânime, de cidades para os cidadãos permanecem vivas. O impacto civilizatório do capitalismo contribuiu para um aprofundamento das diferenças, para uma cisão em termos de distribuição espacial da riqueza, do saber e das condições de vida da população. Padecemos de uma modernização incompleta, que nos faz parecer a Bélgica e a Índia ao mesmo tempo. Ou como diriam Gil e Caetano em uma de suas músicas, o Haiti é aqui. Encerro com algumas palavras de Milton Santos “de um ponto de vista das ideias, a questão central reside no encontro do caminho que vai do imediatismo às questões finalísticas. De um ponto de vista da ação, o problema é superar as soluções imediatistas, eleitoreiras, lobistas, e buscar remédios estruturais duradouros”(103). E, nessa perspectiva cabe buscar conciliar diferentes visões, encontrar novos patamares de entendimento, trilhar novos caminhos com o horizonte de avançar rumo a uma sociedade mais equânime. NOTAS 1- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 2 - LEFEBVRE, H. O direito à cidade. São Paulo: Documentos, 1969. 3 - ASCHER, F. Los nuevos principios del Urbanismo. Madrid: Alianza, 2007, p. 42. 4 - Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica. 5 - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. 6 - PIAGET, J. Problemas gerais da investigação interdisciplinar e mecanismos comuns. Lisboa: Bertrand, 1973: e estabelece que a multidisciplinaridade consistiria em adotar a partir de uma disciplina elementos de outras disciplinas, que se mantém estanques entre si; a interdisciplinaridade compreenderia o diálogo, interação e troca de conhecimentos entre diferentes disciplinas, a partir de uma base metodológica comum; ao passo que a transdisciplinaridade consistiria em uma abordagem que atravessa diversos campos disciplinares com foco em um objeto comum e, por vezes, com a formação do que poderia se caracterizar de uma meta-disciplina 7 - Comando de Caça aos Comunistas, organização paramilitar armada de direita. 8 - Palestra “Para pensar a identidade social”, Mesa redonda: “Sujeitos sociais e identidades na Amazônia” no Encontro da Sociedade Brasileira de Sociologia, 2010. 9 - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 10 - União Estadual dos Estudantes. 11 - União Nacional dos Estudantes 12 - Faculdade de Filosofia e Letras Ciências Humanas. 13 - LIMONAD, E. Situação Atual da Habitação Popular no Brasil. São Paulo, Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Mackenzie, 1977. 14 - LIMONAD, E.; ECKSCHMIDT, G. Elementos para a Análise da Intervenção do Estado no Setor de Auto construção. São Paulo, Monografia Especialização. URPLAN PUCSP,1978. 15 - I PND – Plano Nacional de Desenvolvimento implementado durante o governo do presidente general Emilio Médici. 16 - Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 17 - LIMONAD, E. A Trajetória da Participação Social, Rio de Janeiro, Dissertação de Mestrado, Programa de Enge¬nharia de Produção / COPPE - UFRJ, 1984 . 18 - Entre outras atividades o grupo de políticas urbanas colaborou para a realização do debate sobre o Anteprojeto de Lei promovido pelo Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro e pelo PUR / UFRJ, realizado em 17/08/82 no Instituto dos Arquitetos do Brasil, Seção Rio de Janeiro; elaborou o artigo "Uma lei para cidades sem pobres", publicado no "Jornal do Comércio" do Rio de Janeiro em 01 e 02 de agosto de 1982 (cópia no Dossiê - vide item 4) e organizou a jornada de política habitacional com a Prof. Lata Chaterjee da Boston University em 16 de agosto de 1982. 19 - LIMONAD, E.; BARBOSA, E.F. (org.) Dossiê - Anteprojeto de Lei do Desenvolvimento Urbano, Rio de Janeiro, Publicações PUR/UFRJ, série documentação no 4,1983. 20 - Ciclo de Palestras sobre Pesquisa Científica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, promovido pela Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ. 21 - O Problemático Relacionamento entre Partidos Políticos e Ativismos de Bairro" de Marcelo José Lopes de Souza, 1988. Ações Integradas de Saúde: Um direito de todos?" de Glória Regina Ma¬noel, 1988. Revolta Popular e Política Habitacional no início do século no Rio de Ja¬neiro" de Marcus Vinicius Gomes Silva, 1988. 22 - Curso de Extensão Universitária " Técnicas Avançadas de Programação de Micro-Computadores em Linguagem Basic" no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na área de Computação. 23 - Essa bolsa se destinou ao desenvolvimento da monografia "Revolta Popular e Política Habitacional no início do século no Rio de Janeiro" de meu orientando Marcus Vinicius Gomes Silva do curso de especialização lato sensu em "Sociologia Urbana" da UERJ. 24 - Instituto de Economia Industrial da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 25 - LIMONAD, E. El Sector Informal y la Calidad de Vida en las MegaCiudades In: Seminario Sector Informal: Cooperacion y Participacion en la Solucion de Problemas Urbanos, 1988, Rio de Janeiro: ENHAP - USAID - IEI- UFRJ, 1988. v.I. p.1 – 29. 26 - RANDOLPH, R. - Impactos de Projetos Turísticos na ilha Grande, Município de Angra dos Reis. Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e IPPUR/UFRJ, 1992. 27 - RANDOLPH, R., LIMONAD, E. Abraão´s Vila Inhabitants Conditions of Life. In: First Symposium Multimedia for Architecture and Urban Design, 1994, São Paulo - SP: FAUUSP, 1994. p.19 – 26. 28 - RANDOLPH, R.; LIMONAD, E. Sustentabilidade dos pequenos produtores em Área de Tombamento (Mata Atlântica - RJ) In: FÓRUM GLOBAL - RIO 92, 1992, Rio de Janeiro. Fórum Global - Rio 92. Rio de Janeiro: Forum das ONGs, 1992. v. I. p.25 – 27. 29 - LACOSTE, Y. La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre. Paris: Maspero, Petite Collection Maspero n° 165, 1982. 30 - LIMONAD, E. Os lugares da urbanização: o caso do interior fluminense. São Paulo. Tese de doutoramento, Universidade de São Paulo, 1996. 31 - Com destaque para HARVEY, D. La Geografia de la acumulacion capitalista: una reconstrucción de la teoría marxista. In GARCIA, M.D. (ed.) La Geografía Regional Anglosajona. Bellaterra: Universidad Antonina de Barcelona, 1978. HARVEY, D. O trabalho, o capital e o conflito de classes em torno do ambiente construído nas sociedades capitalistas avançadas. In Espaço & Debates. ano II, no 6, jun-set (6-35), 1982. HARVEY, D. The Geopolitics of Capitalism. In GREGORY, D. & URRY, J. (ed.), Social Relations and Spatial Structures. London, McMillan, Cambridge, 1985. 32 - SANTOS, M. Espaço e Método. São Paulo, Nobel, 1985. SANTOS, M. Modernidade, meio técnico-científico e urbanização no Brasil. In Cadernos do IPPUR, UFRJ. Rio de Janeiro, IPPUR/UFRJ, ano I, nº 1 (9-22), 1987. SANTOS, M. Involução Metropolitana e Economia Segmentada. In RIBEIRO, A.C.T. e MACHADO, D.P. (org.), Metropolização e Rede Urbana. Rio de Janeiro, UFRJ/IPPUR, 1990. SANTOS, M. Metamorfoses do Espaço Habitado. São Paulo, Hucitec, 1991. SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. São Paulo, Hucitec, 1993. SANTOS, M. Técnica, Espaço, Tempo. São Paulo, Hucitec, 1994. 33 - SOJA, E. Geografias Pós-modernas. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. 34 - SOJA (1993) e LEFEBVRE, H. The Production of Space. London. Blackwell, 1991. 35 - Op.cit. várias. 36 - SANTOS, M. A Natureza do Espaço. São Paulo: Loyola, 1996. 37 - MARX, K. O Capital. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. 38 - HARVEY, D. Para entender o Capital. São Paulo. Boitempo, 2013. 39 - Universidade Federal do Paraná. 40 - Universidade Estadual Paulista – Campus de Presidente Prudente. 41 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 42 - Open Journal System. 43 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Faculdade de Formação de Professores. 44 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 45 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 46 - Universidade Federal de Viçosa. 47 - Universidade Federal do Acre. 48 - Mestrado (Luiz Felipe Oliveira e Letícia Maria Badaró de Carvalho), Doutorado (Luiz Augusto Soares Mendes e Renato Domingues Fialho Martins) e TCC (Juliane dos Santos Lira e Daniel Alves Colaço). 49 - Programa de Doutorado Interinstitucional – fomento CAPES. 50 - Universidade Estadual do Norte Fluminense – Campos, com a inserção de quatro docentes como doutorandos no Programa de Pós-graduação em Geografia. 51 - Universidade Estadual do Norte Fluminense – Campos, com a inserção de quatro docentes como doutorandos no Programa de Pós-graduação em Geografia. 52 - Universidade Federal de Mato Grosso. 53 - Universidade Federal do Pará. 54 - Universidade do Estado do Ceará. 55 - Universidade Estadual de Campinas. 56 - Conselho Regional de Economia do Pará 57 - Geografia da População, Geografia Econômica, Geografia Urbana, Geografia Humana I, Geografia Aplicada ao Planejamento I e II, Geo-História e Planejamento Territorial, Tópicos Especiais de Geografia Regional, Estágio Curricular I, II, III, IV, além de haver criado e ministrado a disciplina optativa Novas Relações de Trabalho e Reestruturação do Espaço. Colaborei dando aulas nas disciplinas de Metodologia Científica, Estudo de Impactos Ambientais, Técnicas de Pesquisa e Geografia do Rio de Janeiro, entre outras. 58 - Ruy Moreira, Rogério Haesbaert, Carlos Walter Porto Gonçalves, Jorge Luiz Barbosa, Jacob Binsztok, Carlos Alberto Franco da Silva e outros. 59 - Aldo Paviani, Ana Fani Carlos, Amélia Damiani, Antônio Robert de Moraes, Arlete Moyses Rodrigues, Armando Correa de Andrade, Bertha Becker, Claudio Egler, Eliseu Spósito, Fany Davidovich, Iná Elias de Castro, Jan Bitoun, José Borzachiello, Leila Christina Dias, Manoel Correia de Andrade, Maria Adélia de Souza, Maria da Encarnação Beltrão Spósito, Maurício de Almeida Abreu, Michel Rochefort, Milton Santos, Odete Seabra, Pedro Geiger, Roberto Lobato Correa, Sandra Lencioni e muitos outros mais. 60 - Horacio Capel, Paul Claval, Derek Gregory, David Harvey, Doreen Massey, Alan Pred, Claude Raffestin, Edward Soja, Neil Smith, Peter Taylor, Pierre Veltz, entre muitos outros. 61 - Com destaque para as obras de Humboldt, Lablache, Ratzel, Reclus, Ritter, e de outros mais recentes como Lacoste, Kayser, George, Dolfuss, entre muitos outros. 62 - O propósito desse projeto era identificar e analisar a distribuição espacial das grandes e médias empresas no Sul Fluminense vis a vis às suas articulações em diversas escalas e suas interpenetrações financeiras, privilegiando atores globais ligados ao projeto do Porto de Sepetiba, com destaque para o setor siderúrgico e de mineração. 63 - HAESBAERT, Rogério, LIMONAD, E. O território em tempos de globalização. Etc (UFF), v.1, p.39 - 52, 2007. HAESBAERT, R., LIMONAD, E. O território em tempos de globalização. Geo UERJ, v.5, p.7 - 19, 1999. 64 - Associação dos Geógrafos Brasileiros. 65 - Associação Nacional de Pesquisa e Graduação em Geografia 66 - Conselho Latino Americano de Ciências Sociais. 67 - Coleção ANPUR 2011-2013: Por uma Sociologia do Presente, Política Governamental e Ação Social, Desafios ao Planejamento, Leituras da Cidade, A Festa e a Cidade, A parceria público-privada na política urbana recente, Um novo planejamento para um novo Brasil, publicados pela editora Letra Capital. 68 - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 69 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 70 - Universidade de Santa Cruz (Rio Grande do Sul). 71 - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. 72 - LIMONAD, E. CASTRO, E. (org.) Por um novo planejamento para um novo Brasil? Rio de Janeiro: Letra Capital, 2014. 73 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. 74 - Associação Brasileira de Estudos Populacionais. 75 - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 76 - Estágios realizados. - URPLAN, na PUC-SP, onde participei na pesquisa "Modelos de Participação Comunitária “coordenada por Maria da Glória Gohn (1977-1978); - UNICEF e SMDS-RJ no projeto piloto "Propostas para a Ação nas Favelas Cariocas", implementado na favela da Rocinha, sob a coordenação de Ana Maria Brasileiro e da equipe do UNICEF (1979-1980). - IUPERJ-RJ onde participei da pesquisa "Clientelismo Político e Associações de Favelas" coordenada por Eli Diniz e pela SMDS-RJ (1980-1981). 77 - LIMONAD, E. Um subsídio ao debate sobre a ação do Estado em favelas: Rio de Janeiro - 1980. Espaço & Debates, v.I, p.157 - 180, 1981. 78 - RANDOLPH, R. LIMONAD, E. Balanço Quantitativo da Produção Técnico-Cientifica em Planejamento Regional, Urbano e Habi¬tacional (1980/86), Friburgo/Rio de Janeiro: ANPUR- CNPQ, FINEP, CNDU, BNH,1986. 79 - Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. 80 - RANDOLPH, R.; LIMONAD, E. Síntese do Balanço Quantitativo da Produção Técnico-Cientifica em Planejamento Regional, Urbano e Habi¬tacional (1980/86). In: Encontro de Trabalho: Mudanças Sociais no Brasil e a Contribuição da Ciência e Tecnologia para o Planejamento Regional, Urbano e Habitacional, 1986, Nova Friburgo. Anais do I Encontro Nacional da ANPUR. Rio de Janeiro: ANPUR/IPPUR/FINEP/CNPq, 1986. v.I. 81 - RIBEIRO, A. C. T., LIMONAD, E. O Planejamento Urbano In: Encontro de Trabalho: Mudanças Sociais no Brasil e a Contribuição da Ciência e Tecnologia para o Planejamento Regional, Urbano e Habitacional, 1986, Nova Friburgo. Anais do I Encontro Nacional da ANPUR. Rio de Janeiro: ANPUR/IPPUR/FINEP/CNPq, 1986. v.I. p.15 – 18. 82 - Mega Cities Project (1988-1989) do IEI-UFRJ e o PADCT-UFRJ "Utilização de Sistema de Informações Geográficas na Avaliação Tecnológico Ambiental de Processos Produtivos" (1993). 83 - "Impactos de Projetos Turísticos na Ilha Grande, Município de Angra dos Reis" no IPPUR-UFRJ (1992). 84 - LIMONAD, E. Entre a Urbanização e a Sub-Urbanização do Território In: XI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 2005, Salvador. Planejamento, Soberania e Solidariedade: perspectivas para o território e a cidade. Salvador: UFBA/ANPUR, 2005. v.1. p.1 – 18. LIMONAD, E. Breves considerações sobre a fragmentação da personalidade do espaço urbano em tempos de globalização In: Milton Santos - Cidadania e Globalização. Bauru: AGB /Saraiva, 2000. LIMONAD, E. Das hierarquias urbanas à cooperação entre lugares In: VIII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 1999, Porto Alegre. Anais do VIII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Porto Alegre: UFRGS, 1999. v.1. p.CD-ROM LIMONAD, E. Reflexões sobre o espaço, o urbano e a urbanização. GEOgraphia (UFF), v.I, p.71 - 91, 1999. LIMONAD, E. A urbanização do território: o caso do interior fluminense. Revista Fluminense de Geografia, v.I, p.19 - 27, 1998. LIMONAD, E. Cidades: do Lugar ao Território In: V Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 1998, Campinas. Campinas - SP: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 1998. p.181 – 182 LIMONAD, E. Hierarquia urbana x multipolaridade de lugares In: Simpósio Multidisciplinar Internacional: O pensamento de Milton Santos e a construção da cidadania, 1997, Bauru. LIMONAD, E. Novas redes urbanas? In: VII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 1997, Recife. Novos recortes territoriais, novos sujeitos sociais: desafios do planejamento. Recife - PE: ANPUR, 1997. v.3. p.2121 - 2145 85 - LEFEBVRE, H, vários op.cit. 86 - LIMONAD, E., MONTE-MÓR, R. L. M. Por el derecho a la ciudad, entre lo rural y lo urbano. Scripta Nova (Barcelona), v.16, p.25 - , 2012. LIMONAD, E., MONTE-MÓR, R. L. M. Por el derecho a la ciudad, entre el rural y el urbano In: Colóquio internacional de Geocrítica, 2012, Bogotá. Independencias y construcción de estados nacionales. Barcelona: Geocrítica, 2012. v.XVI. LIMONAD, E., BARBOSA, J.L. Entre o ideal e o real rumo a sociedade urbana - algumas considerações sobre o Estatuto da Cidade?. Geousp, v.13, p.87 - 106, 2003. LIMONAD, E., BARBOSA, J.L. Estatuto da cidade: uma lei para cidades sem pobres ? In: X Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 2003, Belo Horizonte. Encruzilhadas do Planejamento: Repensando Teorias e Práticas. Belo Horizonte: IGC-UFMG-ANPUR, 2003. v.I. p.1 - 16 LIMONAD, E., LIMA, I. Entre a Ordem Próxima e a Ordem Distante - contribuições a partir da obra de Henri Lefebvre. Rio de Janeiro : GECEL, 2003, v.1. p.103. LIMONAD, E., LIMA, I. G. Alguns desdobramentos entre o próximo e o distante In: Entre a Ordem Próxima e a Ordem Distante: contribuições a partir do pensamento de Henri Lefebvre. Niterói : Ester Limonad, 2003, v.1, p. 98-103. LIMONAD, E., LIMA, I. G. Entre a Ordem Próxima e a Ordem Distante, contribuições a partir do pensamento de Lefebvre In: Entre a Ordem Próxima e a Ordem Distante: contribuições a partir do pensamento de Henri Lerfebvre. Niterói : Ester Limonad, 2003, v.1, p. 15-33. LIMONAD, E. Espaço e Tempo na Arquitetura e Urbanismo: algumas questões de método In: VII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 2002, Salvador. Historiografia da Cidade e do Urbanismo - Balanço da Produção Recente e Desafios Atuais. Salvador: ANPUR-UFBA, 2002. v.1. p.1 – 25. RANDOLPH, R., LIMONAD, E. Cidade, lugar e representação: sua crise e apropriação ideológica num mundo de 'urbanização generalizada'. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR), v.5, p.11 - 24, 2001. LIMONAD, E., RANDOLPH, R. Cidade, Lugar e Representação, sua crise e apropriação ideológica em um mundo de urbanização generalizada In: VI Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 2000 CdRom 87 - LIMONAD, E. Desarrollo local, la cuestión regional, las nuevas tecnologías, algunos puntos para reflexión In: V Coloquio sobre Transformaciones Territoriales, 2004, La Plata - Argentina. Nuevas Visiones en el inicio del Siglo XXI. Montevideo - Uruguay: Asociación de Universidades Grupo Montevideo, 2004. v.1. p.1 – 16. LIMONAD, E., RANDOLPH, R. port@l.eletrônico.gov: considerações sobre a interação Sociedade-Estado . GEOgraphia (UFF), v.I, p.53 - 42, 2002. LIMONAD, E., RANDOLPH, R. servicios_ y_ ciudadanía _en_líne@.gov: - una reflexión sobre la interacción Estado - Sociedad a través de la Internet In: .gov - gobierno electrónico en el Mercosur. Barcelona: Quaderns Digitals, 2002. p. 20-67. LIMONAD, E., RANDOLPH, R. e-governo e digital divide: reflexões sobre o fortalecimento da interação entre sociedade e Estado através das redes telemáticas In: Anais do XIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas). Guatemala: Universidad de San Carlos, 2001. v.1. p.28 - 29. LIMONAD, E. Towards new kinds of regionalization and urbanization In: Abstracts of the 42nd Annual Conference of the Associate Schools of Planning. Atlanta - Georgia: University of Georgia, 2000. p.68. LIMONAD, E. Entre Redes e Sistemas In: II Workshop sobre Redes, 2000, Rio de Janeiro. Redes Sociais, Territoriais e Informacionais. Rio de Janeiro: IPPUR-UFRJ e Programa de Pós-Graduação em Geografia - UFF, 2000. v.I. p.8 – 11 LIMONAD, E. Impactos Sócio-Espaciais das Inovações Tecnológicas In: Caderno de Resumos del XXI Congreso de la Asociación Latinoameriacana de Sociologia. La Concepción: ALAS - Universidad de La Concepción, 1999. v.1. p.67 - 67 LIMONAD, E. Nuevas tendencias de la urbanización en tiempos de otra revolucion industrial. Boletin de Riadel, p.9, 1999. LIMONAD, E. Nuevas tendencias de la urbanizacion en tiempos de otra revolucion industrial In: Seminario de Investigacion Urbana, 1998, Buenos Aires. El Nuevo Milenio y lo Urbano. Buenos Aires - Argentina: Universidad de Buenos Aires, 1998. v.I. p.21. RANDOLPH, R., LIMONAD, E. Digital Cities: Telecities, Cidades em Redes: Rumo a uma nova co-operação urbana ? In: II Jornadas Internacionales: Ciudad y Redes Informáticas, 1998, Quilmes - Argentina. La ciudad en.Red.ada. Quilmes - Argentina: Universidad Nacional de Quilmes, 1998. v.1. p.12 - 12 LIMONAD, E. Telecommunications and new trends of urbanization in non-metropolitan areas. In: Telecom. & the City conference, 1998. 88 - SANTOS, M. A Natureza do Espaço. São Paulo: Loyola, 1996. 89 - LIMONAD, E., MOREIRA, Ruy, BARBOSA, Jorge Luiz, HAESBAERT, Rogério, Perfil do Programa de Pós-Graduação em Geografia In: III Encuentro de Posgrados sobre Desarollo y Políticas Territoriales y Urbanas de los Países del Cono Sur, 2000, Bahia Blanca. Perfil de los Posgrados sobre Desarollo y Políticas Territoriales y Urbanas de los Países del Cono Sur. Bahia Blanca: Universidad Nacional del Sur, 2000. v.I. p.25 - 35 90 - Essa fase tem relação com o projeto de pesquisa desenvolvido de 2006-2010 Urbanização Dispersa: uma nova forma de desenvolvimento urbano? Estudos de caso no estado do Rio de Janeiro. 91 - LIMONAD, E. Alguns apontamentos sobre a urbanização dispersa no Estado do Rio de Janeiro In: REIS Fº, N.G. e TANAKA, M.S. (org.) Sobre Urbanização Dispersa. São Paulo : Via das Artes, 2009, v.1, p. 114-124. LIMONAD, E. Rio de Janeiro: uma nova relação capital-interior? In: LIMONAD, E. et al. (org)Brasil Século XX, por uma nova regionalização? agentes, processos e escalas.São Paulo : Max Limonad, 2004, v.1, p. 78-92. LIMONAD, E. Interiorização x Metropolização - Desenvolvimento do Interior e Involução Metropolitana: o caso do interior do Rio de Janeiro In: A Reestruturação Industrial e Espacial do Estado do Rio de Janeiro. Niterói : PPGEO - UFF GECEL - GERET, 2003, v.1, p. 129-138. LIMONAD, E. Considerações sobre o novo paradigma do espaço de produção industrial. Ciência Geográfica, v.1, p.1 - 12, 2003. LIMONAD, E., MONTEIRO, J.C.C.S. Rumo a um novo paradigma da organização do espaço de produção industrial In: XIII Encontro Nacional de Geógrafos, 2002, João Pessoa. Por uma Geografia Nova na Construção do Brasil. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba e Associação dos Geógrafos Brasileiros - Nacional, 2002. v.1. p.207 – 207. LIMONAD, E. Multipolar urbanisation patterns in south Rio de Janeiro: from competition or cooperation to coopetition In: Polycentric metropolitan regions - new concepts and experiences. Varsóvia : Polish Academy of Sciences - Committee for space economy and regional planning, 2002, v.11, p. 143-158. LIMONAD, E. Redes Logísticas e Complexos Empresariais no Sul Fluminense In: XII Encontro Nacional da AGB, 2000, Florianópolis. Os outros 500 na formação do território brasileiro. Florianópolis: AGB e UFSC, 2000. v.1. p.125 – 125. 92 - LIMONAD, E. Redes Urbanas, Metropolização e Desenvolvimento Regional no Brasil, 2014. (Conferência II SEDRES). LIMONAD, E. Recent Trends in Brazilian Urbanization, 2014. (Conferência CEDLA- University of Amsterdam). BARBOSA, Jorge Luiz, LIMONAD, E. Ordenamento Territorial e Ambiental. Niterói: EDUFF, 2012, v.1. LIMONAD, E. Brasil! Mostra a tua cara. Breves considerações sobre a urbanização brasileira recente. Revista Internacional de Língua Portuguesa (Pelotas), v.23, p.269 - 283, 2010. LIMONAD, E. Espaço-Tempo e Urbanização, algumas considerações sobre a urbanização brasileira. Cidades (Presidente Prudente), v.4, p.1 - 15, 2008. LIMONAD, E. América Latina mais além da urbanização dependente? In: OLIVEIRA, M.P: et al. (org.) Espacialidades Contemporâneas: o Brasil, a América Latina e o Mundo. São Paulo: Lamparina, 2008, v.1, p. 75-93. LIMONAD, E. Nunca Fomos Tão Metropolitanos! In: REIS, N.G. TANAKAm M.S. (org.) Brasil - Estudos sobre Dispersão Urbana. São Paulo: Via das Artes - FAPESP, 2007, v.1, p. 183-212. LIMONAD, E. No todo acaba en Los Angeles. ¿Un nuevo paradigma: entre la urbanización concentrada y dispersa?. Biblio 3w (Barcelona), v.XII, p.1 - 18, 2007. LIMONAD, E. Urbanização dispersa mais uma forma de expansão urbana?. Formação (Presidente Prudente), v.1, p.31 - 45, 2007. LIMONAD, E. Urbanização e Migrações: contribuições para uma agenda de pesquisas In: 2. Encontro Nacional de Produtores e Consumidores de Informações Sociais Econômicas e Territoriais, 2006, Rio de Janeiro. Anais do 2. Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. v.1. LIMONAD, E. Nem tudo acaba em Los Angeles In: 52. Congresso Internacional de Americanistas, 2006, Sevilla. Nuevas Dimensiones de la Industria y de lo Urbano en las Metrópolis Latinoamericanas. Universidad de Sevilla, 2006. v.1. p.1 - 21 LIMONAD, E., HAESBAERT, R., MOREIRA, R. Brasil Século XXI, por uma nova regionalização? agentes, processos e escalas. São Paulo: Max Limonad, 2004, v.1. p.212. LIMONAD, E. Brasil século XXI, regionalizar para que? Para quem? In: LIMONAD, E., HAESBAERT, R., MOREIRA, R. Brasil Século XXI, por uma nova regionalização? agentes, processos e escalas. São Paulo : Max Limonad, 2004, v.1, p. 54-66. LIMONAD, E. Urbanização e Organização do Espaço na Era dos Fluxos In: Território, territórios.3 ed.Rio de Janeiro : Lamparina, 2007, v.1, p. 15-170. LIMONAD, E. Urbanização e Organização do Espaço na Era dos Fluxos In: Território, Territórios, ensaios sobre o ordenamento territorial.2 ed.Rio de Janeiro : DP&A, 2006, v.1, p. 147-172. LIMONAD, E. Urbanização e Organização do Espaço na Era dos Fluxos In: Território territórios.1ª ed.Niterói : Programa de Pós-Graduação em Geografia - UFF e AGB-Niterói, 2002, v.1, p. 69-88. 93 - LIMONAD, E., MONTE-MÓR, R. L. M. Beyond the right to the city: between the rural and the urban. URBIA - Les Cahiers du développement urbain durable, v.17, p.103 - 115, 2015. LIMONAD, E. COSTA, H. S. M. Cidades excêntricas ou novas periferias? Cidades, v. 12, p. 278-305, 2015. LIMONAD, E., COSTA, H.S.M. Edgeless and eccentric cities or new peripheries?. Bulletin of Geography. Socio-economic series, v.24, p.117 - 134, 2014. LIMONAD, E. Uma homenagem a Ana Clara Torres Ribeiro, 2014. (Palestra –UNESP-PP) LIMONAD, E. Desafios a reflexão sobre a organização do espaço contemporâneo, 2013. (Aula Magna POSGEO-UFPE) LIMONAD, E., COSTA, H.S.M. Eccentric Centralities: From Center to Periphery and Back. In: AESOP-ACSP Joint Congress, Planning for resilient cities and regions. Dublin: University College of Dublin, 2013. MONTE-MÓR, R. L. M., LIMONAD, E. O Urbano e o Rural frente à Urbanização da Sociedade In: Expansão metropolitana e transformação das interfaces entre cidade, campo e região na América Latina. São Paulo: Max Limonad, 2011, v.1, p. 202-217. LIMONAD, E. Regiões Reticulares: algumas considerações metodológicas para a compreensão de novas formas urbanas. Cidades (Presidente Prudente), v.7, p.1 - 15, 2010. LIMONAD, E., BARBOSA, J.L. Para Além do Rural e do Urbano In: XI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 2005, Salvador. Perspectivas para o território e a cidade. Salvador: ANPUR - UFBA, 2005. v.1. p.1 – 1 94 - LIMONAD, E. A insustentável natureza da sustentabilidade. Cadernos Metrópole (PUCSP), v.15, p.123 - 142, 2013. LIMONAD, E. A natureza da ambientalização do discurso do planejamento. Scripta Nova (Barcelona), v.14, p.1 - 10, 2010. LIMONAD, E. A natureza da ambientalização do discurso do planejamento In: Colóquio Internacional de Geocrítica, 2010, Buenos Aires. La planificación territorial y el urbanismo desde el dialogo y la participación, 2010. LIMONAD, E., ALVES, J. APAS e APPs como instrumento legal de regulação urbano-ambiental? In: IV Encontro Nacional da ANPPAS, 2008, Brasília. Mudanças Ambientais Globais: A contribuição da ANPPAS ao debate. Brasília: ANPPAS, 2008. v.1. p.1 - 20 GARCIA, M. F., LIMONAD, E. Grandes projetos hidrelétricos e desenvolvimento regional - algumas considerações sobre o projeto hidrelétrico do rio Madeira In: IV Encontro Nacional da ANPPAS, 2008, Brasília. Mudanças Ambientais Globais a Contribuição da ANPPAS ao debate. Brasília: ANPPAS, 2008. LIMONAD, E. Regiões Urbanas e Questão Ambiental In: XVI Encontro Nacional da ABEP, 2008, Caxambu. As Desigualdades Sócio Demográficas e os Direitos Humanos no Brasil. Belo Horizonte: ABEP, 2008. LIMONAD, E. A natureza da questão ambiental contemporânea. Geografias (UFMG), v.4, p.1 - 25, 2007. LIMONAD, E. O Fio da Meada: Desafios ao planejamento e à preservação ambiental na Costa dos Coqueiros - Bahia. Scripta Nova (Barcelona), v.10, p.1 - 15, 2007. LIMONAD, E. O Fio da Meada desafios ao planejamento e à preservação ambiental na Costa dos Coqueiros - Bahia In: IX Colóquio Internacional de Geocrítica, 2007, Porto Alegre. LIMONAD, E. Questões ambientais e o desenvolvimento local-regional: de volta à Região In: X Encontro de Geógrafos da América Latina, 2005, São Paulo. Por uma Geografia Latino Americana do Labirinto da Solidão ao Espaço da Solidariedade. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2005. LIMONAD, E., MONTEIRO, J.C.C.S. Reestruturação Produtiva e Desenvolvimento Sustentável In: X Congresso Brasileiro de Geográfos, 2004, GoIânia. Anais do X Congresso Brasileiro de Geógrafos. Goiânia: AGB-Nacional e UFGO, 2004. v.1. p.1 - 11 LIMONAD, E. Questões ambientais contemporâneas, uma contribuição ao debate In: II Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, 2004, Indaiatuba - SP. Anais da II ANPPAS. Campinas: ANPPAS, 2004. v.1. p.1 – 11 LIMONAD, E. Towards an urban environmental planning In: III AESOP-ACSP Joint Congress, 2003, Leuven - Bélgica. The Network Society, the new context for planning. Leuven - Bélgica: University of Leuven, 2003. v.1. p.103 – 103 95 - LIMONAD, E. Na trilha do sol: urbanização e turismo no litoral do Nordeste brasileiro. In: MENDONÇA, J.G; COSTA, H.S.M. (Org.). Estado e capital imobiliário: convergências atuais na produção do espaço urbano brasileiro. Belo Horizonte : C/Arte, 2011, v.1, p. 15-30. LIMONAD, E. "Você já foi à Bahia, nêga? Não! Então vá! Antes que acabe..." Planejamento, urbanização e turismo no litoral do Nordeste brasileiro. Scripta Nova (Barcelona), v.XII, p.1 - 15, 2008. LIMONAD, E. "Você já foi a Bahia nêga? Pois então vá! Antes que acabe..." Planejamento, urbanização e turismo no litoral do Nordeste brasileiro, tendências e perspectivas In: X Coloquio Internacional de Geocrítica, 2008, Barcelona. Diez Años de Cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Barcelona: Geocrítica, 2008. v.1. p.1 - 20 LIMONAD, E. Yes, Nós Temos Bananas! Praias, Condomínios Fechados, Resorts e Problemas Sócio-Ambientais. GEOgraphia (UFF), v.8, p.12 - 32, 2007. LIMONAD, E. Yes, Nós Temos Bananas! Praias, Condomínios Fechados, Resorts e Problemas Sócio-Ambientais In: 12 Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Anais.... Belém: UFPA-ANPUR, 2007. v.1. p.1 – 20. 96 - LIMONAD, E. Identidades na Diferença. Geosul (UFSC), v.21, p.7 - 28, 2006. LIMONAD, E. Paris em Chamas: Arquitetura ou Revolução. Biblio 3w (Barcelona), v.XI, p.1 - 28, 2006. LIMONAD, E. Desafios ao Desenvolvimento Local e Regional. GeoInova (Lisboa), v.6, p.12 - 29, 2005. LIMONAD, E. Desenvolvimento local, a questão regional, as novas tecnologias, alguns pontos para reflexão. Plurais (Anápolis), v.1, p.45 - 58, 2005. LIMONAD, E. Estranhos no Paraíso de Barcelona. Impressões de uma geógrafa e arquiteta brasileira residente em Barcelona. Biblio 3w (Barcelona), v.X, 2005. 97 - LIMONAD, E. Paris Burns! Architecture or Revolution? In: Tom Harper; Heloisa Soares de Moura Costa, Anthony Yeh. (Org.) Dialogues in Urban and Regional Planning. Florence: Routledge, 2008, v.3 98 - LIMONAD, E. State reform and territorial planning from the military regime towards democracy, 2014. (Palestra University of Leiden) LIMONAD, E. Planejamento e Políticas Urbanas nos anos 2000 - um aporte crítico, 2014. (Palestra UFSJ) LIMONAD, E. Brazilian urbanization, the Statute of the City and the right to the city, 2014. (Conferência University of Cardiff). LIMONAD, E. A falsa transparência do Estado e do planejamento. Workshop: rumo à sociedade urbana. Belo Horizonte: UFMG, 2014 (Comunicação,Apresentação de Trabalho) LIMONAD, E. Brazil, challenges for a different development, 2014. (Conferência University of Leiden) LIMONAD, E., CASTRO, E. R. (org.) Um novo planejamento para um novo Brasil?. Rio de Janeiro : Letra Capital, 2014, v.1. p.300. RIBEIRO, A. C. T., LIMONAD, E., GUSMAO, P. P. (org.) Desafios ao Planejamento. Rio de Janeiro : Letra Capital, 2012, v.1. p.191. LIMONAD, E. Estado, espaço e escala no Brasil, subsídios para a reflexão. Scripta Nova (Barcelona). v.XVIII, p.1 - 19, 2014. LIMONAD, E. Em busca do Paraíso: Algumas considerações sobre o desenvolvimento. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR), v.15, p.125 - 138, 2013. LIMONAD, E., CASTRO, E. R. De uma “Ciência para o Novo Brasil” a “Um novo planejamento para um novo Brasil? In: Ester Limonad; Edna Castro. (Org.) Um novo planejamento para um novo Brasil?. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2014, p. 11-22. LIMONAD, E. Estado, espaço e escala no Brasil, subsídios para a reflexão In: BONASTRA, Quim; VASCONCELOS JUNIOR, Magno; TAPIA, Maricarmen. (Org.). El control del espacio y los espacios de control. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2014, p. 1-19. LIMONAD, E. Um novo planejamento ou um novo Estado para um novo Brasil? In: Um novo planejamento para um novo Brasil?. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2014, p. 80-99. LIMONAD, E. Da política a não política e a ingovernabilidade do território In: Maria Tereza Duarte Paes; Charlei Aparecido da Silva; Lindon Fonseca Matias (org.). Geografias, políticas públicas e dinâmicas territoriais. Dourados : UFGD, 2013, v.1, p. 15-27. 99 - RIIBEIRO, A.C.T.; DIAS, L.C. Escalas de poder e novas formas de gestão urbana e regional. Rio de Janeiro, 9 Encontro Nacional da ANPUR, Anais..., 2001. 100 - Durante esse período participei de eventos, elaborei e retomei trabalhos que se materializaram em diversas publicações relativas aos temas já elencados. a que se somam convites para diversas conferências e cursos nas Universidades de Leiden – Holanda (2014, 2015, 2016, 2017), Universidad Central de Chile (2016), Universidad de Chile (2016), Pontíficia Universidad Católica de Valparaíso (2016), a que se somam convites para participação em eventos em diversas Instituições de Ensino Superior no país. 101 - LIMONAD, E. Una Vez más la Región. Revista Geográfica de Valparaíso v. 54, p. 1-16, 2017. LIMONAD, E.; BARBOSA, J. L. (Org.). Geografias: Reflexões, Estudos e Leituras. São Paulo: Max Limonad, 2020. LIMONAD, E. (org.) ETC: espaço, tempo e crítica.... Rio de Janeiro: Letra Capital, 2019. LIMONAD, E.; MONTE MÓR, R. L. M. O rural e o urbano em uma era de urbanização generalizada. In: MAIA, D. S.; RODRIGUES, A. M.; SILVA, W.R. (Org.). Expansão urbana: despossessão, conflitos, diversidade na produção e consumo do espaço. João Pessoa: Editora da UFPB, 2020, p. 222-253. LIMONAD, E. Entre as lógicas e as escalas da urbanização. In: LIMONAD, E. (Org.). ETC: espaço, tempo e crítica.... Rio de Janeiro: Letra Capital, 2019, p. 284-306. LIMONAD, E. Novidades na urbanização brasileira? In: Elias, D.; Pequeno, R. (Org.). Tendências da urbanização brasileira novas dinâmicas de estruturação urbano-regional. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2018, p. 25-58. LIMONAD, E. Desafios ao Desenvolvimento Local e Regional. In: BARBOSA, J.L.; LIMONAD, E. (Org.). Ordenamento Territorial e Ambiental. 2ed.Rio de Janeiro: Letra Capital, 2016, p. 169-188. 102 - LIMONAD, E. Para pensar a descolonização do cotidiano: desentranhando o desenvolvimento. In: LIMONAD, E.; BARBOSA, J.L. (Org.). Geografias: Reflexões, Estudos e Leituras. São Paulo: Max Limonad, 2020, v. 1, p. 20-40. LIMONAD, E. Navegar é preciso, viver não é preciso, o que é necessário é criar: Da geopolítica urbana latino-americana aos comuns urbanos, alguns apontamentos. In: BARROS, A.M.L.; ZANOTELLI, C.L.; ALBANI, V. (Org.). Geografia urbana: cidades, revoluções e injustiças entre espaços privados, públicos, direito à cidade e comuns urbanos. Rio de Janeiro: Consequência, 2020, p. 445-464. LIMONAD, E. Do Político à não-política e a (in)governabilidade do território. Revista Política e Planejamento Regional, v. 7, p. 86-102, 2020. LIMONAD, E. Que diabos está havendo? Algumas breves considerações sobre a neoliberalização do espaço social. In: CASTRO, E. (Org.). Pensamento crítico latino-americano: reflexões sobre políticas e fronteiras. São Paulo: Annablume, 2019, p. 225-252. LIMONAD, E. Uma utopia com os pés no chão: algumas considerações sobre práticas espaciais transformadoras. Novos Cadernos Naea, v. 21, p. 79-92, 2018. LIMONAD, E. Lá se vão trinta anos de ANPUR.... Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 19, p. 219-232, 2017. LIMONAD, E.; BARBOSA, J. L.? Why don’t we do it in the road? Biblio3w, v. 22, p. 1-22, 2017. LIMONAD, E. "Amanhã há de ser um outro dia!". Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 18, p. 351-355, 2016. LIMONAD, E. Crise da Cidade, Crise na Cidade. In: OLIVEIRA, M.P.; GIANELLA, L.C.; MARTINS, F.E. (Org.). Dominação e apropriação na luta por espaço urbano. Rio de Janeiro: Consequência, 2018, p. 1-20. LIMONAD, E.; MONTE-MÓR, R. L. M.; COSTA, H. S. M. O Brave New World? Considerações sobre experiências presentes para um futuro próximo. In: ZAAR, M.; CAPEL, H. (Org.). Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad post-capitalista. Barcelona: Universidad de Barcelona/Geocrítica, 2018, p. 1-22. LIMONAD, E. Utopias urbanas, sonhos ou pesadelos? Cortando as cabeças da hidra de Lerna. In: Bencha, N; Zaar, M.H.; Vasconcelos P. Jr, M. (Org.). Las utopías y la construcción de la sociedad del futuro. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2016, p. 1-19. 103 - SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001. ELISEU SAVERIO SPOSITO AUTOBIOGRAFIA - Eliseu Savério Sposito Professor Titular aposentado da UNESP, campus de Presidente Prudente (1980-2019) Professor Visitante na Universidade Federal de Uberlândia, campus do Pontal, Ituiutaba (2019-2020) NO PRINCÍPIO, PRINCÍPIO ERA Deixo, neste texto, um depoimento sobre minha vida na Geografia. Começo buscando algumas lembranças bem distantes no tempo. Antes, bem antes de iniciar minha carreira como geógrafo-docente-pesquisador. Nasci em uma casa de madeira – que não existe mais – zona rural, próximo ao Córrego Anhumas, no município de Pirapozinho, onde fui batizado, logo depois de 14 de junho de 1950. Os primeiros cinco anos foram soprados, do que me lembro, no km 27 da Estrada Alves de Almeida, naquele tempo coberta de areia e seixos, que liga Pirapozinho e Narandiba. O “27”, como os moradores o chamavam, era um aglomerado rural com uma capela da religião católica, o armazém do “Seu” Prudenciano, uma escola para os quatro primeiros anos letivos, duas ou três casas à beira da estrada e um campo de futebol, mais areia do que gramado, mas lugar de muitos chutes na “bola de capotão”. Minha casa ficava bem na curva da estrada de onde, sentado com meu irmão menor, Élvio, pedia “carona” para os carros que passavam ou mesmo para a “jardineira” (gritando “leva nós!”), hábito abandonado quando um caminhão parou e queria, realmente, dar carona. Imagine o medo que bateu em nós dois, eu com menos de cinco anos de idade. Na curva da estrada ficava minha casa, que já não existe mais, mas que era ampla o suficiente para abrigar toda a família (já éramos seis) e a professora que lecionava na escola primária local, que também não existe mais (nem ela, nem a professora). Também não existem mais a cancha de bocha e o campo de futebol. O que existe, então, desse tempo? Acredito que apenas lembranças que persistem na memória, já quase apagadas. Foi nesse lugar em que, saindo para andar no campo arado, a 10 metros de nossa casa, vimos – meu irmão menor e eu – três cachorros virem em nossa direção, crescendo, a gente se sentou na terra fofa, gritando aos prantos, quando um deles abocanhou minha perna direita e dela tirou um pedaço pequeno da carne, que hoje ainda é lembrado pela cicatriz na panturrilha. Ao ouvir os gritos, meu pai saiu correndo, espingarda na mão, dando tiros para espantar os cachorros. A lembrança de três cachorros dando voltas, mais altos que dois pequenos, soltando babas e de dentes arreganhados, ainda volta à lembrança de maneira aterradora. A área onde estava a casa da família, no Km 27, contavam os mais velhos, foi povoada por bugios, capivaras, jaguatiricas, onças, tamanduás, tatus-galinha... As aves, às vezes, apareciam nas proximidades (algumas, atualmente, ameaçadas de extinção) como jacu, jacutinga, gavião, papagaio, curió, tiê-sangue, sabiá, canário, urutau, corruíra... A riqueza da flora era impressionante: peroba, cabreúva, cedro, ipê (de várias cores), canela... depois de dizimada foi substituída, lentamente, pelo eucalipto. A região era rica em madeira; por isso, ainda há, como testemunha, nas cidades da região de Presidente Prudente, muitas casas com esse material que resistem, de pé, há mais de 70 anos. Quando fui me alfabetizar, a família mudou-se para Pirapozinho. Isso foi em 1957, quando fui matriculado no primeiro ano do curso primário. Eu tinha seis anos de idade (“primeiro ano, cabeça de pano”). Nossa casa, na rua Rui Barbosa 474, que ficava a 30 metros dos muros da escola, não existe mais, o que possibilitava que minha mãe me levasse o sanduíche (muitas vezes duas fatias de pão caseiro recheadas com açúcar ou com banha de porco) na hora do recreio. Não me lembro da minha primeira professora, mas de uma substituta – Zilda Marafon – porque, nesse ano, as mudanças foram várias. Não tive problemas, mesmo com as mudanças de docentes, em minha alfabetização. Minha professora do terceiro ano, dona Climenes, e o professor do quarto ano (Seu Djalma) ficaram indeléveis na memória. No primeiro e no terceiro anos fiquei com a maior média de toda a classe (no terceiro ano, ganhei um livro com instrumentos musicais de presente) No segundo e no quarto ano, fiquei em segundo lugar. No quarto ano senti-me injustiçado porque eu sabia que tinha “tirado” nota maior, mas a Cristina Mori ficou com os louros. Comecei o curso ginasial no CELSA (Colégio Estadual Lúcia Silva Assumpção) em 1961. Tinha dez anos de idade. Eu era pequeno perante os “veteranos”, com idades de 12 a 15 anos, que me olhavam de cima para baixo, não me deixavam participar dos jogos de futebol (a não ser como goleiro), mas precisavam de mim para melhorarem suas notas em várias disciplinas. Dois acontecimentos marcaram minha vida no ginásio. O primeiro foi editar, com os recursos da época, a revista “O Repórter Mirim”, junto com meu amigo, que hoje vive no Japão, Vergílio do Espírito Santo. Foram vários números entre 1962 e 1963. Infelizmente não tenho, aqui, nenhum exemplar para mostrar. Como eu já desenhava bem, fazia todas as ilustrações da revistinha e, com uma velha máquina de escrever Remington, datilografava cuidadosamente as páginas; feita a capa, pintada com lápis de cor, o grampeador dava o acabamento final. O segundo acontecimento que destaco foi a influência de meu professor de geografia, Rodolfo Horle, que me incentivou a fazer o curso de Geografia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente (a FAFI, onde entrei em 1971, que atualmente é o campus de Presidente Prudente da UNESP). Tive professores fracos de Matemática e Latim, mas professores entusiasmados de História (Dona Ivanice), Francês (Dona Rosário), Desenho (Dona Hilda), Língua Portuguesa (Achelon), além do de Geografia. Fiz muitos desenhos com tinta guache em cartolina nas aulas de desenho, e mais tarde com o Cilinho, desenhista autodidata, que tivera paralisia infantil, mas dominava com maestria o lápis e o pincel. Vez ou outra podia, depois de pedir insistentemente dinheiro para meu pai, assistir a algum filme no Cine Vera Cruz (1), do Sr. Mourão, que era lembrado com assobios e palavrões toda vez que o filme arrebentava, o que era muito comum. Naquele tempo não se falava em ar condicionado e, mesmo assim, assistir às “matinês” (não sei por que, sempre no período da tarde), para torcer para o mocinho contra o bandido. Roy Rogers era o preferido, mas havia outros cowboys que “faziam a cabeça” da garotada. As lições, no final dos filmes, era de que o bem sempre vence e que o crime não compensa. Depois vieram os documentários de futebol do Canal 100, com jogos das equipes cariocas, enaltecendo o Maracanã e destacando os “arquibaldos e geraldinos” (aqueles que ficavam nas arquibancadas e na geral – parte de baixo dos degraus do estádio onde todos ficavam de pé). O cine Vera Cruz também não existe mais. A esquina está lá, com outra função. A destruição criadora esteve presente na minha vida desde o início. Nesse tempo, minhas férias eram dias de alegria no sítio do Palope (cognome de meu pai, que mesmo tendo o sobrenome Sposito, ficou com uma corruptela do nome de sua mãe, minha avó, Rosa Palopoli). Foi lá que ouvi muitas histórias, contos e “causos” (contados pelo Baiano ou por meu avô, Quim Bié – de Joaquim Gabriel da Fonseca), foi lá que via o saci girando nos redemoinhos, que chupava manga nos mais altos galhos da árvore, que plantava abacaxis para saciar minha vontade por vitamina C, que trabalhei no arado com o Sereno (cavalo baio e arisco), o Preto (cavalo manso que sabia o caminho de volta para casa) e a Girafa (mula branca e alta, de difícil manejo), que vi muitos “camaradas”, nordestinos ou japoneses, ararem a terra e colherem batata, café e banana. Andava “de pé no chão”, ora na areia quente do meio-dia de janeiro, ora no frio orvalho da manhã em julho, depois de alguma geada qualquer. Meu avô, que na realidade era apenas o companheiro de minha avó (porque o pai de meu pai havia voltado para a Itália e lá falecera, muitos anos antes), gostava de falar de suas andanças por trem pela “Paulista Velha” (estrada de ferro que passava por Jaboticabal, Olímpia, Catanduva etc), desfilando corretamente o “rosário” de cidades, em sua ordem no sentido capital-interior, e falar os números e os nomes do jogo do bicho, que ele entendia muito bem. Antes de dormir, o “programa” era deitar na areia, na frente da casa, ver estrelas e ouvir os “causos” do Baiano, um preto de meia idade, que também não existe mais, que contava, entre muitos, a história do “Reino dos Corpos sem Alma”, e falava de suas andanças pelas cidades da “Paulista Nova”, entre Marília e Flórida Paulista. Lá pela metade da década de 1960 eu já ouvia Chico Buarque, Beatles, o pessoal da Jovem Guarda ou da Tropicália e muita música sertaneja. Vivi os anos sessenta entre meus dez e vinte anos de idade. Não é preciso ficar repetindo o impacto do golpe militar de 1964 que teve, mesmo no longínquo Oeste Paulista. Minha avó, em um forno a lenha, cozinhava a comida mais gostosa do mundo, a omelete (fritada, para nós) cujo aroma guardei por muito tempo na memória olfativa, e derretia a banha que depois conservava os alimentos e servia para untar as panelas. A pamonha e o curau, comida obrigatória na época da colheita do milho; as mangas eram de fim de ano; as bananas “davam” o ano inteiro; a jaboticaba pretejava os troncos uma vez por ano, e por aí ia a vida, fluindo sem contar os dias que precisavam correr para as crianças crescerem. As férias no sítio foram obrigatórias, trabalhando ou não, até meus dezoito anos. Meu pai vendeu o sítio em 1978; minha avó faleceu em 1984, minha mãe em 2007 e meu pai em 2009. Muito do que marcou minha vida pode ser lembrado ou visto em uma ou outra fotografia. Aí me lembro do filme “Avalon”, no qual o principal personagem, ao constatar que suas casas não existiam mais, fica na dúvida se ele mesmo existia ou existira. De posse de um diploma da Escola Normal de Pirapozinho, tornei-me “professor primário”, disse para meu pai que não trabalharia mais na roça. Assim, em 1969, com meus dezoito anos cumpridos, comecei a lecionar em uma escola rural, que também não existe mais, que tinha as “turmas” em quatro filas, uma para cada um dos anos. Tive que trabalhar com quatro séries ao mesmo tempo. Não sei se hoje teria a habilidade para isso, mas naquele tempo, de idade próxima às dos alunos, pude interagir sem problemas com eles por três meses. Eu ia a pé, da cidade à escola, por três quilômetros, de manhã, por volta de 7h e voltava ao meio dia, muitas vezes com alguma prenda que uma ou outra aluna trazia para o professor. Quinze minutos antes da “hora do recreio” escalava três alunas ou alunos que iam fazer o leite que acompanharia a merenda que a turma tinha trazido de casa. Um barril de leite em pó ficava num pequeno reservado, ao lado da sala de aula, fruto do programa Aliança para o Progresso, forma de investimento na alimentação de alunos das escolas primárias, resultado de acordo entre Brasil e Estados Unidos, na época da guerra fria, cujo intuito era soltar algumas migalhas para que as pessoas não caíssem “no conto do comunismo”. Depois, fui “assinar ponto” no grupo escolar em que me alfabetizei para melhorar minha possibilidade de assumir aulas no ano seguinte. Tinha que ficar na escola das 8h às 10h para uma eventual substituição. Eu era o único homem dos “substitutos”. Não tinha muita conversa porque as colegas, que já tinham televisão em casa, ficavam o tempo todo falando das novelas da TV Tupi (As pupilas do senhor reitor; Nino, o italianinho) ou de um seriado (Penélope). Aproveitei e li o que podia na biblioteca da escola. Aí tomei conhecimento de livros como Moby Dick, A ilha do tesouro, As viagens de Gulliver, As aventuras de Tom Sawyer, Viagem à Lua, entre tantos outros – alguns livros que se tornaram filmes, que eu vi nessa época ou mais tarde. Enfim, grande parte da literatura juvenil passou por meus olhos em 1969. Enquanto eu lia clássicos da literatura juvenil, muitos gibis e fazia meu Curso Normal em Pirapozinho, alguns alunos da antiga FFCLPP (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente) esconderam-se por causa da repressão militar, outros fugiram, e dois ou três simplesmente desapareceram. Aqueles que foram apanhados, apanharam. Enquanto a repressão militar já mostrava suas garras e seus dentes, eu me formava professor primário (P-I, como se falava na época) no colégio das freiras. Meus professores eram, principalmente, jovens egressos da FFCLPP, dos cursos de Ciências Sociais e Pedagogia. Todos idealistas, entusiastas. Lembro-me de Leny, Nilcéia, Júnia, Neuzinha... e da madre Olga, tão simpática mas tão pequena que quase cabia na palma da mão. Nesse tempo, participei do TLC (Treinamento de Líderes Cristãos), movimento carismático ligado à Igreja Católica, originário da Espanha, que foi me mostrando, aos poucos, a necessidade que algumas pessoas têm de crescer e aparecer às custas de outras. A canção-símbolo desse movimento, De colores, hoje ecoa em minha cabeça entoada pela belíssima cantora greco-francesa Nana Mouskouri (“De colores / se visten los campos en la primavera / de colores / son los pajaritos que vienen de afuera / de colores es el arco-iris que vemos lucir / y por eso, los grandes amores, de muchos colores / me gustan a mi”). Fiz retiro no seminário de Presidente Prudente, ouvi muitos conselhos (felizmente segui poucos), cantei, com os outros, Na tonga da mironga do kabuletê, Tarde em Itapoã. Havia muito cinismo no ar... Eu já havia me desiludido com a Igreja Católica quatro anos antes quando observei, em Pirapozinho, que os mais fervorosos religiosos eram aqueles cuja moral era questionada na cidade. Foi nesse tempo que vi Paulo Autran declamar “As mãos de Eurídice” e o Coral Santo Inácio de Loyola encenar “Morte e vida severina” (“esta cova em que estás / com palmos medida / é a terra que querias / ver dividida; não é cova grande / nem larga nem funda / é a parte que te cabe / deste latifúndio...”). A revolta com a repressão, a busca de justiça social, de liberdade individual, já estavam presentes no meu cotidiano escolar. Fizemos (2) passeata quando quiseram (nem sei mais quem “quiseram”) “tirar” o padre Diógenes do Curso Normal porque ele era adepto e entusiasta da Escola de Summerhill, surgida na Inglaterra (condado de Suffolk) em 1921, que pregava a liberdade total no processo de ensino-aprendizagem em termos democráticos, apoiando-se em pedagogias alternativas segundo as quais a criança deve ter liberdade para escolher e decidir o que aprender de acordo com seu próprio ritmo. O padre, logicamente, foi taxado até de comunista sem, no entanto, acredito, nem saber quem foi Karl Marx. Alguns adeptos da autoajuda já faziam suas palestras contra a insatisfação crescente, principalmente entre os estudantes, com a repressão que vinha de fora e de dentro das famílias. Os ecos dos anos sessenta estavam, finalmente, chegando na nossa terra e mostrando suas garras, colando-se em algumas pessoas. As canções de protesto continuavam importantes nas nossas rodinhas de domingo à noite, na Praça da Matriz, quando se buscava entender as mensagens, algumas cifradas, que seus compositores queriam “passar” para as pessoas. O Brasil que se urbanizava foi palco para a criação da bossa nova (o jazz brasileiro, para o resto do mundo), a partir da batida sincopada do samba de João Gilberto, alimentada pelo romantismo de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Na onda do rock’n’roll, a Jovem Guarda, comandada por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderléa cantava a tristeza e a ingenuidade da juventude. Mas essa mesma juventude vai se encantar também com as canções de protesto e com a tropicália. A tropicália, que notabilizou os baianos (Caetano, Gil, Gal e Bethânia), trouxe como novidade a introdução dos metais e do som elétrico à música popular brasileira. Essa prática vai se consolidar com os trios elétricos baianos. Uma outra característica da tropicália foi procurar aproximar, musicalmente, os países latinoamericanos, cantando seus costumes e fragmentos de sua história. As canções de protesto podem ser identificadas por: 1) ter letras engajadas politicamente, elaboradas por compositores que explicitavam sua posição política, mesmo que não fossem filiados a partidos políticos; 2) tratar dos temas considerados sociais, desde os costumes, a migração, a cidade, a pobreza, a propriedade da terra, a América Latina etc.; 3) ter como alvo, preferencialmente, o regime político vigente (a ditadura militar que governou o Brasil entre 1964 e 1985). Eu também fui um garoto que amou muito os Beatles, The Ventures, Bob Dylan e Elvis Presley e amou pouco os Rolling Stones. Não tenho nenhuma medalha de guerra no peito (3), mas um coração que bate nos ritmos das canções dessa turma e dos filmes assistidos no Cine Vera Cruz, que se tornou apenas um nome enfraquecido na memória. Nas horas de inspiração que vinha não sei de onde, motivado pelas canções de protesto, pela Jovem Guarda e pelos Beatles, já compunha algumas canções que foram gravadas somente em 2011, 2018, 2019 ou 2020, nos discos “Cenário”, “Meu canto geral’, “Viver no campo” e “Samba, bossa nova e algo mais,” disponíveis no Spotify. Todas essas tendências marcaram bastante a minha vida. Hoje, os CDs que tenho e que guardo com carinho, trazem gravadas, junto com minhas lembranças, as canções que eles e elas fizeram para mim. Voltando ao que falava antes, no ano seguinte, ministrei aulas no período da manhã, na Escola Estadual de Primeiro Grau Maria José Barbosa Castro, para a turma do quarto ano. Naquele tempo, ser professor era uma honra e dependia muito dos méritos de cada um. No horário do recreio, lia quando podia ou conversava com o “servente da escola”, José Tomé Sobrinho, meu amigo por muito tempo, até seu falecimento não sei quando. Pude ver o Brasil tricampeão, com vários primos, no velho sofá de courvin, na TV Colorado, em branco e preto, comprada com meu salário. O percurso para a escola era feito diariamente e eu passava em frente ao CELSA (escola onde fiz o ginasial), quando compus minha canção “Se a memória não me falha” (que está no CD “Cenário”), pois cruzava, todos os dias, com uma moça que nunca mais vi. Para ganhar alguma coisa mais, fiz a seleção e trabalhei na aplicação dos questionários do Censo Demográfico de 1970, na zona rural, ao norte de Pirapozinho, no Bairro do Km 25, na estrada para Presidente Prudente. Cursar Geografia estava no meu horizonte desde o segundo grau, como já afirmei, quando acompanhava as aulas de Geografia, mesmo que o professor se limitasse aos mapas coloridos, aos fatos mais banais e à descrição dos territórios. Não havia, ainda, em meus sonhos futuros, nada que apontasse para o trabalho na Universidade; a palavra pesquisa ainda não estava escrita em meu glossário do cotidiano nem em minhas aspirações profissionais. A GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA, COMEÇO DO TEMPO NÃO IMAGINADO Em 1971 iniciei efetivamente o curso na FFCLPP. Em agosto, fiz concurso para desenhista e fui aprovado. Passei a trabalhar e estudar na mesma faculdade. Trabalhava de manhã e à noite, seguia o curso à tarde. O curso era seriado e se alternava, de ano a ano, entre os períodos da manhã e da tarde. As disciplinas duravam o ano todo. A partir daí, já não viajava os vinte quilômetros que separavam Pirapozinho de Presidente Prudente diariamente, mas mudei-me para a Pensão Portuguesa, na Rua Dr. Gurgel, onde dividia quarto com um outro jovem do qual só me resta vaga lembrança. Agora já estou falando da faculdade. Durante o curso de Geografia, alguns acontecimentos merecem ser lembrados porque tiveram seu papel em minha vida acadêmica. Participar, desde o primeiro ano, das “excursões” foi uma agradável novidade. Conhecer, ainda em construção, as usinas hidrelétricas Capivara e Ilha Solteira; fazer entrevistas e aplicar questionários em Ribeirão Preto, Piracicaba, Mococa; percorrer os três planaltos do Paraná, desde Londrina até Paranaguá; ter a aula de campo no barranco da SP-270, no município de Maracaí para conhecer os folhelhos; visitar Pedrinhas e outros tantos lugares que se apresentavam como diferentes paisagens para o início da leitura geográfica que, aos poucos, foi se tornando familiar. As aulas de Cartografia e Topografia, aos sábados, ministradas por Marcos Alegre, com o ambiente da descontração e da prática constante do desenho; as aulas de Geografia Econômica, com as provocações teóricas, já nessa época, do Armen Mamigonian; as aulas eruditas de Antropologia Cultural, com Max Henri Boudin, que aprovava todo mundo com nota máxima e não fazia chamada, mas que, para os poucos que permaneciam, eram momentos especiais para a descoberta de novas palavras; a racionalidade da Idade Média e do Renascimento pelo Dióres Santos Abreu que, lendo seu jornal e não vendo meus colegas “colarem”, sabendo que eu havia obtido a maior nota na primeira prova, na segunda, ao ver minha nota 4,0, apenas comentou que eu “dormira sobre os louros”. As aulas de campo de Geologia, com o José Martín Suárez (Pepe), sempre com seu “martelito” e escalando vertentes, eram incompreensíveis para todos os que viam naquilo apenas mais uma observação de barrancos; a dureza e seriedade da Ruth Kunzli, na Antropologia Física, medindo nossos crânios e narizes, classificando nosso sangue (desde aquele tempo eu sei que sou O+) e reprovando a maioria da classe; a Climatologia, do Hideo Sudo, e a dificuldade para fazer os exercícios de balanço hídrico; a história da Terra, com o Alvanir de Figueiredo, e o desenho das eras geológicas num rolo de papel higiênico, para mostrar a insignificância do quaternário em apenas um centímetro de papel. Como desenhista da FFCLPP, pude organizar gráficos e cartogramas das teses de muitos professores. Esse testemunho está presente na bibliografia produzida na faculdade, com as teses de geógrafos como José Ferrari Leite, Márcio Antonio Teixeira, Dióres Santos Abreu, Armando Garms, Hideo Sudo, e de professores de outros cursos como Thereza Marini, Wilson de Faria, Maria de Lourdes Ferreira Lins, José Arana Varela... Em 1972, quando se realizou em Presidente Prudente o I Encontro Nacional de Geógrafos, elaborei todos os cartogramas do Guia de Excursões publicado pela AGB e fiquei de plantão para as eventualidades do acontecimento, como fazer cartazes, cartogramas e avisos de última hora. Por causa disso, não acompanhei todos os trabalhos que se desenvolveram no Anfiteatro I, mas pude ver que o tema predominante discutido foram os grandes projetos do governo militar (rodovia transamazônica, grandes hidrelétricas), mesmo que estivesse emergindo, claramente, o embate metodológico e ideológico entre a geografia neopositivista e a marxista. Assim, a “administração” estudantil da academia já tinha a minha contribuição. Enquanto graduando da Geografia, fui presidente do Centro de Estudos Pierre Deffontaines. Durante a gestão, foi importante a realização de cursos de extensão, com as presenças de Juergen Langenbuch, Amália Inés de Lemos, entre outros. Nessas ocasiões, os professores que vinham de fora expunham suas ideias e, aos poucos, os estudantes de Geografia foram vendo que não havia somente uma tendência geográfica ou apenas um centro de referência, que era a Universidade de São Paulo. Durante o ano de 1974 eu monitorei as aulas práticas de Topografia, quando os alunos, manuseando os velhos teodolitos, faziam as anotações nas suas pranchetas, durante um ano, para completar a poligonal do terreno onde estava a então FAFI. Num sábado de novembro, a Carminha se aborreceu com as colegas que não anotaram os ângulos e a diferença altimétrica da mira (régua graduada que auxiliava nas medições verticais). Como eu era o responsável pelo acompanhamento das aulas, fui, no final daquele sábado, à sua casa para me desculpar por não ter verificado o trabalho das colegas. Ela chegava, com a família, da feira. Depois dessa conversa, combinamos uma saída para o dia 21 de novembro. Aí começou o romance que já dura 46 anos. Durante esse tempo aconteceram tantas coisas boas que a minha memória (humana, e não RAM ou ROM) não conseguiu registrar em sua maioria. Em 1975, já formado, participei, durante todo o ano, de um curso de especialização intitulado “O Extremo Oeste Paulista”, quando pude ver mais de perto e em detalhes, o território do hoje Pontal do Paranapanema. Ainda não havia os sem-terra. O algodão, que sucedera o café, já havia se esgotado e as pastagens se espalhavam por toda a área. A experiência de colonização da Fazenda Rebojo mostrava sinais de fracasso. A imensidão das quase planas pastagens do município de Sandovalina, a nascente cidade de Rosana, com poucas casas e roças em suas quadras, eram exemplos que ainda hoje têm sua presença na área. Enquanto desenhista da FFCLPP eu tinha, na sala de trabalho, amplo espaço para, juntamente com outros colegas (lembro do Mauro Bragato, deputado estadual por São Paulo desde 1978, do Macarrão, do Donaton, eles alunos e de professores como Carlos Tartaglia), principalmente das Ciências Sociais, passar algumas noites, ao lado da caneta de nanquim e da máquina de escrever elétrica IBM, com esfera (grande novidade naquele momento), montando os números de Carcará, cujo cognome era pega, mata e come (nome que eu criei), nosso jornal estudantil que, inspirado nos semanários Opinião e Movimento, expunha as nossas versões dos fatos que mais tocavam nossas preocupações. Essas atividades “clandestinas” quase me custaram o emprego. Fiquei sabendo, muitos anos depois que, em reunião da congregação da FFCLPP, lá pelos idos de 1975, mais ou menos, foi colocada, em pauta, minha demissão “a bem do serviço público”, porque eu fazia jornais estudantis, durante a madrugada, em minha sala de trabalho. Havia, sim, uma pedra no caminho. Felizmente, só vim a saber dessa caça muito tempo mais tarde. Esse ano foi bem movimentado. Curso de especialização, quase demissão... também foi minha primeira experiência como candidato a uma vaga na faculdade, na área de Cartografia. Recém formado, não tinha qualquer expectativa. Compuseram a banca Gil Sodero de Toledo e Manuel Seabra, da USP, além de Marcos Alegre, “da casa”. Segundo Gil, ambos queriam “apostar” em mim porque eu tinha habilidades com mapas e, com vinte e cinco anos, teria ainda muito tempo para a profissão. A Congregação (naquele tempo não havia o concurso nos moldes atuais, pois era uma entrevista a partir do currículo do candidato que dava as informações para a banca tomar suas decisões) optou por contratar um mestrando da USP, que se constituiu num dos maiores fracassos docentes do Departamento de Geografia. Nesse ano, houve outro acontecimento importante para a minha vida. Esteve em Prudente, apresentando sua tese, defendida no ano anterior, Armando Corrêa da Silva. Por sugestão de Armen Mamigonian, conversei com ele para ver se eu seria recebido para uma entrevista porque eu pleitearia uma vaga no mestrado da USP. Ele foi atencioso e, mesmo não se lembrando de mim, um ano depois, quando fui me apresentar, selecionou-me com mais outros seis candidatos, entre doze. Daqueles sete mestrandos, apenas eu e Amélia Damiani concluímos a dissertação. Em 1977, seis meses antes de meu casamento, tive que enfrentar uma encruzilhada tríplice. Teria que me mudar para São Paulo para continuar o mestrado. Solicitara, à FFCLPP, afastamento por dois dias da semana, com horário especial de trabalho. Havia prestado concurso na Caixa Econômica Federal, com mais uns 50.000 candidatos. E havia sido contemplado com uma bolsa da FAPESP. O que fazer? Por qual saída optar? Para desespero de meu futuro sogro, optei pela bolsa da FAPESP. Ele queria que eu optasse pelo emprego na Caixa Federal, mais garantido e com salário equivalente ao dobro do valor da bolsa. Fui ao prédio da Caixa, na Praça da Sé, assinar minha desistência da vaga para que um outro candidato pudesse usufruir o emprego. É inesquecível o desespero da funcionária que não queria me deixar assinar o papel da demissão, dizendo que eu iria me arrepender, que eu “desse uma voltinha”, “pensasse um pouco mais”... Depois de meia hora perambulando pela praça, eu, que fora para a sede da Caixa com a decisão tomada, ficara indeciso pela atitude de uma outra pessoa. Voltei imediatamente, assinei a demissão, deixando a funcionária ainda de olhos arregalados, dei meia volta, desci as escadas e nunca mais voltei àquele prédio. Junto com aquele papel de desistência, ficou um futuro que eu nunca conheci, do que não me arrependo. MESTRADO, DOUTORADO A matriz que todos seguiam, predominantemente, para se elaborar dissertações e teses, era a estrutura das monografias regionais, baseadas na Geografia Regional francesa. Primeiramente, descreviam-se os aspectos físicos da área estudada, em seguida eram abordados os aspectos demográficos para, finalmente, se descrever os aspectos econômicos. Na conclusão, tentava-se, nem sempre se conseguindo, “amarrar” essas três partes, geralmente enfocadas separadamente. Essa era uma característica da produção do conhecimento geográfico de então. A outra, era escolher um tema da área de origem ou onde habitava o mestrando ou doutorando. Esse problema também a mim se apresentou. E a escolha caiu, claro, em duas pequenas cidades do Oeste de São Paulo, ainda conhecida regionalmente como Alta Sorocabana. As cidades foram Pirapozinho (sede do município onde nasci), situada a vinte quilômetros ao sul, e Álvares Machado, a dez quilômetros a oeste de Presidente Prudente. O outro problema foi escolher a base teórica. Repetir as descrições da população, do comércio ou da zona rural dos municípios não agradava nem a mim, nem ao orientador. Mas ainda ressoavam os ecos do êxodo rural e a evidenciação, na escala regional, dos trabalhadores boias-frias. Decidiu-se, então, estudar o movimento da população das duas pequenas cidades. Como? Medindo e descrevendo a perda de população? Aí a pergunta se inverteu: ao invés de estudar por que as pessoas migram, resolvemos, eu e o orientador, tomar a decisão de eu estudar por que elas permanecem em suas cidades. Mais uma pergunta compareceu: quais as teorias que poderiam, inicialmente, direcionar as investigações. A decisão também não foi fácil. Depois de algumas conversas, resolvi investigar como as pessoas percebiam seu espaço e, a partir daí, tentar buscar as explicações do porquê elas se fixavam no seu território, evitando se deslocar temporária ou definitivamente. A opção foi pela teoria de campo de Kurt Lewin, cuja contribuição na Psicologia Gestaltista privilegiava, com seu conceito de espaço vital (4), a posição do indivíduo em relação às formas (residência, bairro, rua, cidade, por exemplo) de seu espaço vivido. Da Geografia da Percepção afastei-me, posteriormente, completamente, por absoluta falta de interlocução com as pessoas que adotaram essa tendência como temática. Por ser, a teoria de campo de Kurt Lewin de caráter estruturalista, ela se adequou, em grande parte, à outra teoria à qual recorri para compreender o espaço urbano de Pirapozinho e Álvares Machado: os dois circuitos da economia urbana que, elaborada por Milton Santos nos anos 1970, havia chegado recentemente ao Brasil, em seu livro “O espaço dividido”, de 1978. Entre essas decisões e a defesa, casei-me com a Carminha, em 4 de fevereiro de 1978. Na véspera, eu desci do ônibus da Andorinha, na estação rodoviária de Presidente Prudente e contei a ela que havia esquecido num táxi, em São Paulo, minha carteira com os três mil cruzeiros que eu havia recebido pela rescisão de meu contrato (equivalentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) enquanto desenhista da UNESP, que serviriam para os primeiros meses seguintes. Era carnaval e o nosso casamento foi uma festa só. Desde a cerimônia na Igreja de Santa Rita de Cássia, em Presidente Prudente, até a festa no Centro do Professorado Paulista. Das palavras do padre, não me lembro nada. O registro de tudo foi feito em câmera super 8... Lembro Lupicínio: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa, quando começa a pensar... À meia noite, nós dois partimos, em um velho ônibus da Andorinha. Em São Paulo, passamos os três dias de lua de mel no Hotel Piratininga, lá perto da Estação Júlio Prestes. Na terça-feira de carnaval fomos buscar a minha carteira na casa do taxista que, felizmente, comunicou-se deixando seu endereço. Estava tudo certinho: documentos e dinheiro. Como agradecimento, demos um terço do dinheiro para o honesto taxista porque sua casa, na Freguesia do Ó, era realmente precária. Alguns dias depois, tomei um ônibus da Real Expresso para Ijuí, para ministrar aulas concentradas para professores leigos, na FIDENE, atualmente UNIJUÍ, que se tornou importante ponto de apoio para nossas excursões geográficas com alunos de graduação, nos anos seguintes. Nessa universidade trabalhei até 1980, indo duas vezes ao ano, nos períodos de férias. Lá também trabalhavam os amigos Dirce Suertegaray, Helena e Jaeme Callai. No dia 20 de julho de 1980, fomos contratados, Carminha e eu, pela UNESP, campus de Presidente Prudente, naquele tempo IPEA – Instituto de Planejamento e Estudos Ambientais. No início do ano, depois de um capítulo conturbado (demissão de Armen Mamigonian, transferência de quatro outros professores para a UNESP de Rio Claro), foram abertas cinco vagas para concurso. Com meu currículo, naquele momento mestrando na USP, consegui a primeira colocação, quando também foi escolhida Alice Asari (que depois se transferiu para a UEL, onde se aposentou) e, em seguida, a Carminha. As outras duas vagas foram preenchidas logo depois. Em 20 de agosto de 1981, nasceu o Caio. Com cara brava. Primogênito. Nasceu por meio de cesariana, por impaciência do pediatra. No berçário, era a alegria dos avós porque foi o primeiro neto do lado dos Beltrão. Caio demorou para falar mas, quando o fez, já articulava bem as frases. Uma característica sua é inesquecível: ele conjugava os verbos como no italiano: eu ‘tavo, eu querio... Quando eu perguntava a ele: “Topas?”, ele respondia: “Topos!” Cabelos loiros, foi chamado por sua primeira professora de “príncipe”. Na França, passou pela escola de estrangeiros, conhecendo jovens de vários países. Aprendeu bem o francês, o que o ajudou no vestibular da UNESP, pois fez Desenho Industrial em Bauru. Voltando um pouco ao tema da pós-graduação, o resgate da história do Oeste Paulista, a aplicação de questionários e a interpretação dos dados à luz das duas teorias adotadas, foram as atividades predominantes na elaboração da minha dissertação de mestrado, defendida na Universidade de São Paulo, em 19 de maio de 1984. A defesa que contou, na banca, com os professores Pasquale Petrone e Marcos Alegre (presidida por meu orientador, Armando Corrêa da Silva), transcorreu tranquilamente, se se considerar o que ocorrera nos seis meses anteriores. Em setembro de 1983, a dissertação estava pronta. Nesse mês, o orientador teve um surto e foi internado em um hospital psiquiátrico, onde permaneceu por aproximadamente três meses. Resolvi não entregar a dissertação à Seção de Pós-graduação da FFLCH/USP. Aguardei novidades. Passou-se o Natal, passou-se o réveillon, nas férias de janeiro a situação permaneceu indecisa. Em fevereiro, entreguei os exemplares. Ele havia saído do hospital e reiniciava suas atividades no Departamento de Geografia. A defesa, como já foi anotado, ocorreria somente em maio. A partir de fevereiro, tudo transcorreu bem. De volta para casa, Armando (a quem presto minha sincera homenagem) me convidou para um café em seu apartamento, onde ele costumava discutir aquilo que eu escrevera, entre 1978 e 1982. Tudo estava destruído (a estante, a TV, a cama, a máquina de escrever...), exceto o piano. Neste momento, imagino estar ouvindo My way, canção de Paul Anka imortalizada por Frank Sinatra, entoada pelos dedos cansados do Armando. Era o seu way of life, era o my way do Armando. A sensação de lembrar desses acontecimentos é estranha e, ao mesmo tempo, agradável. É bom lembrar daquilo que realizamos, daquilo que compartilhamos com as outras pessoas, com suas virtudes e suas limitações. Em nossos encontros de orientação, eu ouvia o Armando falar duas, três horas. Quando ele se cansava, depois de vários cafezinhos, algumas bolachinhas ou mesmo um almoço em algum restaurante da Rua Fradique Coutinho, em São Paulo, ele me ouvia por quinze minutos e aprovava tudo o que eu havia escrito. Às vezes, depois de algumas semanas, chegava uma carta com sugestões de leituras voltadas para a temática da dissertação. Faz bem para a alma a sensação de lembrar que o Ítalo, com seus 4,200 kg, nasceu no dia 29 de outubro de 1984. Gordíssimo. Alegre. Sorriu com poucos dias de vida fora do útero da mãe. Seu avô Ernesto o chamava de “Maguila”. Nas festas, sempre o mais alegre e o mais animado. Sempre próximo à mesa dos doces. Mais tarde, revelou-se bastante curioso: sempre com uma pergunta sobre um ou outro assunto. Lia e lê bastante. Sua vontade era chegar à altura de 1,90m. Na França, depois de três meses de angústia, adaptou-se muito bem, fez vários amigos, jogou no Saint Mandé F.C., como o Caio. Saiu de lá falando francês sem sotaque, para espanto dos próprios franceses. Em 1985 fiz uma pesquisa sobre a localização industrial em Presidente Prudente, como parte do plano trienal, que foi publicada, posteriormente, na Revista de Geografia da UNESP. Foi nesse período que, entusiasmado com as possibilidades de mudanças políticas na política municipal, engajei-me, juntamente com alguns colegas da UNESP (entre eles a Carminha), na investigação direta para a elaboração de políticas de transporte e habitação para a cidade de Presidente Prudente. Como trabalho acadêmico, a experiência foi excelente, mas como resultado prático, de intervenção política, mostrou-se um fiasco pois o poder público local (na figura do prefeito Virgílio Tiezzi) simplesmente “engavetou” todas as propostas (no relatório já estava a proposta de corredor de ônibus, baias para as paradas, linhas e pontos de parada com melhor distribuição etc). Mesmo que a vontade de mostrar as diferentes possibilidades de intervir, politicamente, na solução de certos problemas urbanos, tenha sido grande, a roda viva dos compromissos assumidos pelo então prefeito inviabilizou completamente qualquer tentativa de estabelecer planos para a circulação e, um pouco menos, para a habitação. A frustração foi muito grande! Voltemos à UNESP. Institucionalmente, exige-se, ligado ao plano trienal de atividades, um trabalho de investigação. Escolhi a localização industrial para verificar como se comportavam os padrões clássicos de localização na área urbana da cidade e se havia alguma evidência específica do lugar, no ano que “separou” a defesa do mestrado e a aprovação na seleção do doutorado na USP. Nesse período, como presidente da AGB local, organizei uma atividade que merece ser registrada: um curso de extensão universitária ministrado por Carlos Fantinati, da UNESP de Assis, que articulava a literatura brasileira com a descrição das paisagens: Guimarães Rosa, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Mário Palmério, entre outros, tiveram seus escritos “dissecados” para que neles os participantes pudessem ler as paisagens de diferentes áreas do Brasil. Em 1986, iniciei as disciplinas do doutorado. A orientação, desta vez, cabia ao Ariovaldo Umbelino de Oliveira (que, diga-se de passagem, orientou várias pessoas de Presidente Prudente). Para acompanhar as disciplinas, foi preciso viajar, semanalmente, durante o período letivo, de Presidente Prudente a São Paulo. A cada dia que passava, parecia que os 560 km iam se tornando mais longos. Os nomes das rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco já causavam arrepio nos últimos meses, porque o cansaço, durante um ou dois dias, na USP, dificultava um pouco o acompanhamento das aulas. Depois do lanche no restaurante do português, só sobrava o gramado da FFLCH para repousar. Eis aí um mérito dos estudantes que migravam, diária ou temporariamente, para a USP para realizar o mestrado ou o doutorado: era preciso resistir cada um à sua maneira... a cada um as distâncias de suas cidades, de cada um a resistência possível. Depois de dois anos de indecisão sobre qual tema estudar no doutorado, optei, depois de algumas conversas com o Ariovaldo, por estudar como se produz e como e quem se apropria da renda fundiária urbana em Presidente Prudente. Nesse momento, não havia nenhuma angústia teórica. Eram os autores marxistas, que já falavam da renda fundiária urbana, alguns estrangeiros como Christian Topalov, Alain Lipietz e Samuel Jaramillo, outros brasileiros, como Ignácio Rangel, Cláudio Egler, João Sayad e o próprio orientador. Lá atrás, na base de todos eles, o velho e eterno Karl Marx. Tive acesso ao cadastro urbano da Prefeitura Municipal. Essa fonte de dados foi fundamental para a organização e o mapeamento dos proprietários urbanos. Com isso, pude detectar quem eram os grandes especuladores e quais eram as principais áreas de especulação real ou futura. Como a referência era, fundamentalmente, os terrenos vazios, o seu mapeamento, em cor amarela (no cartograma que reside na cópia que tenho da tese), deu um tom melancólico ao cartograma, quebrado apenas com as cores azul, referente aos domicílios realmente ocupados e vermelha, que se referia a comércio e serviços. Como as áreas verdes na cidade se restringem ao Parque do Povo, uma faixa no sentido NW-SE quebrava a monotonia da figura. Uma das conclusões que mais me agradam, após ter exposto como, quando e por quem é apropriada a renda fundiária urbana, foi a constatação da existência de uma espécie de “muralha” não construída ao redor da cidade, constituída pelas glebas loteáveis que estava à espera do momento para realizar a renda e passá-la ao seu proprietário. Essa “muralha” lembra o caráter “quase medieval” que aparentava a propriedade fundiária em Presidente Prudente, cercando a cidade e definindo seus momentos de expansão horizontal. Os colóquios com o Ariovaldo corriam diferentemente daqueles que fiz com o Armando. Eram, agora, realizados na USP, em sua sala da FFLCH. A discussão passava, inicialmente, pelo texto da tese para, depois, os assuntos do cotidiano universitário merecerem alguma atenção. Algumas vezes, depois de passar a noite inteira no ônibus, indo de Presidente Prudente para São Paulo, aguardar das nove da manhã até às quatro da tarde para ser atendido, sentado no corredor, tomando cafezinho, lendo alguma coisa, encontrando um ou outro colega pós-graduando... Esse era o ritmo da USP, mas quando a reunião começava, as conversas eram longas e agradáveis, falando-se dos escritos da tese, de leituras por fazer ou da vida universitária. Na minha defesa, estiveram presentes Jayro Gonçalves Melo, que focalizou o papel do poder público; Roberto Lobato Corrêa, cuja importância na Geografia brasileira dispensou seu inexistente título de doutor, analisou o espaço urbano; Manuel Gonçalves Seabra, que deu uma aula sobre O Capital e alguns desdobramentos da análise marxista da cidade e Armando Corrêa da Silva, que chegou atrasado e não havia lido a tese mas que, no final, informou que faria 27 perguntas, fez 13, das quais eu respondi apenas quatro, que na realidade eram aquelas mais diretamente envolvidas com o tema da tese. Ao encerrar a sessão, Ariovaldo, o orientador, afirmou que estava começando a se desligar das orientações em Geografia Urbana porque iria voltar-se, doravante, a se preocupar mais com as questões agrárias. Desde as disciplinas do doutorado tenho procurado me pautar, ao realizar investigações empíricas ou discussões teóricas, na dialética como método e no materialismo histórico como doutrina. Entre o mestrado e o doutorado, mais precisamente em 1986, fiz concurso para professor assistente na FCT/UNESP. Fizeram parte da banca os já citados, neste texto, Pasquale Petrone e Marcos Alegre, aos quais somou-se Olímpio Beleza Martins. A prova didática teve como ponto sorteado a mobilidade da população brasileira que eu enfoquei, historicamente, como continente de força de trabalho, a exemplo do que, muito mais tarde, fui conhecer na obra de Gaudemar, publicada, na França, em 1977. Durante a aula, desenhei na lousa, com giz de diferentes cores, o mapa do Brasil com setas, circunferências e ângulos, para mostrar os fluxos de população em diferentes épocas. No dia seguinte, um apagador eliminou aquele desenho tão bem feito. Os momentos de maior euforia pelas defesas e concurso foram, para mim, também momentos de grande tristeza. É impressionante o que a reação das pessoas pode provocar na gente. Após cada um desses acontecimentos, eu passava pelos corredores da faculdade e me sentia muito só. Não havia qualquer reconhecimento ou mesmo contentamento, mesmo que forçado, por parte da maioria dos colegas de departamento. A vontade de ir embora, de fazer concurso em outra faculdade, enfim, de buscar algo novo era recorrente, após cada um dos concursos. Ao lembrar dessas frustrações, vêm à mente as figuras de Armen Mamigonian e de Dióres Santos Abreu, aqueles que realmente incentivaram e sempre cobraram a continuidade da carreira acadêmica. Os outros, alguns mais, outros menos, no cafezinho, no futebol, nas happy hours na padaria do Gilberto, que sempre achava uma maneira de aumentar o número de cervejas consumidas, demonstravam uma ponta de crítica que denotava, inconscientemente, uma forma de arrefecer os ânimos para a pesquisa, para a carreira. Nunca as opiniões eram claramente explicadas; ficava apenas um ar de reprovação pelo “pouco tempo” para fazer a carreira (veja lá, foram seis anos para mestrado e seis anos para doutorado), em bloquear a possibilidade de continuar estudando, com insinuações de a gente sempre querer fazer a “tese do século”. Lembro-me que nesse momento eu soube, em um dia qualquer que já se perdeu na memória que, numa comparação entre a vida acadêmica no Brasil e nos Estados Unidos, chegou-se à seguinte conclusão: lá, a maior causa do stress é a necessidade de se produzir, incansavelmente, artigos para se publicar; no Brasil, a maior causa é aquilo que se diz e o que não se diz nos corredores da academia. Eu senti isso na pele, no coração, na cabeça, nos olhos... Fazendo este texto, veio-me mais uma reflexão. O que é a autocensura? Ao fazer este depoimento, será que estou sendo severo com os colegas? Será que tudo não passa de fruto de minha imaginação? Ou será que, inconscientemente, estou minimizando os conflitos psicológicos que ocorrem diariamente nas relações profissionais? Espero estar me distanciando um pouco do autoengano pois procuro, sim, minimizar o que as pessoas fazem, quando o sentido visto em suas ações é negativo. No entanto, não posso esquecer e simplesmente ignorar o que ocorre ou ocorreu. Apenas posso dizer, com tranquilidade que, se a realidade é mais rica que a imaginação, às vezes a imaginação é mais sensível e mais afiada que a faca do churrasco de alguns fins de semana... Podemos perdoar, mas não precisamos esquecer. Não estou fazendo um texto que retrate minha vida como geógrafo? Pois é, vamos, então, avivar, pouco a pouco, a memória. E ela tem que contar, necessariamente, com as lembranças que permaneceram. Outra reflexão: na medida em que vamos chegando mais próximos do presente, os detalhes das lembranças se ampliam, mas ao mesmo tempo, a preocupação com a sua interpretação também se torna maior. Os acontecimentos ainda estão “quentes” na memória e poderão ter outros desdobramentos, além daqueles que podemos ver com clareza no momento da narrativa. Uma boa batalha que enfrentei foi quando me tornei diretor da Revista de Geografia da UNESP. Defendi a proposta de tornar a revista mais conhecida, com lay out da capa mais agradável à vista... Aí a reação do Odeibler foi rápida. Procurou me desautorizar na fase de impressão do número dez da revista! Em uma reunião no prédio da Avenida Rio Branco, em São Paulo, onde então funcionava a Editora da UNESP, tive que expor, veementemente, todo o seu autoritarismo para todos os membros da Comissão Editorial, “lavando a alma”. Conclusão: algumas pessoas conseguem, a vida inteira, complicar e atrapalhar o decorrer dos fatos. Outra experiência interessante foi ser presidente da ADUNESP (Associação dos Docentes da UNESP), seção de Presidente Prudente. O ano de 1988 foi marcado por intensa movimentação sindical por aumento de salário. Acredito que, sempre que reivindico algum cargo (sem qualquer paranoia), surge, do outro lado, uma oposição que persiste em fazer algum teste. Quando me candidatei à presidência da ADUNESP, isso ocorreu, como ocorreria, posteriormente, quando da candidatura à coordenação do Curso de Geografia ou da Pós-graduação. No Anfiteatro I da Faculdade de Ciências e Tecnologia, em maio de 1988, fui sabatinado, juntamente com outros membros da diretoria, dos quais estava, ao meu lado, na mesa, a Luiza Helena Christov. Qual era o nosso compromisso sindical, qual nossa visão de universidade, qual era não sei mais o quê... Nunca mais, pelo que me lembro, qualquer outro candidato foi sabatinado publicamente. O mandato de nosso grupo foi bastante movimentado. Uma greve de 75 dias marcou o final do ano de 1988. Eu ficava mais dentro do ônibus, indo e voltando de São Paulo, do que em minha própria casa. As intermináveis reuniões, as “questões de ordem”, a falta de objetividade dos companheiros, eram regadas a café e água. Quantas vezes passamos o dia com apenas um sanduíche! Só no final do dia, lá pelas sete ou oito horas da noite, quando o primeiro “caía”, é que os outros se davam conta de que a resistência física tem limites. Aí, novamente o ônibus de volta para, no dia seguinte, expor, em assembleia, tudo o que havia sido discutido em São Paulo. A democracia é complexa. Ouvir “as bases” é necessário para dar respaldo às tomadas de decisões nos fóruns das entidades. Por outro lado, ficar ouvindo as bases coloca os representantes da entidade num círculo vicioso que limita qualquer margem de pronunciamento ou negociação. Os limites, muitas vezes, emperravam as discussões por uma, duas semanas. Mas era preciso exercitar, ouvir, ser cobrado pelos colegas, tentar alguma saída. As universidades públicas ainda não tinham sua cota fixa do ICMS (hoje as universidades paulistas têm sua autonomia financeira: sua receita é igual a 9,57% da arrecadação do estado – vitória homologada em janeiro de 1989). Assim, o grande inimigo era o governador do estado. Uma vez, numa manifestação próxima ao Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, quando o governador era Orestes Quércia, enfrentamos, silenciosamente, a tropa de choque. À direita e à esquerda, os muros; sob os meus pés, o asfalto quente; em frente, o olhar arregalado dos soldados (que eram obrigados a ouvir o grito de guerra “você aí do lado, também é explorado”) com seus cassetetes e escudos, mirando aqueles “vermelhos” que queriam melhores salários. Nesse ir e vir – ora avança a tropa, ora avançam os manifestantes – aparecem os deputados que fazem as negociações (o senador Eduardo Suplicy devia estar por lá, nesse dia...), estabelecem uma pauta para uma próxima reunião com o governador, o pessoal sai aliviado. Os manifestantes que foram de Presidente Prudente entram numa Kombi que eu dirijo, já noite, pela Rodovia Castelo Branco lembrando, aliviado, que a esperança ainda existe, que da próxima vez o governador vai mudar, vai ouvir o sindicato etc. Uma prática que tivemos, em nosso mandato, que atualmente quase não se vê mais na minha unidade, é a prestação pública das contas da associação, em tabelas que eram fixadas nos murais existentes. São os anos noventa que agora entram em pauta. Eu já tinha o título de doutor. Candidatei-me para ser coordenador do Curso de Geografia e vi, mais uma vez na minha frente, a oposição cuja base ideológica era mais obstaculizar as propostas de avaliação, de mudanças curriculares, de reorganização dos trabalhos de campo e de cumprimento de horários docentes. Perder faz parte da vida, mas perder para uma chapa que tinha, como cabo eleitoral, alguém chamado Miguel Gomes Vieira, o energúmeno que já trabalhou (será que trabalhou?) no meu departamento, foi realmente frustrante. Esse acontecimento serviu para acirrar alguns ânimos e criar uma dicotomia do departamento que teve muitas consequências por um bom tempo. Estou lembrando essa situação porque ela foi fundamental para os problemas que tivemos (agora, no plural, porque envolve toda a família) para obter o afastamento para realizar o nosso pós-doutorado na Universidade de Paris I, a Sorbonne-Panthéon, mais precisamente no Institut de Géographie, na Rue Saint-Jacques. Uma dificuldade foi ver quem assumiria as aulas, dentro da perspectiva da divisão mais adequada no departamento, fazendo com que aqueles que, durante anos, se esquivavam das salas de aula, tivessem a hombridade de substituir dois colegas (eu e Carminha) que iriam realizar o terceiro pós-doutorado do departamento. A outra dificuldade foi a prepotência do professor Antonio Christofoletti que, não tendo mais como atrapalhar meu afastamento, pediu-me, por telefone, para citar as bibliotecas e livrarias que eu poderia visitar na França, como estava declinado em meu projeto entregue ao departamento e enviado ao CNPq que já havia, por sua vez, aprovado minha bolsa. Quando eu lhe pedi para registrar por escrito, em seu parecer, essa absurda exigência, ele simplesmente se calou e, alguns dias mais tarde, meu afastamento foi aprovado pela CPRT (Comissão Permanente de Regime de Trabalho). A vida tem, por causa das inconsistências das pessoas, suas contradições burocráticas. Nós já tínhamos (Carminha e eu) sido premiado com bolsa do CNPq, já estava com passagem marcada para Paris, mas ainda não tinha a aprovação de meu departamento. Somente quando, espontaneamente e sem nenhuma obrigação, os colegas Bernardo Mançano Fernandes, Sérgio Braz Magaldi e Raul Borges Guimarães comprometeram-se a assumir nosas aulas, o afastamento foi aprovado. Dois minutos depois! Mas as coisas boas também acontecem. Depois de realizar curso de francês por dois anos com a professora Lilian Coimbra, passamos nos exames da Aliança Francesa, em São Paulo, e fomos contemplados com bolsa da CAPES. Como havíamos, também, solicitado bolsa para a FAPESP, recebemos a sua aprovação. Aí, o dilema era dos melhores: por qual bolsa optar? Somadas e subtraídas todas as vantagens e desvantagens, optamos pela bolsa do CNPq, órgão ao qual eu já estava vinculado, desde 1993, como pesquisador (atualmente 1B). No dia 18 de outubro de 1994 cheguei em Paris. Carminha, Caio e Ítalo chegaram quinze dias depois, já com apartamento alugado na Rue Jeanne d’Arc, em Saint Mandé, a cem metros do Bois de Vincennes. Depois de passar uma semana na Maison du Brésil, na Cidade Universitária, acertamos o aluguel com Monsieur Schoenfeld, gastando por volta de R$ 1.500 mensais (naquele ano, por causa do Plano Real, 1 real equivalia a 1 dólar!). A vida é cara em Paris. Se optasse por pagar menos, teria que morar mais distante ou em piores condições. Como não há opção sem perda, preferimos pagar mais para ficar mais perto de Paris e das futuras escolas das crianças do que ficar mais longe, com aluguel mais barato mas com maiores gastos em transportes e perdendo mais tempo para deslocamentos. A convivência com Jacques Malezieux e André Fischer foi excelente. Embora não tivesse obrigação, acompanhei suas disciplinas no Institut de Géographie durante o semestre letivo de dezembro de 1994 a maio de 1995, participei de aulas de campo pelas áreas de industrialização fordista no norte de Paris e pela Normandia, principalmente Rouen. Pude ajudar alguns alunos franceses em preparar seminários sobre o Nordeste brasileiro, pude falar um pouco sobre o Brasil e suas contradições em uma aula para estudantes de segundo ano de Geografia. Publiquei, na revista do CRIA (Centre de Recherches sur l’Industrie et l’Aménagement), Notes de Recherches, as principais conclusões de minha tese, defendida em 1990, e algumas ideias sobre a industrialização de São Paulo. Esse tema eu expus numa das reuniões do CRIA, quando estiveram presentes alguns amigos que ficaram na França: Thierry Rebour e Jean-Paul Hubert, entre outros. Também aí estava, nesse dia, Georges Benko. Na École de Hautes Études en Sociologie, cuja biblioteca foi, por mim, “varrida” de ponta a ponta na busca de textos que ajudassem meu projeto de pesquisa intitulado “Fluxos e localização industrial”, acompanhei o curso de Cornelius Castoriadis (que vinha sempre com seu boné marrom, de pele de castor, e seu casaco encardido pelo tempo), que falava durante exatos 110 minutos ao lado de um gravador, e deixava os últimos dez minutos para os debates. Quando completava duas horas de aula, despedia-se, levantava-se e desaparecia pela porta lateral. Como havíamos vendido nosso velho Del Rey 84 no Brasil, com o dinheiro compramos, na França, um Citroën 85, mais barato. Com esse carro pudemos fazer inúmeras e ótimas viagens pela França, pela Espanha, por Portugal, pela Itália... segundo as contas dos filhos, visitamos, no total, quatorze países. Algumas viagens tiveram, inclusive, objetivos especiais. Fomos visitar a cidade dos ancestrais Parra e Vasquez, da Carminha, o pequeno vilarejo de Rubite, na Andaluzia, com 500 habitantes, onde não chovia havia vinte anos. Fomos visitar, no sul da Itália, mais precisamente na Calábria, a vila de onde veio meu avô Vicenzo Sposito, Cropalati. Na primeira cidadezinha, fomos muito bem recebidos, com alegria, almoço em família, muita conversa. Na segunda, apenas uma senhora, que não era Sposito mas era mulher de um deles, com sua netinha, ofereceu-nos um cafezinho e disse se lembrar, vagamente, que sua mãe falava que alguns parentes tinham ido fare l’América, há mais de quarenta anos. Durante o período de estágio, participei de vários eventos científicos. Na França, marcou bastante o Festival de Geografia de Saint-Dié-des-Vosges, na Lorena. Nesse festival que, apesar do nome, é um evento científico, premia-se anualmente um geógrafo eminente com o prêmio Vautrin Lud. Se em 1994 havia sido laureado Milton Santos, em 1995 testemunhamos a premiação de David Harvey, cuja palestra, na última noite do evento, num auditório no alto de uma torre de estilo futurista, assistimos. Meninos, eu vi! Por causa desse evento recebi, por vários anos, correspondência da Mairie da cidade dando notícias do festival. Por isso, fiquei sabendo que o geógrafo premiado, em outubro de 2000, foi Yves Lacoste. O TRABALHO NA GRADUAÇÃO Ministrar aulas na graduação foi consequência direta de meu contrato com a UNESP, campus de Presidente Prudente, assinado em 20 de julho de 1980 (onde permaneci até 2 de abril de 2019, quando me aposentei, depois de 50 anos de trabalho). A atribuição de disciplinas, no Departamento de Geografia, seguiu critérios diferentes ao longo do tempo. Entre 1980 e 1987 (período aproximado), ela era definida pelos “mais antigos” e comunicada aos “mais novos”. Em outras palavras, o tempo era referência hierárquica entre os professores do departamento, critério definido pelos “mais antigos” que se davam o direito de tomar as decisões que orientavam as atividades letivas de todos. Pode se dizer, ironicamente, que “o tempo definia a posição”. Posteriormente (e resultado de uma proposta que fiz aos colegas do departamento e que foi aperfeiçoada em pouco tempo), foi elaborado um ranking para a atribuição de aulas, privilegiando, por ordem, o trabalho de docência na graduação, as publicações e as atividades de extensão e administração (três últimos anos). As aulas no nível de pós-graduação não contavam porque houve reação de vários colegas que não estavam, ainda, credenciados no Programa de Pós-Graduação em Geografia. O ranking vigeu até meados da década de 2010 quando (na minha avaliação), por força daqueles que não tinham participação na pós-graduação (mais uma vez), ele foi abolido e as aulas passaram a ser atribuídas em reunião departamental (em formato de plenária). Isso gerou algumas distorções, como a sobrecarga de alguns e a quantidade menor de trabalho de outros, voltando ao que citei anteriormente, na década de 1980: uma hierarquização pela titulação e pelo tempo de serviço. Ter critérios claros e baseados na dedicação de cada um, portanto, deixou de ser referência acadêmica. As disciplinas que ficaram sob minha responsabilidade foram, por ordem de vezes que ministrei, Metodologia Científica em Geografia, Geografia Econômica, Evolução do pensamento geográfico, Geografia Regional do Brasil, Trabalho de campo, Geografia Urbana, Pesquisa em Geografia Humana, Espaço e indústria, e Geografia Social e Política. As disciplinas obrigatórias eram oferecidas em dois períodos (diurno e noturno) e as facultativas eram oferecidas em apenas um período, geralmente o noturno. A interação com os alunos merece uma rápida avaliação. Quando fui contratado, tinha idade e linguagem próxima dos alunos porque trabalhava do alto de meus trinta e poucos anos. Com o tempo, o distanciamento entre mim e os alunos foi se tornando, aos poucos, maior. Se antes eu estava próximo a eles nas aulas, nos trabalhos de campo, nos churrascos e em algumas reuniões festivas, a partir do início do século XX eu não era mais próximo a eles, mas passei a ser homenageado em Semanas de Geografia. Esse distanciamento foi fator decisivo para minha aposentadoria. Não ministro mais aulas no nível da graduação, apenas da pós-graduação. O TRABALHO NA PÓS-GRADUAÇÃO Em 1992, credenciei-me para ministrar disciplina e orientar, no Curso de Pós-graduação em Geografia da FCT/UNESP. A disciplina, Metodologia Científica em Geografia, que ainda hoje assino (estamos em 2020), foi básica, ao longo desses últimos oito anos, para as principais ideias contidas no ensaio que apresentei ao concurso de Livre Docência e que se tornou, em 2004, o livro publicado pela Editora da UNESP, Geografia e Filosofia, meu livro mais consultado entre os que publiquei. Os primeiros orientandos, bastante polêmicos, como José Gilberto de Souza, hoje na UNESP de Rio Claro e já livre-docente, e Adilson Rodrigues Camacho, na UNIP, em São Paulo, juntamente com o William Rosa Alves (orientando da Carminha), que foi professor na UFMG, formavam um grupo heterogêneo em busca de algum norte (ou sul) para suas dissertações. As suas dúvidas eram, mutatis mutandis, as mesmas que eu tivera quando iniciei o mestrado na USP. Entre 1992 e 1994 exerci a função de coordenador do Curso de Pós-graduação. Por força da função, participei da CCPG (Comissão Central de Pós-Praduação), que se reunia mensalmente no prédio da UNESP, na Praça da Sé, em São Paulo. Foi uma experiência muito gratificante porque o pró-reitor de então, Antonio Manuel dos Santos Silva, dera um caráter de reflexão à sua equipe, privilegiando mais as ideias que os papéis. Depois da volta da França, algumas dissertações foram duramente forjadas mas, outras, voltaram a dar a sensação de se ajudar um mestrando a fazer uma leitura científica da realidade. Assim, o estudo do mapa, com forte dosagem piagetiana, da Ângela Katuta, as belas descobertas feitas pela Ana Dundes em sua análise do discurso desenvolvimentista e da industrialização de Presidente Prudente, ou a análise do papel da indústria de cimento no desenvolvimento regional de Mato Grosso do Sul da Márcia Ajala de Almeida, foram excelentes dissertações. Os orientandos do doutorado também já me deram bastante satisfação, mesmo antes das suas defesas. O trabalho com maquetes, de Mafalda Francischett, buscando uma metodologia para o ensino da Cartografia, contribui para os cursos de graduação. A análise histórica da colonização em Silveira Martins, realizada por Marcos Saquet, que realizou estágio-sanduíche na Itália, mostra a desterritorialização dos italianos de Trento e sua reterritorialização no Rio Grande do Sul. Em 2000, João Márcio Palheta da Silva, que estudou as relações de poder e a gestão do território em Carajás, passou a ser meu orientando. A lista de orientados está detalhada no meu CV Lattes, acessível a todos na página do CNPq. Mesmo assim, posso agrupar as orientações por temas e por décadas. Na primeira década do século XX, a cidade foi estudada em diferentes recortes. No nível de mestrado, pelo recorte das cidades pequenas, o estudo de Paulo Fernando Jurado da Silva sobre a região de P. Prudente foi base para um livro que escrevemos juntos. O trabalho informal, com Marcelino Andrade Gonçalves; a migração de brasileiros para o Japão, com Denise C. Bomtempo; o ensino de Geografia, com Carolina Busch Pereira e Juliano Ricciardi Floriano Silva; a logística e os transportes, com Roberto França da Silva Junior; o pensamento geográfico, com Flaviana G. Nunes, Túlio Barbosa e Jônatas Cândido; eixos de desenvolvimento, com Cássio A. de Oliveira e Adilson A. Bordo, foram temas abordados. Mas o tema mais estudado foi a indústria, principalmente relacionada com as cidades médias; aí tive os alunos Eliane Carvalho dos Santos (estudo sobre Catanduva), Elaine C. Cícero (calçados em Birigui), Alex Marithetti (polos tecnológicos), Ítalo F. Ribeiro (Vale do Paraíba), Renan E. Borges (Uberlândia), Agda M. da Silva (tecnologia e indústria), Leandro Bruno Santos (multilatinas), Maria Terezinha S. Gomes (cidades médias e indústria), foram alguns destaques. No nível de doutorado houve, também, uma lista grande de temas que podem ser agrupados assim: na Geografia Econômica, de maneira geral, Cláudia Montessoro (trabalho informal em Anápolis), Sandra L. Videira (rede bancária), Ana C. Dundes (região de P. Prudente), Paulo F. Jurado da Silva (tecnologia). Na Geografia Urbana, José M. de Queiroz Neto (Altamira e a usina Belo Monte), Estevan Bartoli (Parintins); na Geografia da População, orientei Lirian Melchior (migração dekassegui), Adriano A. de Sousa (território e mobilidade social) e Xisto Serafim de Souza Jr. (cidade e movimentos sociais), Oscar Benítez González (Puebla, México), Yolima Devia Acosta (Villavicencio, Colômbia). Na Geografia Política, Dayana Marques (eixos de integração na América do Sul). Mas os dois temas mais estudados foram o pensamento geográfico, com Fabrício Bauab (conceito de natureza), Antonio E. Garcia Sobreira e José Vandério Cirqueira (ambos estudando a geografia libertária), Antonio H. Bernardes (tecnologia), José M. Chilaúle Langa (geografia em Moçambique) e Guilherme dos S. Claudino (o pensamento geográfico brasileiro) e, com igual densidade, a indústria: Denise Bomtempo (indústria em Marília), Edilson A. Pereira Júnior (indústria no Ceará), Leandro Bruno Santos (multilatinas), Elaine C. dos Santos (produção flexível no Brasil). Apesar de ter orientado teses e dissertações em várias temáticas geográficas, foi a indústria e o pensamento geográfico que as orientações foram mais numerosas. Além disso, houve, também, a supervisão de vários pós-doutorados: reestruturação urbana e indústria em São Paulo (Luciano A. Furini e Clerisnaldo R. Carvalho), conceito de território (Lucas L. Fuini), cidades médias e consumo (Cleverson A. Reolon, Wagner B. Batella e Lina P. Giraldo Lozano), pensamento geográfico sobre a cidade (Rosana Salvi) e fragmentação socioespacial (Késia Anastácio Silva e Vanessa Lacerda Teixeira). Os temas de meus orientados de mestrado e doutorado foram, também, aqueles que pautaram os estudos de iniciação científica, que chegaram ao total de 72 alunos. O papel de orientador tem suas características específicas. Orientar é, juntamente com o mestrando ou doutorando, fazer uma leitura de um recorte da realidade com olhos e bases diferentes. A linguagem, se é fundamental para a comunicação entre as pessoas e é a mediação mais importante do ser humano com o mundo, contém problemas em suas decodificações. Um texto, ao ser lido por diferentes pessoas, transmitirá diferentes mensagens, mesmo que a intenção do autor tenha sido apenas aquela de expor suas ideias da maneira mais clara possível. No confronto entre interpretações, faz-se o debate. Fazendo-se o debate, surgem as ideias que vão permeando aquilo que chamamos de trabalho científico. Outro aspecto importante do papel do orientador são suas relações diretas com o orientando. Não é preciso se envolver com as particularidades da vida de cada um, mas é preciso fazer, também, a leitura do cotidiano do orientando para que seus problemas e euforias não interfiram na produção intelectual. Além de orientar e de ministrar disciplinas, o trabalho na pós-graduação também solicita criatividade. Sempre olhando para a frente, em 1998, juntamente com Messias Modesto dos Passos (que adora a poeira vermelha das estradas), reunimos um grupo de 14 alunos para um trabalho de campo (pioneiro) na Europa. Depois de seis sessões de aulas teóricas, cujo tema era o título da disciplina (Globalização e seus impactos: regionalização ou (des)regionalização? que hoje vejo como inadequado para os objetivos pretendidos), partimos para o velho continente, separadamente. Eu permaneci, entre 22 de abril e 12 de maio, como professor visitante da Universidade de Salamanca. Os demais participantes desse trabalho de campo foram diretamente para Coimbra, iniciando por aí as aulas. Durante minha estada em Salamanca, quando fiquei alojado no Palácio Fonseca, um edifício de estilo medieval que abriga visitantes da universidade, ministrei aulas para a graduação, uma palestra na Universidade de Valladolid e realizei alguns percursos pelo “casco histórico” da cidade e por áreas da província de Castela e Leão. O contato com os professores Valentin Cabero Diéguez, José Luís Sánchez Hernández e José Luís Alonso propiciou discutir o que é desenvolvimento regional, eixos de desenvolvimento e o papel político do intelectual. As coisas foram se adensando quando os outros participantes da expedição chegaram a Salamanca, de trem, na madrugada do dia nove de maio. Alugamos um ônibus e fomos até Peña de Francia e La Alberca, ao sul de Salamanca e, partindo para a França, passamos pelos vestígios das minas de ouro romanas, pela área dos maragatos, pela cidade de León e percorremos, a pé, vinte quilômetros pelo desfiladeiro de Picos de Europa, nas Astúrias. Aí a companhia de Miguel Luengo Ugidos, com sua pressa geomorfológica, foi importante para a explicação dessa cadeia montanhosa com rochas do cambriano e do terciário. Na França, onde eu e Messias dirigimos duas vans Renault durante dezessete dias, estivemos em Bordeaux, onde nos recebeu Pierre Laborde, que mostrou as características do aménagement do território na Aquitânia, pelas mudanças no espaço urbano, pela industrialização e pelo turismo na duna du Pilat. Em seguida, estivemos na Bretanha onde, recebidos por Robert Bariou (da Universidade de Rennes) e Françoise Le Henaff, pudemos verificar como se gere a água nas áreas pantanosas da região e a importância do sal de Guérande. A viagem terminou em Paris, entre primeiro e sete de junho, com a ajuda de André Fischer e Jacques Malezieux, que mostraram os espaços fordistas da periferia norte e as transformações urbanas decorrentes da construção do Estádio de França (onde a nossa seleção canarinha amarelou, na decisão final, com a França, na Copa de 1998), a ville nouvelle de Cergy-Pontoise e os espaços pós-modernos do bairro La Défense. Rever Paris (ou rêver Paris?) foi, no mínimo, agradável. Andar pelas ruas, fugir correndo da sua persistente chuva, ver o céu nublado, ver a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, utilizar o metrô, revisitar Saint Mandé, o Bosque de Vincennes, o Jardim de Luxemburgo, o silencioso Instituto de Geografia, os restaurantes italianos e chineses do Quartier Latin, a livraria da PUF, foi, mais que reconhecimento de lugares conhecidos, motivos para matar a saudade de três anos que transcorreram entre voltar ao Brasil depois do pós-doutorado e esse momento. A teimosia continua. Em 1999, motivados por outra disciplina (Dinâmica econômica e novas territorialidades), depois de algumas sessões teóricas, eu e Carminha organizamos uma viagem pela Argentina e pelo Chile. Como ela não pôde ir incorporaram-se, ao grupo de 16 mestrandos e doutorandos, Dióres Santos Abreu e Arthur Magon Whitacker. Partimos de Presidente Prudente no dia 6 de setembro em um ônibus-leito da Viação Garcia, às sete horas da manhã. Em Buenos Aires fomos recebidos por Horácio Bozzano. Um percurso de quatrocentos quilômetros, em um dia, pela Grande Buenos Aires, mostrou as características e a complexidade do espaço urbano daquela metrópole. A etapa seguinte foi percorrer mil quilômetros, numa planura pampeana sem igual, entre Buenos Aires e Mendoza. Recebidos por duas geógrafas da Universidade de Cuyo, percorremos um território semiárido e, por isso mesmo, testemunha de uma beleza áspera e empoeirada. Daí, para Santiago, foi atravessar os Andes. Depois de passar pelos trâmites burocráticos de fronteiras, fomos surpreendidos por uma nevasca e ficamos presos, durante vinte horas, dentro do edifício da alfândega chilena, no Paso de los Libertadores, a 3.900 metros de altitude, numa temperatura de 15 graus negativos. Se foi preocupante, a “aventura”, ao mesmo tempo, foi inusitada e ficou gravada na memória não a ferro e fogo, mas a neve e frio. A descida pelos Caracoles foi inolvidable. As aulas de campo em Santiago, na descida para tocar as águas do Pacífico, a vista de Valparaíso e as imagens de Viña del Mar foram o ponto de chegada no oeste do cone sul. Durante os quatro dias em Santiago, Oscar Sobarzo (atualmente professor na Universidade Federal de Sergipe) foi incansável em nos acompanhar nas aulas, durante o dia, e nos jantares, durante a noite. Sem ele, a viagem não seria, seguramente, tão organizada como foi. Nesse trabalho de campo conhecemos dois amigos que, ainda hoje, participam da ReCiMe (Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias), da qual participo desde sua fundação, em 2006: Federico Arenas Vásquez e Cristian Enriques. Tive a oportunidade de passar, três vezes, dois meses fora do Brasil, todas as três vezes com a Carminha, que também foi estudar e trabalhar: em Paris (em 2009) para um tempo de estudos junto à Universidade de Paris – Dauphine, em parceria com Christian Azaïs; em Coimbra (2012), em parceria com Rui Jacinto, dividindo uma casa na Vila Verde (a 20 km de Coimbra), com João Lima Sant’Anna Neto e Eda Góes; e em Lleida, na Universitat de Lleida, na Catalunha, em parceria com Carmen Bellet. Essas atividades me possibilitaram a finalização do livro sobre as cidades pequenas, que dividi com meu ex-orientando Paulo Fernando Jurado da Silva, e obter dados para pesquisa comparativa entre Lleida e Presidente Prudente que resultou em trabalho sobre o comércio e consumo nessas cidades, escrito a seis mãos, com Carmen Bellet e Maria Encarnação Sposito, que foi apresentado no evento City, urbain retail and consumption, realizado em Nápoles, em 2013. Em algumas ocasiões de minha vida profissional pude proferir palestras e participar de atividades que considero importantes, como a abordagem da industrialização em São Paulo na Universidade de Turim, recebido por Giuseppe Dematteis e Claude Raffestin (Territorio, urbanizzazione, industrializzazione. Ricerche brasiliane e italiane a confronto.Dinamica economica dello Stato di San Paolo. Assi di sviluppo e città intermedie, 2006); a exposição da política sobre a avaliação do livro didático no Brasil para geógrafos da Universidade de Jongköping, na Suécia (Social representations and the transformations of knowledge.The evaluation of the didactic books in the Brazilian Fundamental School, 2007); um debate sobre o método científico na Universidade de Puebla, quando fui recebido por meu ex-orientado de doutorado Oscar Gabriel Giménez Benítez (2009); uma fala sobre o método científico na Universidade de La Habana, a convite de Eduardo San Marful (2011); a exposição da carreira de Milton Santos, na Universidade de Avignon, onde a equipe de Presidente Prudente foi recebida por Loïc Grasland (2010); debates em Coimbra como parte do GEOIDE - Geografia, Investigação e Desenvolvimento, grupo constituído por pesquisadores da Universidade de Coimbra e na UNESP (Estado de São Paulo: eixos de desenvolvimento, reestruturação das cidades e localização industrial, 2012); a parceria com Diana Lan, da Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, no projeto Reestructuración productiva e indústria, 2014); a apresentação dos resultados do projeto temático Lógicas econômicas e práticas espaciais contemporâneas, com a Carminha, na City University of New York, como parte da FAPESP Week (Social inequalities in middle cities: segregation, self-segregation and sociospacial fragmentation, 2018); a participação no 3rd Brazil-Japan Seminar on Cultural Environments Lifetime of urban, regional and natural systems, quando apresentei o trabalho Ther urban system, centralities and the use of urban space in middle cities in Brazil (2018), entre outras. Para registrar, até novembro de 2020, participei de 267 eventos científicos, ora como espectador, ora como convidado (em mesa redonda ou proferindo palestra), ora apresentando trabalhos. Minhas atividades de orientação sempre foram verticalizadas pois tive orientandos da graduação, nos níveis de iniciação científica e aperfeiçoamento, no mestrado e no doutorado, seja strictu ou lato sensu. A quantificação dessas atividades dá uma noção do que tenho feito ao longo dos vinte anos na universidade. No nível de graduação, orientei 26 trabalhos de conclusão de curso, 72 em iniciação científica, nove em aperfeiçoamento e 21 em outras atividades. No nível de pós-graduação, meus orientandos somam, até o momento, 37 no mestrado, 29 de doutorado e nove supervisões de pós-doutorado. Alguns deles foram orientados no nível da graduação (iniciação científica ou aperfeiçoamento). Na pós-graduação lato sensu, orientei cinco monografias (5). Duas teses merecem destaque. Em 2012, a tese de Edilson Alves Pereira Junior – atualmente professor na Universidade Estadual do Ceará (Território e economia política - uma abordagem a partir do novo processo de industrialização do Ceará) recebeu o Prêmio CAPES-TESE. Por essa razão, ele recebeu verba para desenvolver uma pesquisa e eu recebi uma quantia (R$ 3 mil) para participar de evento científico. No ano seguinte, a tese de Leandro Bruno Santos – hoje docente na Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes (Estado, industrialização e os espaços de acumulação das multilatinas) recebeu menção honrosa da CAPES porque eu não poderia (como eu soube confidencialmente) ser contemplado com o mesmo prêmio em dois anos seguidos. Enfim, provincianismos decorrentes de nossa herança social de dividir os louros não levando em consideração o mérito, mas o compadrismo. No final das contas, foram 190 estudantes (esse número pode variar, ainda) que já receberam, nos diferentes níveis de orientação, minha contribuição para a sua formação, dos quais, vários deles trabalharam em dois níveis, pelo menos. Nesse rol não estão algumas coorientações nem aqueles alunos que, orientados por outro colega, tiveram bolsa em meu nome (a essa situação, chamamos de “barriga de aluguel”). Sobre essa relação com os alunos, os temas de monografias, estágios, dissertações e teses foram e ainda são diversificados, como já escrevi anteriormente. De maneira mais condensada, três grandes grupos podem ser identificados. Um deles pode ser definido como de ensino de Geografia. O livro didático, a formação do professor de Geografia, pesquisa-ação, metodologia de ensino da Geografia, mapas, percepção do espaço, por exemplo, foram alguns assuntos trabalhados pelos alunos. O outro bloco, com número maior de estudantes, é aquele que, mesmo tratando da indústria ou da regionalização, tem nos aspectos econômicos, sua principal transversalidade. Assim, Distrito Industrial, setor hoteleiro, vazios urbanos, tecnologia, desenvolvimento, transporte urbano, globalização, industrialização, trabalho informal, turismo, expansão urbana, autoconstrução, imigração e território, foram outros temas escolhidos pelos estudantes que pude, com eles, aprender nas práticas de orientação. A esse grupo pode ser associado o projeto temático, financiado pela FAPESP (entre 2006 e 2011), intitulado O novo mapa da indústria no estado de São Paulo, que rendeu várias orientações e um livro publicado pela Editora UNESP. Um terceiro bloco pode ser identificado com as pesquisas e orientações ligadas à cidade. Esse direcionamento foi motivado pela participação em dois projetos temáticos (também financiados pela FAPESP) coordenados pela Carminha. Seus títulos: Lógicas econômicas e práticas espaciais contemporâneas: cidades médias e consumo (2011-2016) e Fragmentação socioespacial e urbanização brasileira: escalas, vetores, ritmos, formas e conteúdos (FragUrb), com duração prevista entre 2018 e 2023. Alguns alunos tiveram suas pesquisas ligadas ao GAsPERR (Grupo de Pesquisa Produção do Espaço e Redefinições Regionais) (6), cuja fundação, em dezembro 1993, propiciou, para mim e para os outros colegas do grupo, uma experiência coletiva muito importante porque suas atividades, ao longo dos já transcorridos 27 anos, que teve três seminários de avaliação, oito volumes do boletim Recortes, quatro edições do banco de dados Conjuntura Prudente, dois livros contendo as memórias do grupo (Região, cidade e poder e Dinâmica econômica, poder e novas territorialidades) e três edições do Seminário do Pensamento Geográfico (1991, 1994 e 1997). Outras atividades que considero importantes também foram desenvolvidas. Atualmente como pesquisador 1B do CNPq, trabalhei (como bolsista, desde 1992) em temas ligados à industrialização e desenvolvimento regional, sempre pautando-se pela referência da cidade e do urbano: A logística industrial, os fluxos e os eixos de desenvolvimento. Um enfoque considerando as cidades de porte médio: Redes urbanas, cidades médias e dinâmicas territoriais. Estudos comparativos entre Brasil e Cuba; Lógicas econômicas e práticas espaciais contemporâneas: cidades médias e consumo; Reestructuración productiva en ciudades medias de Argentina y Brasil; Lógicas econômicas e dinâmicas urbanas: cidades médias e localização de atividades; Commerce alimentaire et polarités urbaines: outils d ‘analyse et méthodes d’interprétation; Estratégias econômicas e dinâmicas espaciais: leitura das cidades médias pela ótica da quarta revolução industrial foram os principais. Por sete anos e quatro meses fui coordenador da área de Geografia na FAPESP, função na qual substituí o saudoso Antonio Carlos Robert de Moraes. As reuniões semanais para examinar as demandas de bolsas (iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e jovem pesquisador) e auxílios (projeto temático, principalmente) levaram à formação de outro círculo de amigos das universidades no estado de São Paulo, nas áreas (além da Geografia) de História, Sociologia, Direito, Filosofia, Antropologia e Ciência Política. Debater os critérios para a concessão de bolsas e auxílios foi mais um aprendizado na minha vida. Entre 2005 e 2014 participei, como coordenador da área de Geografia ou como representante desta área junto ao Ministério da Educação, do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Essa função, que resultou na avaliação dos livros comprados pelo governo brasileiro para as escolas públicas do Brasil (de ensino fundamental e médio), foi fundamental para minha carreira como forma de contribuir para uma política pública que se tornou exemplo internacional como forma de qualificação do ensino. Os livros eram avaliados anualmente por uma equipe que era composta considerando critérios que considero básicos para se trabalhar em equipe: conhecimento do temário e das teorias da Geografia, compromisso com a qualidade e com os prazos, saber trabalhar em grupo (ou seja, trabalhar em equipe) e dominar a língua portuguesa e ter noções de informática para utilizar o computador da melhor maneira possível. Esse trabalho rendeu artigos e livros que registraram as principais conclusões dessa atividade. Fui coordenador de publicações da AGB-nacional (durante quatro anos publiquei números da revista Terra Livre – um deles comemorando os 70 anos da entidade, em 2004); fui secretário (2000-2002) e presidente da ANPEGE (2014-2015), quando organizei o XI ENANPEGE em Presidente Prudente, mais uma função importante que me possibilitou conhecer a pós-graduação em Geografia no Brasil; fui membro do Conselho do Programa de Pós-graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia; sou parecerista ad hoc de CNPq, CAPES, FAPESP, FUNDUNESP e de inúmeras revistas do Brasil e do exterior; e membro do conselho editorial de várias revistas no Brasil.... Em 2019 nasceu a Joana, loirinha, alegre, já querendo falar. Convivemos pouco com ela porque mora em Palmas, Tocantins, onde o Ítalo é professor da Universidade Federal do Tocantins e a Maria Amélia é funcionária do Tribunal de Justiça Estadual. Fazendo uma rápida avaliação das atividades citadas acima, acho que é preciso repensar e selecionar um pouco mais o que fazer. Senão, vão faltar horas no meu dia e dias na minha semana. Muitas atividades citadas neste texto, eu as dividi com a Carminha. Muita gente pergunta como é a vida de um casal que trabalha na mesma área e no mesmo departamento (por alguns anos na mesma sala). Não há uma resposta simples, como não é simples o nosso quotidiano. Compartilhar a vida e o trabalho não é difícil. Pelo contrário, é muito bom. Há dias em que eu não me encontro com ela na universidade. Há viagens de trabalho, há viagens de lazer. A troca de ideias é importante, mas mais importante é a elaboração de planos: desde uma mudança na decoração da casa, novas plantas no jardim, a situação de cada um dos filhos, os programas de viagens com os netos (como aquela viagem de motorhome de Blumenau a Gramado, com Otto e Theo, que moram com os pais, Caio e Fabiana, em Curitiba – ainda falta uma viagem com a Joana, que ainda tem um ano e meio), as tendências nas eleições (desde a universidade ao município e ao país – que colocou em cena um personagem negativo que, por 23 anos, não fez absolutamente nada na Câmara Federal, cujo nome não declino neste texto mas que todo mundo sabe de quem se trata), o almoço com os amigos... até o que ia fazer e estou fazendo como aposentado (desde 2 de abril de 2019, quando completei 50 anos de serviços prestados, dos quais 43 dedicados ao ensino), tudo se torna motivo para o diálogo e a continuidade do romance iniciado em 1974... As viagens com os netos, filhos e noras realizadas foram excelentes, para a Chapada Diamantina (2000), Toscana – Itália – e Provença – França (2017), quase para Portugal (em 2020, cancelada por causa da pandemia covid-19) e outras menores. Caio, Fabiana, Otto e Theo moram em Curitiba, para onde é mais fácil o deslocamento. Ítalo, Maria Amélia e Joana moram em Palmas, no Tocantins, para onde é mais difícil ir. EM QUALQUER PRIMEIRO DIA DO RESTO DA MINHA VIDA Olhando para trás, relendo o relato contido neste texto, parece que nossa vida é episódica. São flashes que, como partes de uma totalidade, sobressaem-se no conjunto dos dias e das atividades exercidas no dia-a-dia. Admito, neste momento, uma certa dificuldade em articular os episódios, porque algumas “passagens” são mais valorizadas, mais detalhadas do que as outras. O tempo cronológico adquire, por esta razão, novo ritmo: um ritmo ditado pelas diferentes intensidades definidas pelo que fica mais vivo na memória. Essa diferenciação no tempo da memória define a dimensão do tempo vivido e o diferencia dos tempos cronológico, cósmico e dos outros. E essa velocidade, com diferentes ritmos, se pode ser inferida pelo relato daquilo que ficou gravado com maior intensidade, continuará tendo seus ritmos, também, quando dos acontecimentos futuros. Mesmo aposentado, continuo trabalhando bastante, orientando nos diferentes níveis, ministrando minha disciplina sobre metodologia tanto na FCT/UNESP quanto como professor visitante na Universidade Federal de Uberlândia, campus de Ituiutaba. Em outras palavras, enquanto o tempo passa, as tarefas continuam: as aulas na pós-graduação; as orientações do mestrado e do doutorado; a produção de textos para expor as ideias (ora individualmente ora em trabalho em grupo com outros geógrafos) e contribuir com o conhecimento geográfico, a participação em eventos científicos. Qualquer que seja a atividade que vou exercer doravante, quero ter tempo para arrumar minhas poesias, músicas e escrever alguma coisa mais livremente, lembrando de fatos da vida pessoal e de pessoas mais próximas, como faz Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Meu pai sempre contou fatos de sua vida, desde Taiaçu até seus dias como pioneiro no velho “faroeste” paulista. Estórias de imigrantes e filhos de imigrantes, de derrubadores de matas, de agricultores frustrados, de pescadores, de jogadores de futebol, de políticos... Isso já está gerando contos que estou escrevendo. Já pude produzir e gravar quatro discos (Cenário, Meu canto geral, Viver no campo e Samba, bossa-nova e algo mais, disponíveis em plataformas digitais como Spotify, Youtube, Deezer...), registrando 47 canções que compus ao longo da minha vida. E vou continuar a fazê-lo porque há, ainda, várias músicas para registrar. Enquanto o tempo passa, professorar é preciso; viver, muito mais ainda. Como eu acredito na transformação da matéria, algumas coisas boas ainda vão acontecer, no futuro: a consciência política das pessoas vai mudar (já estou perdendo a esperança porque o que ocorre, atualmente, no Brasil, é um dos maiores desastres políticos de todos os tempos); os dirigentes do Palmeiras vão ser mais sérios; o metrô de São Paulo terá 15 linhas, ligando todos os pontos possíveis da cidade; a ida para São Paulo será num trem de grande velocidade; as cobras e as baratas estarão extintas do planeta; a Lua ficará mais brilhante e bonita nas noites sem nuvens... Quero, aí por esse tempo, olhar, serenamente, para filhos e netos, fechar os olhos e sentir os átomos do meu corpo, em estado plasmático, tomando direções diferentes, na velocidade impensável do big crunch, em outra dimensão, sugados pelo buraco negro da eternidade, com a certeza de ter viajado pelo sistema solar em alguns infinitesimais anos dos séculos XX e XXI. Como Drummond termina seu autopoema, eu também me pergunto: a poesia é necessária, mas o poeta, será? AS GEOGRAFIAS QUE ME FIZERAM (7) O momento se mostra propício para o que proponho neste texto: fazer uma releitura de alguns textos que produzi nos momentos que considero pilares na carreira de todos os pesquisadores das universidades públicas brasileiras (tempos do mestrado, do doutorado, da titularidade e, no caso das universidades paulistas, da livre docência). Assim, as Geografias que me fizeram ficam delimitadas às etapas da formação de minha carreira porque, na medida em que foram sendo elaboradas a dissertação de mestrado, a tese de doutorado e a tese de livre docência, os produtos foram conduzidos (sem rigor excessivo) pelos temas desses trabalhos. Desde o primeiro texto apresentado em um evento científico e dois outros publicados em revista departamental, a escolha do que estudar foi pautada pelos assuntos mais candentes nas décadas em que as pesquisas foram realizadas. Nessa linha, os primeiros trabalhos escritos tiveram interface com a Demografia. Para o mestrado, no final da década de 1970, o tema mais importante, por causa das mudanças estruturais que ocorriam no Brasil rural, era a migração, principalmente no sentido rural-urbano. Como o tema estava bem estudado, a proposta foi inverter a questão: ao invés de estudar a migração, foi escolhido explicar por que as pessoas permaneciam nas cidades pequenas. Para abordar essa questão, foi necessária uma interface com a Psicologia. A dissertação mostrou como a Geografia poderia contribuir com a construção de um conceito: horizonte geográfico. No doutorado, na década de 1980, em que o viés da grande narrativa por meio da crítica ao modo capitalista de produção dominava os estudos geográficos, o foco foi a cidade de Presidente Prudente e, por intermédio da teoria da renda da terra urbana, estudei e expliquei como se produz, como se apropria, em que momentos e qual o papel do Estado no processo de produção e apropriação da renda fundiária urbana. Aqui, a interface fundamental foi com a Economia. Observando a simplicidade com que o método, as categorias e os conceitos eram tratados na Geografia, para a livre docência a minha preocupação foi elaborar um estudo que mostrasse a importância desses elementos, fundamentais para a produção do conhecimento científico. A tese de livre docência foi publicada (8), posteriormente, em forma de livro e se tornou um dos livros mais vendidos da Editora UNESP, chegando a ter quatro reimpressões. Neste momento, a interface mais forte foi com a Filosofia. Depois, para o concurso de titular, o tema da aula foi a relação espaço-tempo. A proposta foi, neste caso, de verticalizar dois conceitos-chave da Geografia, confrontando as diferentes definições elaboradas por vários autores consagrados na ciência. O texto resultante da aula foi publicado, alguns anos depois, na forma de verbete, mas sua extensão e densidade equivale, praticamente, a um artigo (9). Embora a Filosofia tenha fundamentado esse estudo, recorri, também, a uma interface com a Física. A participação em projetos de pesquisa coletivos, as orientações em diferentes níveis (iniciação científica, mestrado e doutorado), a supervisão de pós-doutorados e a participação em eventos (principalmente quando se tratava de trabalhar um tema em mesa redonda), foram outros meios de realizar estudos sobre diferentes temas, levando a uma interface, mais recentemente, com a Sociologia. As diferentes interfaces citadas são aquelas que privilegio neste texto. A INTERFACE COM A DEMOGRAFIA A Demografia foi a referência principal no início de meus estudos. Dois textos foram produzidos durante a graduação. Depois, em 1975, um estudo sobre a população urbana e rural no Estado de São Paulo levou-me a participar do primeiro evento. já em escala nacional. Foi o 7º. Congresso Nacional de Geografia, realizado em São Paulo. A motivação para ir ao evento foi decorrente dos incentivos do meu primeiro orientador na graduação, Prof. Dr. Marcos Alegre. Como eu era desenhista da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente (conhecida como FAFI), o trabalho de produzir os mapas foi consequência dos estudos na graduação e do trabalho cotidiano. O texto, publicado nos anais do evento (10), evidenciam a cartografia, ainda artesanal, produzida em papel vegetal com tinta nanquim. A descrição dos dados demográficos dos censos de 1940, 1950, 1960 e 1970 levaram às conclusões de que: “A corrida para oeste, iniciada pelo café no século XIX, foi tomando conta de todo o território paulista, evidenciando-se mais a partir de 1940, com a criação de inúmeros municípios e o florescimento de capitais regionais, acompanhando essa corrida, as estradas de ferro, convergentes à capital, sempre seguindo os espigões, num alinhamento forçado pelo traçado dos rios. O espaço ocupado, com o enfraquecimento do solo, da agricultura, deu lugar às pastagens, com as densidades rurais provando o fato, diminuindo a partir de 1980 – apenas, no oeste, as 2 regiões mais novas têm boas densidades (Alta Paulista e Alta Araraquarense) – e o aumento nos arredores da capital, evidenciando-se a grande aglomeração populacional, tnato rural como urbana. Os pequenos centros estacionam ou regridem, acompanhando a queda da população rural, permanecendo com leve crescimento apenas os núcleos médios e com visível crescimento as capitais regionais, rodeadas de pequenos núcleos que se mantêm graças à sua influência monopolizadora, acrescidas da importância administrativa após a divisão do Estado em 11 regiões para esse fim. As maiores aglomerações rurais, a partir de 1960, são abafadas pelo maior número de esvaziamentos rurais, sem se considerar o Vale do Ribeira, de ocupação anterior a 1940, cujo crescimento urbano foi pequeno e o rural quase estacionário. O crescimento sensível das cidades do Vale do Paraíba, permitindo prever uma conurbação polinucleada na ligação Rio – São Paulo, acompanhando o traçado do rio, e consequentemente a via Dutra e a estrada de ferro, consequência da recente industrialização da região, motivada por sua posição estratégica” (p. 377). (AS FIGURAS E QUADROS CONTIDOS NO TEXTO, PODEM SER VISUALIZADOS NO DOCUMENTO ORIGINAL, ENVIADO PELO AUTOR). A INTERFACE COM A PSICOLOGIA A migração, tema recorrente na década de 1970, motivou-me a prestar seleção para o Mestrado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), na USP, sob a 27 orientação do Prof. Dr. Armando Corrêa da Silva. A interface entre Geografia e Demografia era evidente, neste caso. Uma primeira aproximação foi feita sobre as migrações e as pequenas cidades. Em linhas gerais, as causas das emigrações das pequenas cidades poderiam ser assim expressas: a) posição do centro na hierarquia urbana; b) distância do centro maior e diferenciação dessa distância por tipo de estrada ou transporte; e c) magnitude da oferta de serviços por esse centro maior em relação à cidade pequena considerada. Eu alertava para o fato de que, partindo de uma revisão bilbiográfica para me aproximar do tema das migrações, alguns cuidados deveriam ser tomados: “Em primeiro lugar, ressalta a importância que a escala de enfoque tem em qualquer proposta de estudo geográfico, tanto no sentido horizontal, que é o universo de abrangência, quanto no sentido vertical, que é representado pela profundidade e especificidade da abordagem. Em segundo lugar, o apanhado do conceito de migrações não foi - como não deve sê-lo - procurado apenas geograficamente, mas ajudado pela abordagem de outras ciências, para dar um certo caráter interdisciplinar a este trabalho, para superar a compartimentação científica do conhecimento. Em terceiro lugar, fica a certeza de uma certa evolução no conceito de migração, não apenas no sentido da escala (...), de abrangências cada vez mais específicas, mas principalmente no sentido dos fatores considerados, que vão desde o sistema econômico até ao indivíduo que a esse sistema econômico pertencente e que dão, desde que respeitados, a conceituação mais ampla de migração: movimento de pessoas, de qualquer classe social no espaço geográfico, considerada a história do indivíduo e de sua sociedade, sua formação e o grupo mais imediata a que pertence e que a eles se condiciona”. (SPOSITO, 1983, p. 41) Mas insistir em estudar um processo (migratório) que pautava muitas dissertações e teses, não me pareceu convincente. Era preciso pensar em algo diferente. Foi a sagacidade do orientador que, nas primeiras sessões de orientação, sugeriu-me inverter a questão como ela estava posta na universidade: ao invés de estudar por que as pessoas migram, por que não procurar entender por que elas permanecem nas cidades, principalmente nas cidades pequenas? Estava lançado o desafio a partir de um tema novo (e inovador) porque não havia, num tempo imediato, base teórica conhecida nem metodologia adequada. A utilização da teoria dos dois circuitos da economia urbana, elaborada por Milton Santos foi importante para compreender a dimensão econômica das cidades pequenas que eu estudava naquele momento (Pirapozinho e Álvares Machado, no estado de São Paulo) e as situações de emprego, renda, mobilidade e lazer das pessoas. Por meio da aplicação de 500 questionários nas duas cidades, essas referências, depois de tabuladas, foram importantes para a formação do horizonte geográfico conformado no cotidiano das pessoas. Antes, foi preciso identificar, nas cidades, as características dos dois circuitos da economia urbana. O resultado foram vários mapas, então conhecidos como mapas das funções urbanas. Um deles está representado na figura 3. A solução foi a interface com a Psicologia. Depois de comparar as possibilidades entre as três grandes correntes da Psicologia (piagetianismo, behaviorismo e gestaltismo) por meio da interlocução com outros profissionais, optei pela corrente da Gestalt porque ela tinha, como referência principal, a forma. E a forma já era uma categoria importante para a Geografia, como mostrou Milton Santos posteriormente (11). Foi preciso, então, recorrer à Psicologia. Utilizei a teoria de campo de Lewin para analisar a localização do indivíduo. Ela “depende também dos níveis de realidade e irrealidade que se modificam à medida que a idade avança. [...] Esses níveis permitem a movimentação do indivíduo dentro do espaço vital – ou de seu espaço geográfico – cuja posição” determina: a) a qualidade de seu meio imediato; b) que tipos de regiões psicológicas são adjacentes à presente região, isto é, que possibilidades o indivíduo tem para seu próximo passo. c) que passos têm o significado de uma ação em direção ao objetivo e que passos correspondem a uma ação afastando-se do objetivo (LEWIN, 1968, p.279, apud SPOSITO, 1983, p. 76). fui buscar, de maneira rápida e objetiva, na Wikipedia, algumas características da Psicologia da Gestalt: “A gestalt, ou psicologia da forma, surgiu no início do século XX e (...) trabalha com dois conceitos: super-soma e transponibilidade. Um dos principais temas trazido por ela é tornar mais explícito o que está implícito, projetando na cena exterior aquilo que ocorre na cena interior, permitindo assim que todos tenham mais consciência da maneira como se comportam aqui e agora, na fronteira de contato com seu meio. Trata-se de seguir o processo em curso, observando atentamente os ‘fenômenos de superfície’ e não mergulhando nas profundezas obscuras e hipotéticas do inconsciente – que só podem ser exploradas com a ajuda da iluminação artificial da interpretação. De acordo com a teoria gestáltica, não se pode ter conhecimento do ‘todo’ por meio de suas partes, pois o todo é outro, que não a soma de suas partes: ‘(...) A+B não é simplesmente (A+B), mas sim, um terceiro elemento C, que possui características próprias’. Segundo o critério da transponibilidade, independentemente dos elementos que compõem determinado objeto, a forma é que sobressai: as letras r, o, s, a não constituem apenas uma palavra em nossas mentes: ‘(...) evocam a imagem da flor, seu cheiro e simbolismo - propriedades não exatamente relacionadas às letras.’" (Wikipedia, 2019, acesso em 19/9/2019). Sobre o conceito de espaço vital e de lugar, eu já alertara na dissertação: “Não se deve confundir os conceitos psicológico de espaço vital e geográfico de lugar. O primeiro diz respeito aos impulsos, à história e à reação do indivíduo no espaço geográfico, e o segundo diz respeito ao meio natural e cultural que define a 1oca1ização e por extensão a existência da sociedade. Apesar disso, num espaço da pequena cidade, onde a noção sociológica de comunidade está constantemente presente e constantemente atingida pelos impulsos uniformizadores - diferenciadores do sistema capitalista, quando esse espaço é considerado em si como lugar, abriga a noção de espaço vital como o grande espaço de atuação cotidiana do indivíduo. A separação, então, entre os dois conceitos, estabelecida didaticamente, torna-se pequena e até desaparece em certos casos individuais ou mesmo se distancia mais em outros casos, mas não perde o sentido na análise, pois ela é necessária para o entendimento do dinamismo da população dos centros urbanos estudados”. (cap. III). Sobre as migrações e seu papel no sistema capitalista, quero destacar um esboço teórico que fiz e que acho, mesmo distante no tempo, ainda atual do ponto de vista do estruturalismo marxsta, inspirado na teoria dos dois circuitos da economia urbana de Milton Santos: “O sistema capitalista, ao se organizar através desses impulsos, não se organiza num lugar especificamente, mas procura distribuir, de acordo com suas adequações, os indivíduos com as funções do momento por todo o território de atuação, eliminando, em muitos casos, uma rugosidade considerável que divide as partes do território (...). Voltando um pouco para realimentar a conclusão da discussão, deve-se ter em mente o seguinte: os níveis são definidos pelas atividades dos indivíduos e pelas funções das formas, figurações particulares do movimento. E o indivíduo, como forma, está nos diferentes níveis definidos pelas funções das formas. O indivíduo, no momento em que exerce uma atividade, exerce o movimento e, como a forma é uma figuração particular do movimento, o indivíduo também aparece como forma, pois exerce essa atividade. O indivíduo, neste sentido, não está analisado como antropóide uniforme nem sem os dotes naturais do ser humano, mas como agente, consciente ou inconsciente, do sistema capitalista a que pertence. Daí que as funções são o papel exercido dentro de um sistema pelas formas, traduzidas opostamente na cidade e no campo, que dão a estrutura do espaço. As formas estão no espaço; são, portanto, geográficas, pois são a manifestação da interação do homem com a natureza e dos homens entre si. As funções não são geográficas; no entanto, ao se localizar nas formas, e ao mudar de forma ou de lugar e forma, movimentam-se no espaço e fazem parte do espaço. A função da forma está associada ao indivíduo, ao ser que nela se insere. O movimento da função no espaço, mudando de forma e/ou de lugar, é também sua migração; é a migração do indivíduo. Desta maneira, a migração obedece às necessidades da forma exercer sua função. Essa função é determinada, completando o raciocínio, pela divisão do trabalho dada, inicialmente, pela produção de bens necessários para suprir as necessidades naturais do homem - naturalmente surgidas e posteriormente multiplicadas - depois pela relação de propriedade tanto da natureza como dos valores artificiais criados pelo homem”. (cap. I) Mais tarde, Gaudemar teorizou a migração a partir da pessoa como continente da força de trabalho, o que, mesmo sendo de difernte interpretação, está baseada no fato da força de trablaho ser um atributo do indivíduo. Essas ideias estão superadas do ponto de vista da interpretação e da escala, mas principalmente porque o “êxodo rural” ou a migração a partir das pequenas cidades não são um fato migratório predominante, mas do ponto de vista do marxismo estruturalista, elas continuam valendo. A INTERFACE COM A ECONOMIA POLÍTICA No doutorado, a interface com a Economia Política marcou outro prisma das Geografias que me fizeram. O foco de estudo seria a cidade de Presidente Prudente que, já enfocada pelas dinâmicas da habitação, dos transportes e da verticalização, passou a ser analisada por meio da segregação urbana e da apropriação da renda fundiária urbana. Autores como Karl Marx, como seria óbvio, mas Christian Topalov, Tom Bottomore, Jean Lojkine, Samuel Jaramillo, José de Souza Martins e Ariovaldo de Oliveira auxiliaram na compreensão dos três tipos de renda que, até o momento, são os esteios da teoria. Mesmo que seja difícil a sua apreensão empiricamente, na atualidade, há outras ferramentas teóricas para esse fim, como é a proposta da renda absoluta diferenciada (proposta por Rebour, 2000). De Topalov, no que concerne à renda diferencial, temos a seguinte afirmação: “a renda diferencial é um efeito do preço. Quanto ao preço, é um efeito do custo, mais precisamente da configuração dos custos individuais e do processo de sua transformação num único custo social pela concorrência (p. 95). Por isso, “como a exploração capitalista da cidade tem por base material a produção de edificações (...) segundo a localização dos terrenos, a taxa de lucro interna da operação variará, a preço uniforme de venda do produto, porque os custos localizados de produção do terreno construtível variarão” (TOPALOV, 1984, p. 97) Estava lançado o desafio: verificar, em Presidente Prudente, a massa de terrenos vazios, localiza-los no território urbano e confrontar seus preços com outras referências, como os estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, e as áreas não loteáveis (parques, áreas públicas, praças etc), além de verificar como se dava, ao redor da cidade, a apropriação das grandes glebas loteáveis, o que levou-me a deduzir que a cidade de Presidente Prudente era cercada por um ”muro” (lembrando as cidades medievais) que a cercava, mas neste caso o ”muro” era constituído pelas glebas apropriadas por poucos proprietários que decidiam, de acordo com suas expectativas de se apropriar da renda da terra, o momento de lotear parcelas das glebas, transformando-as em terra urbana, fazendo com que seu preço aumentasse, nominal e imediatamente, de oito a dez vezes o preço do metro quadrado. A expansão da quantidade de terrenos vazios nas bordas da área loteada da cidade era acompanhada (legalmente) pela modificação do perímetro urbano, instrumento político municipal de regulação do crescimento da cidade que obedece, no caso da cidade citada, às expectativas dos grandes proprietários de glebas loteáveis. A localização, a construtibilidade (condições geomorfológicas do terreno como declividade, resistência às construções; condições econômicas, como ser de esquina, forma do lote, tamanho) e as externalidades decorrentes de sua localização (processos de parcelamento do solo urbano, densidade de ocupação do bairro, proximidade de grandes centros de compra etc) foram fatores considerados para a explicação da produção da renda fundiária urbana em Presidente Prudente. Jaramillo (1982) acrescenta alguns fatores importantes para se entender a produção da renda fundiária urbana: 1) processo de consumo do espaço construído da relação com a atividade comercial; 2) segregação sócio-espacial da cidade; 3) custos para apropriação e consumo habitacional; 4) delimitação de zonas industriais” (p. 42). Desse autor, eu trouxe a ideia de renda imobiliária sem desenvolver com mais profundidade. Essa ideia foi, nos últimos anos, “ressuscitada” por algumas pessoas, que não cabe aqui nominar com detalhes, como se fosse uma grande novidade teórica para se compreender a produção imobiliária na cidade, mas visando a metrópole. A renda absoluta existe porque existe a propriedade da terra. Essa insofismável condição faz com que a terra, limitada na superfície do planeta, seja apropriada por um número pequeno de pessoas que submetem os outros à condição de não-proprietários. Esse aspecto é tão importante que, para verificar como se dá posse da terra urbana em presidente Prudente, busquei, nos jornais, durante uma década, os preços dos terrenos à venda, considerando aqueles proprietários que tinham mais que um terreno. O pressuposto era de que, com um terreno, o proprietário está exercendo seu direito de morar, de existir, e não de especular com a mercadoria solo. Quem tem mais de um terreno, tem aquele necessário para sua sobrevivência na cidade, mas tem, em suas mãos, uma mercadoria que pode auferir renda no ato de compra e venda. Com esses passos, estavam lançadas as bases teóricas para a verificação empírica da produção e apropriação da renda. Mesmo assim, ainda quero lembrar que, mesmo que a propriedade do solo seja uma condição inata ao modo capitalista de produção, ela apresenta alguns obstáculos ao capital. Fui buscar em Harvey (1980) esses obstáculos: 1. O solo e a mercadoria têm localização fixa. A localização absoluta confere privilégios de monopólio à pessoa que tem os direitos de determinar o uso nessa localização. É atributo importante do espaço físico que duas pessoas ou coisas não possam ocupar exatamente o mesmo lugar, e esse princípio, quando institucionalizado como propriedade privada, tem ramificações muito importantes para a teoria do uso do solo urbano e para o significado do valor de uso e do valor de troca. 2. O solo e as benfeitorias são mercadorias as quais nenhum indivíduo pode dispensar (...). Não posso viver sem moradia de nenhuma espécie. 3. O solo e as benfeitorias mudam de mãos relativamente com pouca frequência. 4. O solo é algo permanente e a probabilidade de vida das benfeitorias é muitas vezes considerável. O solo e as benfeitorias, e os direitos de uso a ela ligados, por isso, propiciam a oportunidade de acumular riqueza. 5. A troca no mercado ocorre em um momento do tempo, mas o uso se estende por um período de tempo. 6. O solo e as benfeitorias têm usos diferentes e numerosos que não são mutuamente exclusivos para o proprietário (p. 135-136). Com esses atributos, o solo e sua apropriação se, por um lado, são fundamentos básicos do sistema capitalista, por outro lado tornam-se obstáculos para a formação da renda, principalmente no momento em que a renda pode ser auferida, o que depende de uma relação social, que é o ato de compra e venda. Mais uma vez, a linguagem cartográfica foi necessária. Ainda sem o domínio do computador, que estava entrando como ferramenta nas pesquisas dos geógrafos, tive que esboçar e desenhar todos os mapas utilizando o papel vegetal e a tinta nanquim. Ainda estávamos iniciando a última década do século XX. Na minha opinião, a contribuição que trouxe, com a tese, foi explicar, baseando-me tanto em dados empíricos quanto da teoria da renda, que a cidade é produzida em um movimento de diástole (eufemismo necessário naquele momento) que ocorria quando os proprietários ou incorporadores decidiam por expandir o número de lotes vazios na cidade. Para isso, algumas áreas tinham maior apelo que outras. No caso de Presidente Prudente, as zonas sul e oeste eram “a bola da vez”. A terra rural, transformada em terra urbana nessas áreas, exprimiam-se me valores muitas vezes maior do que o metro quadrado das glebas em outras áreas da cidade. Alguns raciocínios foram catalisadores da dinâmica imobiliária (respeitante a mercadoria lote produzido) em Presidente Prudente: 1) “A dinâmica do mercado fundiário e, portanto, o crescimento territorial da cidade faz-se sob a lógica da produção monopolista” (1,35% dos habitantes da cidade tinham, em suas mãos, 56,3% dos lotes vazios na cidade de Presidente Prudente); 2) “o solo urbano (...) emerge, para a classe dos proprietários de solo, como reserva de valor (...). Concomitante e contraditoriamente, o solo é também continente da renda capitalizada que se realiza no ato de compra /venda; 3) monopolização do território baseada na propriedade como reserva de valor (...) forma a estrutura (...) que vai determinar a dinâmica própria da expansão da malha urbana” (SPOSITO, 1990, p. 141). Destaco, também, a apropriação da renda pelo poder público via IPTU que se realiza pela transferência de ramo da mais-valia social quando se torna salários dos funcionários públicos. Por outro lado, o poder público também pode utilizar essa arrecadação para exercer seu direito de evicção nos processos de desapropriação de áreas urbanas, fazendo com que elas possam “voltar” para a população da cidade. Eu afirmei, nas conclusões, que “a renda do solo realiza-se em sua forma absoluta, quando a base mais clara é propriamente a garantia da propriedade privada; na forma diferencial, quando se evidenciam suas relações de localização e construtibilidade; e na forma de monopólio, que muitas vezes se confunde com a diferencial, quando a segregação espacial é estimulada e assumida pelo consumidor do espaço urbano” (SPOSITO, 1990, p. 144). Por outro lado, “se, em sua forma plena, a propriedade privada, pelo fato de ser continente de capital, imobiliza-o, transformando-se em obstáculo para sua reprodução, quando objeto de especulação liberta-o desse caráter de obstáculo, permitindo sua realização crescente”. Para concluir, a apropriação da renda fundiária ocorre quando: 1) ocorre o loteamento urbano, transformando a terra rural em terra urbana; 2) pelo recolhimento dos tributos municipais, pelos investimentos públicos em áreas selecionadas da cidade; 3) o papel dos investimentos públicos em áreas diferenciadas da cidade; 4) pela transferência de ramo de parte da mais-valia social (SPOSITO, 1990, p. 146). A apropriação da renda se dá em escala individual (quando ocorre a venda do lote), mas no nível da economia urbana, é “posterior ou concomitante aos períodos de expansão da malha urbana” e, considerando o mercado fundiário, é quando “ocorrem mudanças conjunturais na economia em escala nacional” e, em termos de magnitude, é determinada pela transformação da terra rural em terra urbana ou pela diferença de preço entre o momento de produção do solo, dependendo da localização e da taxa de juros vigente no mercado (p. 147). Acredito que, com esse estudo, lancei bases para a análise, compreensão e explicação da dinâmica fundiária urbana, sugeri uma metodologia adequada para o estudo da cidade e encontrei uma fonte simples, mas eficaz, para a obtenção da informação geográfica necessária e suficiente para esse tipo de estudo. Todos esses elementos (dos três últimos parágrafos) conformam uma teoria da produção e apropriação da renda fundiária urbana. A CHEGADA NA FILOSOFIA Desde o tempo das leituras para a tese, alguma coisa me incomodava, tanto nelas quanto nas conversas que ouvia de geógrafos. Os meus mestres não me alertaram para a importância do método, por isso fui observando que havia confusão (ou, no mínimo, despreocupação) com palavras científicas fundamentais, como método, conceito e categoria. Era preciso, ao meu ver, dar atenção a essa questão fundamental na Geografia porque ela se pretendeu, sempre, como conhecimento científico. A Geografia deu uma guinada importante quando, mais do que procurar seu objeto (que permeou toda a produção d “geografia tradicional” Começando pelo método, depois de apresentar várias definições trazidas por vários filósofos, e considerando aquilo que estava ora implícito, ora explícito em inúmeras obras, cheguei à proposta de mostrar que há três métodos que comportam todas as ciências e por elas podem ser utilizadas porque dão conta da orientação, ao cientista, na construção do conhecimento científico. Não era, portanto, apenas uma questão semântica, mas de clareza e conteúdo. O método hipotético-dedutivo representa o que decorreu da proposta cartesiana do método científico. Esse método fundamenta-se na formulação de hipóteses, no exercício do trabalho empírico, na formação das explicações (tanto do ponto de vista dedutivo, do geral para o particular, quanto indutivo, do particular para o geral), e na perspectiva da elaboração do conhecimento como utilidade e possibilidades de previsão. Mesmo que nem sempre se encontre correspondência perfeita entre experimentos e observações, por um lado, e deduções, por outro, a importância desse método reside no fato de que ele abriu caminho para a dessacralização da natureza (aí compreendido o corpo humano) e da certeza de que o conhecimento poderia ser cumulativo porque uma das técnicas utilizadas é a anotação da experimentação e a linguagem matemática. Por isso mesmo, a doutrina que se fortalece com esse método é o positivismo, até início do século XX e, a partir daí, o neopositivismo. A contribuição de Popper, produto do Círculo de Viena, recuperou a discussão de que a ciência tem uma única linguagem, a matemática. As dificuldades em representar o mundo real é uma dificuldade para o cientista social porque depende da experiência. Assim, seria difícil determinar se um enunciado é verdadeiro ou não pois, se não for verdadeiro, não terá nenhum significado, chegando à conclusão de que a indução não existe. Popper, então, afirma que “um sistema como empírico ou científico se ele for passível de comprovação pela experiência”. Seguindo esse raciocínio, eu afirmei que “a verificação das verdades científicas e o dimensionamento do progresso da ciência só poderão ser feitos através do critério de demarcação que ele chama” de “falseabilidade de um sistema”. Por essa razão, “para ser legítimo, um sistema científico terá que ser validado “através do recurso a provas empíricas, em sentido negativo: deve ser possível refutar, pela experiência, um sistema científico empírico” (p. 42) (12). Em resumo, o método hipotético-dedutivo caracteriza-se pela busca da informação por meio do experimento que se torna verdadeiro se não for falseado, permitindo acúmulo do conhecimento e previsibilidade por meio da ciência. Elaborei, para mostrar a importância da técnica (e da linguagem matemática) sobre o pesquisador, a seguinte representação: Sujeito < Objeto, mostrando que o sujeito se torna menos significativo que a abordagem do objeto, que dependia, também, das convenções elaboradas socialmente, como as medidas, as descrições e a forma de apresentação dos resultados. O método analítico-dialético tem suas raízes na dialética de Aristóteles, que descobriu que o ser humano tem imaginação e que, invertendo as preocupações socráticas e platônicas (debruçados nas formas eternas ou nas ideias, afastando-se do mundo dos sentidos, para quem as ideias eram mais reais que os fenômenos naturais), deu ênfase no conhecimento empírico por meio da especulação da natureza. Seus ensinamentos eram peripatéticos e, ao invés de professar que o conhecimento era inato e seria necessário, por meio da linguagem, que a pessoa falasse para dar à luz seu próprio conhecimento (um dos atributos de sua alma), Aristóteles partia da observação, classificação, comparação e análise para elucidar o que era conhecimento; ele deu força aos sentidos para produzir conhecimento. Como afirmou Gaarder (1995), a realidade é composta, pela ótica aristotélica, “por diferentes coisas que, tomadas separadamente, são elas próprias compostas de forma e de matéria” (p.126-130). Hegel faz uma releitura de Aristóteles, trazendo para o plano das ideias sua dialética que, mais tarde, tem leitura revertida por Marx e Engels, que a utilizam para explicar o desenvolvimento da sociedade sob a ótica do materialismo histórico. A dialética é retomada com a ideia de confronto de ideias que se interpenetram, fazendo com que as negações não sejam antinomias mas aspectos que se complementam, levando em conta a historicidade do mundo e a possibilidade de, no processo de conhecimento, buscar-se sempre elevar seu patamar de abstração a um nível mais amplo e com maior compreensão. As leis da dialética estão aí expostas de maneira simplificada. Os sentidos são fundamentais para a produção do conhecimento porque todo conhecimento é humano. Esse embate histórico levou a uma classificação das divergências: Hegel permaneceu com a dialética idealista e os estudos de Marx e Engels e todos aqueles decorrentes de suas proposições, ficaram conhecidos como da dialética materialista (baseada no pressuposto de que a matéria vem antes da ideia porque esta é decorrente daquela e não o oposto, como professava Engels). Em resumo, repetimos o que afirmou Lencioni (1999): “Karl Marx e Friedrich Engels conceberam o método materialista dialético, que contém os princípios da interação universal, do movimento universal, da unidade dos contraditórios, do desenvolvimento em espiral e da transformação da quantidade em qualidade” (p. 159). O conceito de práxis torna-se fundamental para o entendimento da dialética como método. A representação que elaborei para representar a relação sujeito e objeto é a seguinte: Sujeito > < objeto. Esta alegoria mostra a relação dialética entre aquele que produz conhecimento e aquilo que é estudado. Nessa relação, sujeito e objeto se transformam mutuamente, no tempo, a partir do momento que interagem no processo de produção do conhecimento. Mas utilizar o método não é tarefa fácil nem é resultante de um receituário que se encontra na universidade. O uso do método é complexo porque ele ocorre, plenamente, quando se torna o caminho para a investigação científica em toda sua plenitude. Frigotto (1989), por exemplo, enuncia alguns pontos que merecem atenção na pesquisa em ciências sociais no meio universitário: - “há uma tendência de tomar o ‘método’ como um conjunto de estratégias, técnicas, instrumentos; - “a teoria, as categorias de análise, o referencial teórico, por outro lado, aparecem como uma camisa-de-força; - “a falsa contraposição entre qualidade e quantidade” é resultado de “uma leitura empiricista da realidade e a realidade empírica”; - é preciso pensar na dimensão do sentido “necessário” e “prático das investigações que se fazem nas faculdades, centros de mestrado e doutorado” (p. 83). O terceiro método (não em termos hierárquicos, mas apenas numa sequência aleatória) é o fenomenológico-hermenêutico. Para mim, é o método de mais difícil apreensão pelos pesquisadores porque ele depende, em primeiro lugar, da exposição das ideias elaboradas na pesquisa por meio da linguagem (composta, complexa e compósita) que não é, necessariamente, um meio de fácil transmissão do conhecimento (o senso comum e o conhecimento religioso podem mutilar o conhecimento científico e filosófico, por exemplo). Ele foi proposto, sob a denominação de fenomenologia, por Husserl que fazia a crítica a toda razão especulativa e idealista. Nestas duas denominações, ele criticava o materialismo histórico por sua forte componente ideológica (porque os escritos de Marx e Engels engendraram revoltas e movimentos de reação dos não proprietários do capital contra os proprietários do capital) e o idealismo por ser apenas o respaldo de ideias que não tinham fundamento científico. Nunes (1989) afirma que “o projeto fenomenológico se define como uma ‘volta às coisas mesmas’, isto é, aos fenômenos, aquilo que aparece à consciência, que se dá como seu objeto intencional”. Neste ponto, destaco um elemento fundamental para o método fenomenológico-hermenêutico: o conceito de intencionalidade. Esse conceito “ocupa um lugar central na fenomenologia, definindo a própria consciência como intencional, como voltada para o mundo” (p. 88). Então: considerando a intencionalidade do cientista, para Husserl, a fenomenologia seria o meio de superar a oposição entre realismo e idealismo. É o modo de ser do eu-pensante que deveria ser revelado. A observação, a descrição e a organização das ideias tornam-se os passos metodológicos para esse método. Além disso, a realidade se revelava por meio da redução fenomenológica. Essa estratégia metodológica significa incorporar a experiência do sujeito na produção do conhecimento, na sua relação com o objeto, o que se torna autêntico nessa visão. O mundo é o objetivo e a apreensão dele se faz por meio do pensamento, ou seja, na redução fenomenológica. Mesmo assim, ainda, o mundo é uma abstração. Por isso, esse método se torna útil para os estudos de grupos sociais, com estratégias como a vivência do objeto, a pesquisa-ação, do inter-relacionamento entre sujeito e objeto que, cada um a seu modo, são constituídos por sua própria realidade. O cientista apreende a realidade, portanto, pensando alguma coisa. A figura do pesquisador executa a redução do fenômeno para sua abordagem. Uma crítica que se faz a esse método é a força da explicação científica. Como é por meio da linguagem que se transmite o conhecimento, como se convence um outro de que o que se expõe é realmente científico? A alegoria a esse método é a seguinte: Sujeito > objeto. Ela significa a redução fenomenológica e a supremacia do sujeito em relação ao objeto porque este é apreendido a partir da abstração daquele. Em defesa desse método, comecei a ver, há alguns anos, o crescimento do seu uso (mesmo que, em muitos casos, de maneira simplificada e reducionista) na valorização da pesquisa qualitativa. Nos tempos que podem ser classificados de pós-modernos, quando as grandes narrativas perdem força (embora não desapareçam), as miradas às pessoas, com o fortalecimento da Psicologia e da Filosofia em seus aspectos especulativos, fazem com que a proximidade entre sujeito e objeto e os estudos em escalas locais, de grupos sociais, da pessoa em si, das percepções sociais e outras questões postas em pauta, podem ser a explicação para esse fortalecimento. Talvez eu tenha que, a partir disso, repensar e revisitar o conceito de horizonte geográfico que, na minha dissertação, elaborei na interface com a Psicologia. Acredito que outra contribuição que eu trouxe para a geografia foi a necessidade de se ter cuidado com a utilização das palavras conceito e categoria. Não foi resultado das leituras geográficas, mas da interface com a Filosofia. Sobre o conceito, embora eu tenha estudado várias contribuições, foi em Deleuze e Guattari (1992) que encontrei a definição suficiente para ele: “não há conceito simples” porque ele contém algumas características: - “todo conceito tem componentes e se define por eles”, - “todo conceito tem um contorno irregular”, - o conceito é questão de articulação, corte e superposição, é um todo, porque totaliza seus componentes, mas um todo fragmentário”. Além de tudo, “todo conceito remete a um problema”, e os problemas exigem “soluções” pois “são decorrentes da pluralidade dos sujeitos, sua relação, de sua apresentação recíproca” (p. 27-28). Aí estava o suficiente para mostrar a importância, a dimensão e a necessidade de se olhar o conceito como ele é cientificamente, diferenciando-o da ideia e da noção. Diferentemente da categoria, o conceito é uma noção abstrata ou ideia geral, resultado do intelecto humano. Em outras palavras, o conceito não é algo que sempre existiu, mas é construção por meio da especulação científica ou filosófica que se torna um elemento explicativo contido em uma teoria. A categoria, por outro lado, é a essência ideal da realidade. Ela existe independentemente da produção científica. Ela é componente que não depende do pensamento para existir. Ela está na unidade do método e do discurso. Aristóteles elencou dez categorias (sem as quais não se compreenderia a realidade): sujeito (substância ou essência), quantidade, qualidade, relação, tempo, lugar, situação, ação, paixão e possessão. Kant elaborou um quadro com 16 categorias que se inter-relacionam em todas as direções e sentidos, complementando-se e se negando. Cheptulin (1982, p. 258) afirma que a dialética tem as seguintes categorias: matéria e consciência, singular, particular e universal, qualidade e quantidade, causa e efeito, necessário e contingente, conteúdo e forma, essência e fenômeno, espaço e tempo. Observe-se que, com exceção da relação entre singular e universal, as categorias aparecem como pares dialéticos. Nesta lista, há quatro categorias “bem geográficas”: espaço e tempo, conteúdo e forma que, como elementos básicos da realidade, conformaram a proposta de método de Milton Santos (1985): o método seria ancorado nas categorias processo e conteúdo, forma e função. À categoria e ao conceito juntam-se, no debate dos métodos, lei, teoria, doutrina e ideologia. Não vou discorrer sobre esses elementos do método neste texto. Deixo ao leitor a consulta ao livro Geografia e Filosofia (v. referências). Para completar a análise do método, quero enfatizar uma mudança paradigmática fundamental que ocorreu, grosso modo, na ebulição do Renascimento europeu. A preocupação, quando do domínio da razão religiosa na Idade Média era explicar por que o mundo existe. Sua origem divina, negando a ideia de caos (a primeira divindade) de Hesíodo, cujas bases para entendimento do mundo era a natureza, como ela se apresentava aos sentidos, engessou a capacidade humana de ir além da obediência e da oração. Quando a pergunta se transforma em como (Como o mundo funciona? Qual a mecânica do universo e como ela pode ser apreendida pela razão?), a revolução no pensamento humano e, portanto, o lançamento das bases da ciência moderna estava dado. A dessacralização do corpo humano (estudos de anatomia humana, descoberta da lógica da corrente sanguínea etc.); a descoberta da perspectiva; a elaboração das leis da mecânica celeste; a descoberta da gravidade universal; a invenção da caravela acelerando as navegações para mares nunca dantes navegados; o uso da pólvora, inventada pelos chineses; a invenção da imprensa, que permitiu a divulgação dos escritos em sua forma original para todas as pessoas, diminuindo a importância da transmissão seletiva ou oral do conhecimento, entre tantos outros fenômenos consideráveis, foram fundamentais para revolucionar o pensamento científico, as artes, a educação, enfim, a visão de mundo se transformou radicalmente. É importante essa constatação: a mudança de uma pergunta (aqui, mostrada de maneira bem simplificada) provocou a mudança de paradigma e isso provocou uma revolução na forma da humanidade pensar e de produzir conhecimento. Esse fenômeno não pode ser negligenciado por aqueles que pensam a ciência, mesmo que pelos prismas da Geografia. CONSIDERAÇÕES FINAIS Não quero concluir com ideias definitivas. Desde o primeiro parágrafo minha intenção foi abrir o diálogo com o leitor para a releitura de um exemplo (ou uma possibilidade) de produção do conhecimento geográfico intermediado pela inter e pela transdisciplinaridade, retirando a Geografia e o método científico de seus grilhões disciplinares. Mesmo assim, ficou claro que, desde o primeiro texto, ainda nos tempos da graduação em Geografia, teve como principal preocupação a cidade. Desde a cidade pequena, objeto no mestrado à cidade média, no doutorado, outros projetos (muitos trabalhados coletivamente) tiveram esse recorte da realidade brasileira como foco principal. Uma vez na interface com a Psicologia, outra com a Economia Política, aspectos da Demografia permeando vários trabalhos, a Filosofia entrando em cena na livre docência e na prova didática do concurso de titular, eis a cidade presente nas minhas preocupações. Ela veio, ficou e ainda continua ali, no horizonte próximo. Para terminar, quero registrar que, como nosso ambiente de trabalho é a universidade e o laboratório da Geografia é o mundo, a linha interpretativa que segui, neste texto, mostrou a multiplicidade de possibilidades de se produzir ideias, realizar análises, esboçar explicações, propor delineamentos teóricos e, acima de tudo, contribuir com a interpretação do mundo. REFERÊNCIAS CHEPTULIN, Alexander. A dialética materialista: categorias e leis da dialética. São Paulo: Alfa-Ômega, 1982. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é Filosofia? São Paulo: 34, 1992. FRIGOTTO, Gaudêncio. O enfoque da dialética materislista histórica na pesquisa educacional. In: FAZENDA, Ivani (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 1989. p. 69-90. JARAMILLO, Samuel. El precio del suelo y la naturalez da sus componentes. Bogotá, 1982 (mimeog.). LEFEBVRE, Henri. Lógica formal/lógica dialética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983. LEWIN, Kurt. La teoria del campo em la ciencia social. Barcelona: Paidós, 1968. NUNES, César A. Aprendendo Filosofia. Campinas: Papirus, 1989. REBOUR, Thiery. La théorie du rachat: Géographie, Économie, Histoire. Paris: Publications de la Sorbonne, 2000. SANTOS, Milton. Espaço & método. São Paulo: Nobel, 1985. SPOSITO, Eliseu S. Espaço. In: SPOSITO, Eliseu S. (org.). Glossário de Geografia Humana e Econômica. São Paulo: Editora Unesp, 2018, p. SPOSITO, Eliseu S. Geografia e Filosofia. São Paulo: Editora Unesp, 2004. SPOSITO, Eliseu S. Migração e permanência das pessoas nas cidades pequenas. Os casos de Pirapozinho e Álvares Machado na Alta Sorocabana. USP/FFLCH, 1984 (Dissertação de Mestrado). SPOSITO, Eliseu S. Produção e apropriação da renda fundiária urbana em Presidente Prudente. São Paulo: USP/FFLCH, 1990 (Tese de Doutorado). TOPALOV, Christian. Le profit, la rente et la ville. Élements de théorie. Paris: Economica, 1984. NOTAS 1 - Quem viu o filme Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, vai ter uma imagem muito parecida – anos 1960 – àquela que eu vivi em relação ao Cine Vera Cruz. 2 Este texto, em vários trechos, oscila da primeira pessoa do singular para a primeira do plural, dependendo da necessidade de se narrar fatos individuais ou coletivos 3 - Esta frase é referência à melhor música de todos os tempos, para mim, é C’era um ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, de Migliacci e Zambrini, cantada por Gianni Morandi. Em português, foi gravada pelos Incríveis e Engenheiros do Hawai. Ela reúne a revolta com a guerra do Vietnã, o romantismo nômade dos anos 1960 e o sonho de liberdade que moveu a juventude ocidental nessa época. 4 - O conceito de espaço vital de Kurt Lewin não tem nada a ver com o conceito de espaço vital de Friedrich Ratzel. 5 - Inseri, no texto, algumas informações quantitativas que podem ser observadas, com maiores detalhes, em meu CV Lattes, disponível na página do CNPq. 6 - O GAsPERR está cadastrado na Plataforma dos Grupos de Pesquisa do CNPq e na Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UNESP 7 Transcrevo, aqui, texto publicado na revista Entre-Lugares, da UFGD – Dourados. A referência é: SPOSITO, Eliseu S. As Geografias que me fizeram. Revista Entre-Lugar (UFGD. Impresso), v. 10, p. 13-37, 2020. Acredito que o texto mostra, de maneira bem clara, como fui lendo a realidade e utilizando diferentes teorias. 8 SPOSITO, Eliseu S. Geografia e Filosofia. São Paulo: Editora UNESP, 2004. 9 SPOSITO, Eliseu S. Espaço. In: SPOSITO, Eliseu S. Glossário de Geografia Urbana e Econômica. São Paulo: Editora UNESP, 2018, p. 171-186. 10 SPOSITO, Eliseu S. População urbana e rural em São Paulo. Anais. 7º. Congresso Brasileiro de Cartografia. São Paulo, 1975, p. 367-446. 11 SANTOS, Milton. Espaço & método. São Paulo: Nobel, 1985 12 Aqui, utilizo o texto que escrevi com as citações de Popper
ELISEU SAVERIO SPOSITO AUTOBIOGRAFIA - Eliseu Savério Sposito Professor Titular aposentado da UNESP, campus de Presidente Prudente (1980-2019) Professor Visitante na Universidade Federal de Uberlândia, campus do Pontal, Ituiutaba (2019-2020) NO PRINCÍPIO, PRINCÍPIO ERA Deixo, neste texto, um depoimento sobre minha vida na Geografia. Começo buscando algumas lembranças bem distantes no tempo. Antes, bem antes de iniciar minha carreira como geógrafo-docente-pesquisador. Nasci em uma casa de madeira – que não existe mais – zona rural, próximo ao Córrego Anhumas, no município de Pirapozinho, onde fui batizado, logo depois de 14 de junho de 1950. Os primeiros cinco anos foram soprados, do que me lembro, no km 27 da Estrada Alves de Almeida, naquele tempo coberta de areia e seixos, que liga Pirapozinho e Narandiba. O “27”, como os moradores o chamavam, era um aglomerado rural com uma capela da religião católica, o armazém do “Seu” Prudenciano, uma escola para os quatro primeiros anos letivos, duas ou três casas à beira da estrada e um campo de futebol, mais areia do que gramado, mas lugar de muitos chutes na “bola de capotão”. Minha casa ficava bem na curva da estrada de onde, sentado com meu irmão menor, Élvio, pedia “carona” para os carros que passavam ou mesmo para a “jardineira” (gritando “leva nós!”), hábito abandonado quando um caminhão parou e queria, realmente, dar carona. Imagine o medo que bateu em nós dois, eu com menos de cinco anos de idade. Na curva da estrada ficava minha casa, que já não existe mais, mas que era ampla o suficiente para abrigar toda a família (já éramos seis) e a professora que lecionava na escola primária local, que também não existe mais (nem ela, nem a professora). Também não existem mais a cancha de bocha e o campo de futebol. O que existe, então, desse tempo? Acredito que apenas lembranças que persistem na memória, já quase apagadas. Foi nesse lugar em que, saindo para andar no campo arado, a 10 metros de nossa casa, vimos – meu irmão menor e eu – três cachorros virem em nossa direção, crescendo, a gente se sentou na terra fofa, gritando aos prantos, quando um deles abocanhou minha perna direita e dela tirou um pedaço pequeno da carne, que hoje ainda é lembrado pela cicatriz na panturrilha. Ao ouvir os gritos, meu pai saiu correndo, espingarda na mão, dando tiros para espantar os cachorros. A lembrança de três cachorros dando voltas, mais altos que dois pequenos, soltando babas e de dentes arreganhados, ainda volta à lembrança de maneira aterradora. A área onde estava a casa da família, no Km 27, contavam os mais velhos, foi povoada por bugios, capivaras, jaguatiricas, onças, tamanduás, tatus-galinha... As aves, às vezes, apareciam nas proximidades (algumas, atualmente, ameaçadas de extinção) como jacu, jacutinga, gavião, papagaio, curió, tiê-sangue, sabiá, canário, urutau, corruíra... A riqueza da flora era impressionante: peroba, cabreúva, cedro, ipê (de várias cores), canela... depois de dizimada foi substituída, lentamente, pelo eucalipto. A região era rica em madeira; por isso, ainda há, como testemunha, nas cidades da região de Presidente Prudente, muitas casas com esse material que resistem, de pé, há mais de 70 anos. Quando fui me alfabetizar, a família mudou-se para Pirapozinho. Isso foi em 1957, quando fui matriculado no primeiro ano do curso primário. Eu tinha seis anos de idade (“primeiro ano, cabeça de pano”). Nossa casa, na rua Rui Barbosa 474, que ficava a 30 metros dos muros da escola, não existe mais, o que possibilitava que minha mãe me levasse o sanduíche (muitas vezes duas fatias de pão caseiro recheadas com açúcar ou com banha de porco) na hora do recreio. Não me lembro da minha primeira professora, mas de uma substituta – Zilda Marafon – porque, nesse ano, as mudanças foram várias. Não tive problemas, mesmo com as mudanças de docentes, em minha alfabetização. Minha professora do terceiro ano, dona Climenes, e o professor do quarto ano (Seu Djalma) ficaram indeléveis na memória. No primeiro e no terceiro anos fiquei com a maior média de toda a classe (no terceiro ano, ganhei um livro com instrumentos musicais de presente) No segundo e no quarto ano, fiquei em segundo lugar. No quarto ano senti-me injustiçado porque eu sabia que tinha “tirado” nota maior, mas a Cristina Mori ficou com os louros. Comecei o curso ginasial no CELSA (Colégio Estadual Lúcia Silva Assumpção) em 1961. Tinha dez anos de idade. Eu era pequeno perante os “veteranos”, com idades de 12 a 15 anos, que me olhavam de cima para baixo, não me deixavam participar dos jogos de futebol (a não ser como goleiro), mas precisavam de mim para melhorarem suas notas em várias disciplinas. Dois acontecimentos marcaram minha vida no ginásio. O primeiro foi editar, com os recursos da época, a revista “O Repórter Mirim”, junto com meu amigo, que hoje vive no Japão, Vergílio do Espírito Santo. Foram vários números entre 1962 e 1963. Infelizmente não tenho, aqui, nenhum exemplar para mostrar. Como eu já desenhava bem, fazia todas as ilustrações da revistinha e, com uma velha máquina de escrever Remington, datilografava cuidadosamente as páginas; feita a capa, pintada com lápis de cor, o grampeador dava o acabamento final. O segundo acontecimento que destaco foi a influência de meu professor de geografia, Rodolfo Horle, que me incentivou a fazer o curso de Geografia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente (a FAFI, onde entrei em 1971, que atualmente é o campus de Presidente Prudente da UNESP). Tive professores fracos de Matemática e Latim, mas professores entusiasmados de História (Dona Ivanice), Francês (Dona Rosário), Desenho (Dona Hilda), Língua Portuguesa (Achelon), além do de Geografia. Fiz muitos desenhos com tinta guache em cartolina nas aulas de desenho, e mais tarde com o Cilinho, desenhista autodidata, que tivera paralisia infantil, mas dominava com maestria o lápis e o pincel. Vez ou outra podia, depois de pedir insistentemente dinheiro para meu pai, assistir a algum filme no Cine Vera Cruz (1), do Sr. Mourão, que era lembrado com assobios e palavrões toda vez que o filme arrebentava, o que era muito comum. Naquele tempo não se falava em ar condicionado e, mesmo assim, assistir às “matinês” (não sei por que, sempre no período da tarde), para torcer para o mocinho contra o bandido. Roy Rogers era o preferido, mas havia outros cowboys que “faziam a cabeça” da garotada. As lições, no final dos filmes, era de que o bem sempre vence e que o crime não compensa. Depois vieram os documentários de futebol do Canal 100, com jogos das equipes cariocas, enaltecendo o Maracanã e destacando os “arquibaldos e geraldinos” (aqueles que ficavam nas arquibancadas e na geral – parte de baixo dos degraus do estádio onde todos ficavam de pé). O cine Vera Cruz também não existe mais. A esquina está lá, com outra função. A destruição criadora esteve presente na minha vida desde o início. Nesse tempo, minhas férias eram dias de alegria no sítio do Palope (cognome de meu pai, que mesmo tendo o sobrenome Sposito, ficou com uma corruptela do nome de sua mãe, minha avó, Rosa Palopoli). Foi lá que ouvi muitas histórias, contos e “causos” (contados pelo Baiano ou por meu avô, Quim Bié – de Joaquim Gabriel da Fonseca), foi lá que via o saci girando nos redemoinhos, que chupava manga nos mais altos galhos da árvore, que plantava abacaxis para saciar minha vontade por vitamina C, que trabalhei no arado com o Sereno (cavalo baio e arisco), o Preto (cavalo manso que sabia o caminho de volta para casa) e a Girafa (mula branca e alta, de difícil manejo), que vi muitos “camaradas”, nordestinos ou japoneses, ararem a terra e colherem batata, café e banana. Andava “de pé no chão”, ora na areia quente do meio-dia de janeiro, ora no frio orvalho da manhã em julho, depois de alguma geada qualquer. Meu avô, que na realidade era apenas o companheiro de minha avó (porque o pai de meu pai havia voltado para a Itália e lá falecera, muitos anos antes), gostava de falar de suas andanças por trem pela “Paulista Velha” (estrada de ferro que passava por Jaboticabal, Olímpia, Catanduva etc), desfilando corretamente o “rosário” de cidades, em sua ordem no sentido capital-interior, e falar os números e os nomes do jogo do bicho, que ele entendia muito bem. Antes de dormir, o “programa” era deitar na areia, na frente da casa, ver estrelas e ouvir os “causos” do Baiano, um preto de meia idade, que também não existe mais, que contava, entre muitos, a história do “Reino dos Corpos sem Alma”, e falava de suas andanças pelas cidades da “Paulista Nova”, entre Marília e Flórida Paulista. Lá pela metade da década de 1960 eu já ouvia Chico Buarque, Beatles, o pessoal da Jovem Guarda ou da Tropicália e muita música sertaneja. Vivi os anos sessenta entre meus dez e vinte anos de idade. Não é preciso ficar repetindo o impacto do golpe militar de 1964 que teve, mesmo no longínquo Oeste Paulista. Minha avó, em um forno a lenha, cozinhava a comida mais gostosa do mundo, a omelete (fritada, para nós) cujo aroma guardei por muito tempo na memória olfativa, e derretia a banha que depois conservava os alimentos e servia para untar as panelas. A pamonha e o curau, comida obrigatória na época da colheita do milho; as mangas eram de fim de ano; as bananas “davam” o ano inteiro; a jaboticaba pretejava os troncos uma vez por ano, e por aí ia a vida, fluindo sem contar os dias que precisavam correr para as crianças crescerem. As férias no sítio foram obrigatórias, trabalhando ou não, até meus dezoito anos. Meu pai vendeu o sítio em 1978; minha avó faleceu em 1984, minha mãe em 2007 e meu pai em 2009. Muito do que marcou minha vida pode ser lembrado ou visto em uma ou outra fotografia. Aí me lembro do filme “Avalon”, no qual o principal personagem, ao constatar que suas casas não existiam mais, fica na dúvida se ele mesmo existia ou existira. De posse de um diploma da Escola Normal de Pirapozinho, tornei-me “professor primário”, disse para meu pai que não trabalharia mais na roça. Assim, em 1969, com meus dezoito anos cumpridos, comecei a lecionar em uma escola rural, que também não existe mais, que tinha as “turmas” em quatro filas, uma para cada um dos anos. Tive que trabalhar com quatro séries ao mesmo tempo. Não sei se hoje teria a habilidade para isso, mas naquele tempo, de idade próxima às dos alunos, pude interagir sem problemas com eles por três meses. Eu ia a pé, da cidade à escola, por três quilômetros, de manhã, por volta de 7h e voltava ao meio dia, muitas vezes com alguma prenda que uma ou outra aluna trazia para o professor. Quinze minutos antes da “hora do recreio” escalava três alunas ou alunos que iam fazer o leite que acompanharia a merenda que a turma tinha trazido de casa. Um barril de leite em pó ficava num pequeno reservado, ao lado da sala de aula, fruto do programa Aliança para o Progresso, forma de investimento na alimentação de alunos das escolas primárias, resultado de acordo entre Brasil e Estados Unidos, na época da guerra fria, cujo intuito era soltar algumas migalhas para que as pessoas não caíssem “no conto do comunismo”. Depois, fui “assinar ponto” no grupo escolar em que me alfabetizei para melhorar minha possibilidade de assumir aulas no ano seguinte. Tinha que ficar na escola das 8h às 10h para uma eventual substituição. Eu era o único homem dos “substitutos”. Não tinha muita conversa porque as colegas, que já tinham televisão em casa, ficavam o tempo todo falando das novelas da TV Tupi (As pupilas do senhor reitor; Nino, o italianinho) ou de um seriado (Penélope). Aproveitei e li o que podia na biblioteca da escola. Aí tomei conhecimento de livros como Moby Dick, A ilha do tesouro, As viagens de Gulliver, As aventuras de Tom Sawyer, Viagem à Lua, entre tantos outros – alguns livros que se tornaram filmes, que eu vi nessa época ou mais tarde. Enfim, grande parte da literatura juvenil passou por meus olhos em 1969. Enquanto eu lia clássicos da literatura juvenil, muitos gibis e fazia meu Curso Normal em Pirapozinho, alguns alunos da antiga FFCLPP (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente) esconderam-se por causa da repressão militar, outros fugiram, e dois ou três simplesmente desapareceram. Aqueles que foram apanhados, apanharam. Enquanto a repressão militar já mostrava suas garras e seus dentes, eu me formava professor primário (P-I, como se falava na época) no colégio das freiras. Meus professores eram, principalmente, jovens egressos da FFCLPP, dos cursos de Ciências Sociais e Pedagogia. Todos idealistas, entusiastas. Lembro-me de Leny, Nilcéia, Júnia, Neuzinha... e da madre Olga, tão simpática mas tão pequena que quase cabia na palma da mão. Nesse tempo, participei do TLC (Treinamento de Líderes Cristãos), movimento carismático ligado à Igreja Católica, originário da Espanha, que foi me mostrando, aos poucos, a necessidade que algumas pessoas têm de crescer e aparecer às custas de outras. A canção-símbolo desse movimento, De colores, hoje ecoa em minha cabeça entoada pela belíssima cantora greco-francesa Nana Mouskouri (“De colores / se visten los campos en la primavera / de colores / son los pajaritos que vienen de afuera / de colores es el arco-iris que vemos lucir / y por eso, los grandes amores, de muchos colores / me gustan a mi”). Fiz retiro no seminário de Presidente Prudente, ouvi muitos conselhos (felizmente segui poucos), cantei, com os outros, Na tonga da mironga do kabuletê, Tarde em Itapoã. Havia muito cinismo no ar... Eu já havia me desiludido com a Igreja Católica quatro anos antes quando observei, em Pirapozinho, que os mais fervorosos religiosos eram aqueles cuja moral era questionada na cidade. Foi nesse tempo que vi Paulo Autran declamar “As mãos de Eurídice” e o Coral Santo Inácio de Loyola encenar “Morte e vida severina” (“esta cova em que estás / com palmos medida / é a terra que querias / ver dividida; não é cova grande / nem larga nem funda / é a parte que te cabe / deste latifúndio...”). A revolta com a repressão, a busca de justiça social, de liberdade individual, já estavam presentes no meu cotidiano escolar. Fizemos (2) passeata quando quiseram (nem sei mais quem “quiseram”) “tirar” o padre Diógenes do Curso Normal porque ele era adepto e entusiasta da Escola de Summerhill, surgida na Inglaterra (condado de Suffolk) em 1921, que pregava a liberdade total no processo de ensino-aprendizagem em termos democráticos, apoiando-se em pedagogias alternativas segundo as quais a criança deve ter liberdade para escolher e decidir o que aprender de acordo com seu próprio ritmo. O padre, logicamente, foi taxado até de comunista sem, no entanto, acredito, nem saber quem foi Karl Marx. Alguns adeptos da autoajuda já faziam suas palestras contra a insatisfação crescente, principalmente entre os estudantes, com a repressão que vinha de fora e de dentro das famílias. Os ecos dos anos sessenta estavam, finalmente, chegando na nossa terra e mostrando suas garras, colando-se em algumas pessoas. As canções de protesto continuavam importantes nas nossas rodinhas de domingo à noite, na Praça da Matriz, quando se buscava entender as mensagens, algumas cifradas, que seus compositores queriam “passar” para as pessoas. O Brasil que se urbanizava foi palco para a criação da bossa nova (o jazz brasileiro, para o resto do mundo), a partir da batida sincopada do samba de João Gilberto, alimentada pelo romantismo de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Na onda do rock’n’roll, a Jovem Guarda, comandada por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderléa cantava a tristeza e a ingenuidade da juventude. Mas essa mesma juventude vai se encantar também com as canções de protesto e com a tropicália. A tropicália, que notabilizou os baianos (Caetano, Gil, Gal e Bethânia), trouxe como novidade a introdução dos metais e do som elétrico à música popular brasileira. Essa prática vai se consolidar com os trios elétricos baianos. Uma outra característica da tropicália foi procurar aproximar, musicalmente, os países latinoamericanos, cantando seus costumes e fragmentos de sua história. As canções de protesto podem ser identificadas por: 1) ter letras engajadas politicamente, elaboradas por compositores que explicitavam sua posição política, mesmo que não fossem filiados a partidos políticos; 2) tratar dos temas considerados sociais, desde os costumes, a migração, a cidade, a pobreza, a propriedade da terra, a América Latina etc.; 3) ter como alvo, preferencialmente, o regime político vigente (a ditadura militar que governou o Brasil entre 1964 e 1985). Eu também fui um garoto que amou muito os Beatles, The Ventures, Bob Dylan e Elvis Presley e amou pouco os Rolling Stones. Não tenho nenhuma medalha de guerra no peito (3), mas um coração que bate nos ritmos das canções dessa turma e dos filmes assistidos no Cine Vera Cruz, que se tornou apenas um nome enfraquecido na memória. Nas horas de inspiração que vinha não sei de onde, motivado pelas canções de protesto, pela Jovem Guarda e pelos Beatles, já compunha algumas canções que foram gravadas somente em 2011, 2018, 2019 ou 2020, nos discos “Cenário”, “Meu canto geral’, “Viver no campo” e “Samba, bossa nova e algo mais,” disponíveis no Spotify. Todas essas tendências marcaram bastante a minha vida. Hoje, os CDs que tenho e que guardo com carinho, trazem gravadas, junto com minhas lembranças, as canções que eles e elas fizeram para mim. Voltando ao que falava antes, no ano seguinte, ministrei aulas no período da manhã, na Escola Estadual de Primeiro Grau Maria José Barbosa Castro, para a turma do quarto ano. Naquele tempo, ser professor era uma honra e dependia muito dos méritos de cada um. No horário do recreio, lia quando podia ou conversava com o “servente da escola”, José Tomé Sobrinho, meu amigo por muito tempo, até seu falecimento não sei quando. Pude ver o Brasil tricampeão, com vários primos, no velho sofá de courvin, na TV Colorado, em branco e preto, comprada com meu salário. O percurso para a escola era feito diariamente e eu passava em frente ao CELSA (escola onde fiz o ginasial), quando compus minha canção “Se a memória não me falha” (que está no CD “Cenário”), pois cruzava, todos os dias, com uma moça que nunca mais vi. Para ganhar alguma coisa mais, fiz a seleção e trabalhei na aplicação dos questionários do Censo Demográfico de 1970, na zona rural, ao norte de Pirapozinho, no Bairro do Km 25, na estrada para Presidente Prudente. Cursar Geografia estava no meu horizonte desde o segundo grau, como já afirmei, quando acompanhava as aulas de Geografia, mesmo que o professor se limitasse aos mapas coloridos, aos fatos mais banais e à descrição dos territórios. Não havia, ainda, em meus sonhos futuros, nada que apontasse para o trabalho na Universidade; a palavra pesquisa ainda não estava escrita em meu glossário do cotidiano nem em minhas aspirações profissionais. A GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA, COMEÇO DO TEMPO NÃO IMAGINADO Em 1971 iniciei efetivamente o curso na FFCLPP. Em agosto, fiz concurso para desenhista e fui aprovado. Passei a trabalhar e estudar na mesma faculdade. Trabalhava de manhã e à noite, seguia o curso à tarde. O curso era seriado e se alternava, de ano a ano, entre os períodos da manhã e da tarde. As disciplinas duravam o ano todo. A partir daí, já não viajava os vinte quilômetros que separavam Pirapozinho de Presidente Prudente diariamente, mas mudei-me para a Pensão Portuguesa, na Rua Dr. Gurgel, onde dividia quarto com um outro jovem do qual só me resta vaga lembrança. Agora já estou falando da faculdade. Durante o curso de Geografia, alguns acontecimentos merecem ser lembrados porque tiveram seu papel em minha vida acadêmica. Participar, desde o primeiro ano, das “excursões” foi uma agradável novidade. Conhecer, ainda em construção, as usinas hidrelétricas Capivara e Ilha Solteira; fazer entrevistas e aplicar questionários em Ribeirão Preto, Piracicaba, Mococa; percorrer os três planaltos do Paraná, desde Londrina até Paranaguá; ter a aula de campo no barranco da SP-270, no município de Maracaí para conhecer os folhelhos; visitar Pedrinhas e outros tantos lugares que se apresentavam como diferentes paisagens para o início da leitura geográfica que, aos poucos, foi se tornando familiar. As aulas de Cartografia e Topografia, aos sábados, ministradas por Marcos Alegre, com o ambiente da descontração e da prática constante do desenho; as aulas de Geografia Econômica, com as provocações teóricas, já nessa época, do Armen Mamigonian; as aulas eruditas de Antropologia Cultural, com Max Henri Boudin, que aprovava todo mundo com nota máxima e não fazia chamada, mas que, para os poucos que permaneciam, eram momentos especiais para a descoberta de novas palavras; a racionalidade da Idade Média e do Renascimento pelo Dióres Santos Abreu que, lendo seu jornal e não vendo meus colegas “colarem”, sabendo que eu havia obtido a maior nota na primeira prova, na segunda, ao ver minha nota 4,0, apenas comentou que eu “dormira sobre os louros”. As aulas de campo de Geologia, com o José Martín Suárez (Pepe), sempre com seu “martelito” e escalando vertentes, eram incompreensíveis para todos os que viam naquilo apenas mais uma observação de barrancos; a dureza e seriedade da Ruth Kunzli, na Antropologia Física, medindo nossos crânios e narizes, classificando nosso sangue (desde aquele tempo eu sei que sou O+) e reprovando a maioria da classe; a Climatologia, do Hideo Sudo, e a dificuldade para fazer os exercícios de balanço hídrico; a história da Terra, com o Alvanir de Figueiredo, e o desenho das eras geológicas num rolo de papel higiênico, para mostrar a insignificância do quaternário em apenas um centímetro de papel. Como desenhista da FFCLPP, pude organizar gráficos e cartogramas das teses de muitos professores. Esse testemunho está presente na bibliografia produzida na faculdade, com as teses de geógrafos como José Ferrari Leite, Márcio Antonio Teixeira, Dióres Santos Abreu, Armando Garms, Hideo Sudo, e de professores de outros cursos como Thereza Marini, Wilson de Faria, Maria de Lourdes Ferreira Lins, José Arana Varela... Em 1972, quando se realizou em Presidente Prudente o I Encontro Nacional de Geógrafos, elaborei todos os cartogramas do Guia de Excursões publicado pela AGB e fiquei de plantão para as eventualidades do acontecimento, como fazer cartazes, cartogramas e avisos de última hora. Por causa disso, não acompanhei todos os trabalhos que se desenvolveram no Anfiteatro I, mas pude ver que o tema predominante discutido foram os grandes projetos do governo militar (rodovia transamazônica, grandes hidrelétricas), mesmo que estivesse emergindo, claramente, o embate metodológico e ideológico entre a geografia neopositivista e a marxista. Assim, a “administração” estudantil da academia já tinha a minha contribuição. Enquanto graduando da Geografia, fui presidente do Centro de Estudos Pierre Deffontaines. Durante a gestão, foi importante a realização de cursos de extensão, com as presenças de Juergen Langenbuch, Amália Inés de Lemos, entre outros. Nessas ocasiões, os professores que vinham de fora expunham suas ideias e, aos poucos, os estudantes de Geografia foram vendo que não havia somente uma tendência geográfica ou apenas um centro de referência, que era a Universidade de São Paulo. Durante o ano de 1974 eu monitorei as aulas práticas de Topografia, quando os alunos, manuseando os velhos teodolitos, faziam as anotações nas suas pranchetas, durante um ano, para completar a poligonal do terreno onde estava a então FAFI. Num sábado de novembro, a Carminha se aborreceu com as colegas que não anotaram os ângulos e a diferença altimétrica da mira (régua graduada que auxiliava nas medições verticais). Como eu era o responsável pelo acompanhamento das aulas, fui, no final daquele sábado, à sua casa para me desculpar por não ter verificado o trabalho das colegas. Ela chegava, com a família, da feira. Depois dessa conversa, combinamos uma saída para o dia 21 de novembro. Aí começou o romance que já dura 46 anos. Durante esse tempo aconteceram tantas coisas boas que a minha memória (humana, e não RAM ou ROM) não conseguiu registrar em sua maioria. Em 1975, já formado, participei, durante todo o ano, de um curso de especialização intitulado “O Extremo Oeste Paulista”, quando pude ver mais de perto e em detalhes, o território do hoje Pontal do Paranapanema. Ainda não havia os sem-terra. O algodão, que sucedera o café, já havia se esgotado e as pastagens se espalhavam por toda a área. A experiência de colonização da Fazenda Rebojo mostrava sinais de fracasso. A imensidão das quase planas pastagens do município de Sandovalina, a nascente cidade de Rosana, com poucas casas e roças em suas quadras, eram exemplos que ainda hoje têm sua presença na área. Enquanto desenhista da FFCLPP eu tinha, na sala de trabalho, amplo espaço para, juntamente com outros colegas (lembro do Mauro Bragato, deputado estadual por São Paulo desde 1978, do Macarrão, do Donaton, eles alunos e de professores como Carlos Tartaglia), principalmente das Ciências Sociais, passar algumas noites, ao lado da caneta de nanquim e da máquina de escrever elétrica IBM, com esfera (grande novidade naquele momento), montando os números de Carcará, cujo cognome era pega, mata e come (nome que eu criei), nosso jornal estudantil que, inspirado nos semanários Opinião e Movimento, expunha as nossas versões dos fatos que mais tocavam nossas preocupações. Essas atividades “clandestinas” quase me custaram o emprego. Fiquei sabendo, muitos anos depois que, em reunião da congregação da FFCLPP, lá pelos idos de 1975, mais ou menos, foi colocada, em pauta, minha demissão “a bem do serviço público”, porque eu fazia jornais estudantis, durante a madrugada, em minha sala de trabalho. Havia, sim, uma pedra no caminho. Felizmente, só vim a saber dessa caça muito tempo mais tarde. Esse ano foi bem movimentado. Curso de especialização, quase demissão... também foi minha primeira experiência como candidato a uma vaga na faculdade, na área de Cartografia. Recém formado, não tinha qualquer expectativa. Compuseram a banca Gil Sodero de Toledo e Manuel Seabra, da USP, além de Marcos Alegre, “da casa”. Segundo Gil, ambos queriam “apostar” em mim porque eu tinha habilidades com mapas e, com vinte e cinco anos, teria ainda muito tempo para a profissão. A Congregação (naquele tempo não havia o concurso nos moldes atuais, pois era uma entrevista a partir do currículo do candidato que dava as informações para a banca tomar suas decisões) optou por contratar um mestrando da USP, que se constituiu num dos maiores fracassos docentes do Departamento de Geografia. Nesse ano, houve outro acontecimento importante para a minha vida. Esteve em Prudente, apresentando sua tese, defendida no ano anterior, Armando Corrêa da Silva. Por sugestão de Armen Mamigonian, conversei com ele para ver se eu seria recebido para uma entrevista porque eu pleitearia uma vaga no mestrado da USP. Ele foi atencioso e, mesmo não se lembrando de mim, um ano depois, quando fui me apresentar, selecionou-me com mais outros seis candidatos, entre doze. Daqueles sete mestrandos, apenas eu e Amélia Damiani concluímos a dissertação. Em 1977, seis meses antes de meu casamento, tive que enfrentar uma encruzilhada tríplice. Teria que me mudar para São Paulo para continuar o mestrado. Solicitara, à FFCLPP, afastamento por dois dias da semana, com horário especial de trabalho. Havia prestado concurso na Caixa Econômica Federal, com mais uns 50.000 candidatos. E havia sido contemplado com uma bolsa da FAPESP. O que fazer? Por qual saída optar? Para desespero de meu futuro sogro, optei pela bolsa da FAPESP. Ele queria que eu optasse pelo emprego na Caixa Federal, mais garantido e com salário equivalente ao dobro do valor da bolsa. Fui ao prédio da Caixa, na Praça da Sé, assinar minha desistência da vaga para que um outro candidato pudesse usufruir o emprego. É inesquecível o desespero da funcionária que não queria me deixar assinar o papel da demissão, dizendo que eu iria me arrepender, que eu “desse uma voltinha”, “pensasse um pouco mais”... Depois de meia hora perambulando pela praça, eu, que fora para a sede da Caixa com a decisão tomada, ficara indeciso pela atitude de uma outra pessoa. Voltei imediatamente, assinei a demissão, deixando a funcionária ainda de olhos arregalados, dei meia volta, desci as escadas e nunca mais voltei àquele prédio. Junto com aquele papel de desistência, ficou um futuro que eu nunca conheci, do que não me arrependo. MESTRADO, DOUTORADO A matriz que todos seguiam, predominantemente, para se elaborar dissertações e teses, era a estrutura das monografias regionais, baseadas na Geografia Regional francesa. Primeiramente, descreviam-se os aspectos físicos da área estudada, em seguida eram abordados os aspectos demográficos para, finalmente, se descrever os aspectos econômicos. Na conclusão, tentava-se, nem sempre se conseguindo, “amarrar” essas três partes, geralmente enfocadas separadamente. Essa era uma característica da produção do conhecimento geográfico de então. A outra, era escolher um tema da área de origem ou onde habitava o mestrando ou doutorando. Esse problema também a mim se apresentou. E a escolha caiu, claro, em duas pequenas cidades do Oeste de São Paulo, ainda conhecida regionalmente como Alta Sorocabana. As cidades foram Pirapozinho (sede do município onde nasci), situada a vinte quilômetros ao sul, e Álvares Machado, a dez quilômetros a oeste de Presidente Prudente. O outro problema foi escolher a base teórica. Repetir as descrições da população, do comércio ou da zona rural dos municípios não agradava nem a mim, nem ao orientador. Mas ainda ressoavam os ecos do êxodo rural e a evidenciação, na escala regional, dos trabalhadores boias-frias. Decidiu-se, então, estudar o movimento da população das duas pequenas cidades. Como? Medindo e descrevendo a perda de população? Aí a pergunta se inverteu: ao invés de estudar por que as pessoas migram, resolvemos, eu e o orientador, tomar a decisão de eu estudar por que elas permanecem em suas cidades. Mais uma pergunta compareceu: quais as teorias que poderiam, inicialmente, direcionar as investigações. A decisão também não foi fácil. Depois de algumas conversas, resolvi investigar como as pessoas percebiam seu espaço e, a partir daí, tentar buscar as explicações do porquê elas se fixavam no seu território, evitando se deslocar temporária ou definitivamente. A opção foi pela teoria de campo de Kurt Lewin, cuja contribuição na Psicologia Gestaltista privilegiava, com seu conceito de espaço vital (4), a posição do indivíduo em relação às formas (residência, bairro, rua, cidade, por exemplo) de seu espaço vivido. Da Geografia da Percepção afastei-me, posteriormente, completamente, por absoluta falta de interlocução com as pessoas que adotaram essa tendência como temática. Por ser, a teoria de campo de Kurt Lewin de caráter estruturalista, ela se adequou, em grande parte, à outra teoria à qual recorri para compreender o espaço urbano de Pirapozinho e Álvares Machado: os dois circuitos da economia urbana que, elaborada por Milton Santos nos anos 1970, havia chegado recentemente ao Brasil, em seu livro “O espaço dividido”, de 1978. Entre essas decisões e a defesa, casei-me com a Carminha, em 4 de fevereiro de 1978. Na véspera, eu desci do ônibus da Andorinha, na estação rodoviária de Presidente Prudente e contei a ela que havia esquecido num táxi, em São Paulo, minha carteira com os três mil cruzeiros que eu havia recebido pela rescisão de meu contrato (equivalentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) enquanto desenhista da UNESP, que serviriam para os primeiros meses seguintes. Era carnaval e o nosso casamento foi uma festa só. Desde a cerimônia na Igreja de Santa Rita de Cássia, em Presidente Prudente, até a festa no Centro do Professorado Paulista. Das palavras do padre, não me lembro nada. O registro de tudo foi feito em câmera super 8... Lembro Lupicínio: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa, quando começa a pensar... À meia noite, nós dois partimos, em um velho ônibus da Andorinha. Em São Paulo, passamos os três dias de lua de mel no Hotel Piratininga, lá perto da Estação Júlio Prestes. Na terça-feira de carnaval fomos buscar a minha carteira na casa do taxista que, felizmente, comunicou-se deixando seu endereço. Estava tudo certinho: documentos e dinheiro. Como agradecimento, demos um terço do dinheiro para o honesto taxista porque sua casa, na Freguesia do Ó, era realmente precária. Alguns dias depois, tomei um ônibus da Real Expresso para Ijuí, para ministrar aulas concentradas para professores leigos, na FIDENE, atualmente UNIJUÍ, que se tornou importante ponto de apoio para nossas excursões geográficas com alunos de graduação, nos anos seguintes. Nessa universidade trabalhei até 1980, indo duas vezes ao ano, nos períodos de férias. Lá também trabalhavam os amigos Dirce Suertegaray, Helena e Jaeme Callai. No dia 20 de julho de 1980, fomos contratados, Carminha e eu, pela UNESP, campus de Presidente Prudente, naquele tempo IPEA – Instituto de Planejamento e Estudos Ambientais. No início do ano, depois de um capítulo conturbado (demissão de Armen Mamigonian, transferência de quatro outros professores para a UNESP de Rio Claro), foram abertas cinco vagas para concurso. Com meu currículo, naquele momento mestrando na USP, consegui a primeira colocação, quando também foi escolhida Alice Asari (que depois se transferiu para a UEL, onde se aposentou) e, em seguida, a Carminha. As outras duas vagas foram preenchidas logo depois. Em 20 de agosto de 1981, nasceu o Caio. Com cara brava. Primogênito. Nasceu por meio de cesariana, por impaciência do pediatra. No berçário, era a alegria dos avós porque foi o primeiro neto do lado dos Beltrão. Caio demorou para falar mas, quando o fez, já articulava bem as frases. Uma característica sua é inesquecível: ele conjugava os verbos como no italiano: eu ‘tavo, eu querio... Quando eu perguntava a ele: “Topas?”, ele respondia: “Topos!” Cabelos loiros, foi chamado por sua primeira professora de “príncipe”. Na França, passou pela escola de estrangeiros, conhecendo jovens de vários países. Aprendeu bem o francês, o que o ajudou no vestibular da UNESP, pois fez Desenho Industrial em Bauru. Voltando um pouco ao tema da pós-graduação, o resgate da história do Oeste Paulista, a aplicação de questionários e a interpretação dos dados à luz das duas teorias adotadas, foram as atividades predominantes na elaboração da minha dissertação de mestrado, defendida na Universidade de São Paulo, em 19 de maio de 1984. A defesa que contou, na banca, com os professores Pasquale Petrone e Marcos Alegre (presidida por meu orientador, Armando Corrêa da Silva), transcorreu tranquilamente, se se considerar o que ocorrera nos seis meses anteriores. Em setembro de 1983, a dissertação estava pronta. Nesse mês, o orientador teve um surto e foi internado em um hospital psiquiátrico, onde permaneceu por aproximadamente três meses. Resolvi não entregar a dissertação à Seção de Pós-graduação da FFLCH/USP. Aguardei novidades. Passou-se o Natal, passou-se o réveillon, nas férias de janeiro a situação permaneceu indecisa. Em fevereiro, entreguei os exemplares. Ele havia saído do hospital e reiniciava suas atividades no Departamento de Geografia. A defesa, como já foi anotado, ocorreria somente em maio. A partir de fevereiro, tudo transcorreu bem. De volta para casa, Armando (a quem presto minha sincera homenagem) me convidou para um café em seu apartamento, onde ele costumava discutir aquilo que eu escrevera, entre 1978 e 1982. Tudo estava destruído (a estante, a TV, a cama, a máquina de escrever...), exceto o piano. Neste momento, imagino estar ouvindo My way, canção de Paul Anka imortalizada por Frank Sinatra, entoada pelos dedos cansados do Armando. Era o seu way of life, era o my way do Armando. A sensação de lembrar desses acontecimentos é estranha e, ao mesmo tempo, agradável. É bom lembrar daquilo que realizamos, daquilo que compartilhamos com as outras pessoas, com suas virtudes e suas limitações. Em nossos encontros de orientação, eu ouvia o Armando falar duas, três horas. Quando ele se cansava, depois de vários cafezinhos, algumas bolachinhas ou mesmo um almoço em algum restaurante da Rua Fradique Coutinho, em São Paulo, ele me ouvia por quinze minutos e aprovava tudo o que eu havia escrito. Às vezes, depois de algumas semanas, chegava uma carta com sugestões de leituras voltadas para a temática da dissertação. Faz bem para a alma a sensação de lembrar que o Ítalo, com seus 4,200 kg, nasceu no dia 29 de outubro de 1984. Gordíssimo. Alegre. Sorriu com poucos dias de vida fora do útero da mãe. Seu avô Ernesto o chamava de “Maguila”. Nas festas, sempre o mais alegre e o mais animado. Sempre próximo à mesa dos doces. Mais tarde, revelou-se bastante curioso: sempre com uma pergunta sobre um ou outro assunto. Lia e lê bastante. Sua vontade era chegar à altura de 1,90m. Na França, depois de três meses de angústia, adaptou-se muito bem, fez vários amigos, jogou no Saint Mandé F.C., como o Caio. Saiu de lá falando francês sem sotaque, para espanto dos próprios franceses. Em 1985 fiz uma pesquisa sobre a localização industrial em Presidente Prudente, como parte do plano trienal, que foi publicada, posteriormente, na Revista de Geografia da UNESP. Foi nesse período que, entusiasmado com as possibilidades de mudanças políticas na política municipal, engajei-me, juntamente com alguns colegas da UNESP (entre eles a Carminha), na investigação direta para a elaboração de políticas de transporte e habitação para a cidade de Presidente Prudente. Como trabalho acadêmico, a experiência foi excelente, mas como resultado prático, de intervenção política, mostrou-se um fiasco pois o poder público local (na figura do prefeito Virgílio Tiezzi) simplesmente “engavetou” todas as propostas (no relatório já estava a proposta de corredor de ônibus, baias para as paradas, linhas e pontos de parada com melhor distribuição etc). Mesmo que a vontade de mostrar as diferentes possibilidades de intervir, politicamente, na solução de certos problemas urbanos, tenha sido grande, a roda viva dos compromissos assumidos pelo então prefeito inviabilizou completamente qualquer tentativa de estabelecer planos para a circulação e, um pouco menos, para a habitação. A frustração foi muito grande! Voltemos à UNESP. Institucionalmente, exige-se, ligado ao plano trienal de atividades, um trabalho de investigação. Escolhi a localização industrial para verificar como se comportavam os padrões clássicos de localização na área urbana da cidade e se havia alguma evidência específica do lugar, no ano que “separou” a defesa do mestrado e a aprovação na seleção do doutorado na USP. Nesse período, como presidente da AGB local, organizei uma atividade que merece ser registrada: um curso de extensão universitária ministrado por Carlos Fantinati, da UNESP de Assis, que articulava a literatura brasileira com a descrição das paisagens: Guimarães Rosa, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Mário Palmério, entre outros, tiveram seus escritos “dissecados” para que neles os participantes pudessem ler as paisagens de diferentes áreas do Brasil. Em 1986, iniciei as disciplinas do doutorado. A orientação, desta vez, cabia ao Ariovaldo Umbelino de Oliveira (que, diga-se de passagem, orientou várias pessoas de Presidente Prudente). Para acompanhar as disciplinas, foi preciso viajar, semanalmente, durante o período letivo, de Presidente Prudente a São Paulo. A cada dia que passava, parecia que os 560 km iam se tornando mais longos. Os nomes das rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco já causavam arrepio nos últimos meses, porque o cansaço, durante um ou dois dias, na USP, dificultava um pouco o acompanhamento das aulas. Depois do lanche no restaurante do português, só sobrava o gramado da FFLCH para repousar. Eis aí um mérito dos estudantes que migravam, diária ou temporariamente, para a USP para realizar o mestrado ou o doutorado: era preciso resistir cada um à sua maneira... a cada um as distâncias de suas cidades, de cada um a resistência possível. Depois de dois anos de indecisão sobre qual tema estudar no doutorado, optei, depois de algumas conversas com o Ariovaldo, por estudar como se produz e como e quem se apropria da renda fundiária urbana em Presidente Prudente. Nesse momento, não havia nenhuma angústia teórica. Eram os autores marxistas, que já falavam da renda fundiária urbana, alguns estrangeiros como Christian Topalov, Alain Lipietz e Samuel Jaramillo, outros brasileiros, como Ignácio Rangel, Cláudio Egler, João Sayad e o próprio orientador. Lá atrás, na base de todos eles, o velho e eterno Karl Marx. Tive acesso ao cadastro urbano da Prefeitura Municipal. Essa fonte de dados foi fundamental para a organização e o mapeamento dos proprietários urbanos. Com isso, pude detectar quem eram os grandes especuladores e quais eram as principais áreas de especulação real ou futura. Como a referência era, fundamentalmente, os terrenos vazios, o seu mapeamento, em cor amarela (no cartograma que reside na cópia que tenho da tese), deu um tom melancólico ao cartograma, quebrado apenas com as cores azul, referente aos domicílios realmente ocupados e vermelha, que se referia a comércio e serviços. Como as áreas verdes na cidade se restringem ao Parque do Povo, uma faixa no sentido NW-SE quebrava a monotonia da figura. Uma das conclusões que mais me agradam, após ter exposto como, quando e por quem é apropriada a renda fundiária urbana, foi a constatação da existência de uma espécie de “muralha” não construída ao redor da cidade, constituída pelas glebas loteáveis que estava à espera do momento para realizar a renda e passá-la ao seu proprietário. Essa “muralha” lembra o caráter “quase medieval” que aparentava a propriedade fundiária em Presidente Prudente, cercando a cidade e definindo seus momentos de expansão horizontal. Os colóquios com o Ariovaldo corriam diferentemente daqueles que fiz com o Armando. Eram, agora, realizados na USP, em sua sala da FFLCH. A discussão passava, inicialmente, pelo texto da tese para, depois, os assuntos do cotidiano universitário merecerem alguma atenção. Algumas vezes, depois de passar a noite inteira no ônibus, indo de Presidente Prudente para São Paulo, aguardar das nove da manhã até às quatro da tarde para ser atendido, sentado no corredor, tomando cafezinho, lendo alguma coisa, encontrando um ou outro colega pós-graduando... Esse era o ritmo da USP, mas quando a reunião começava, as conversas eram longas e agradáveis, falando-se dos escritos da tese, de leituras por fazer ou da vida universitária. Na minha defesa, estiveram presentes Jayro Gonçalves Melo, que focalizou o papel do poder público; Roberto Lobato Corrêa, cuja importância na Geografia brasileira dispensou seu inexistente título de doutor, analisou o espaço urbano; Manuel Gonçalves Seabra, que deu uma aula sobre O Capital e alguns desdobramentos da análise marxista da cidade e Armando Corrêa da Silva, que chegou atrasado e não havia lido a tese mas que, no final, informou que faria 27 perguntas, fez 13, das quais eu respondi apenas quatro, que na realidade eram aquelas mais diretamente envolvidas com o tema da tese. Ao encerrar a sessão, Ariovaldo, o orientador, afirmou que estava começando a se desligar das orientações em Geografia Urbana porque iria voltar-se, doravante, a se preocupar mais com as questões agrárias. Desde as disciplinas do doutorado tenho procurado me pautar, ao realizar investigações empíricas ou discussões teóricas, na dialética como método e no materialismo histórico como doutrina. Entre o mestrado e o doutorado, mais precisamente em 1986, fiz concurso para professor assistente na FCT/UNESP. Fizeram parte da banca os já citados, neste texto, Pasquale Petrone e Marcos Alegre, aos quais somou-se Olímpio Beleza Martins. A prova didática teve como ponto sorteado a mobilidade da população brasileira que eu enfoquei, historicamente, como continente de força de trabalho, a exemplo do que, muito mais tarde, fui conhecer na obra de Gaudemar, publicada, na França, em 1977. Durante a aula, desenhei na lousa, com giz de diferentes cores, o mapa do Brasil com setas, circunferências e ângulos, para mostrar os fluxos de população em diferentes épocas. No dia seguinte, um apagador eliminou aquele desenho tão bem feito. Os momentos de maior euforia pelas defesas e concurso foram, para mim, também momentos de grande tristeza. É impressionante o que a reação das pessoas pode provocar na gente. Após cada um desses acontecimentos, eu passava pelos corredores da faculdade e me sentia muito só. Não havia qualquer reconhecimento ou mesmo contentamento, mesmo que forçado, por parte da maioria dos colegas de departamento. A vontade de ir embora, de fazer concurso em outra faculdade, enfim, de buscar algo novo era recorrente, após cada um dos concursos. Ao lembrar dessas frustrações, vêm à mente as figuras de Armen Mamigonian e de Dióres Santos Abreu, aqueles que realmente incentivaram e sempre cobraram a continuidade da carreira acadêmica. Os outros, alguns mais, outros menos, no cafezinho, no futebol, nas happy hours na padaria do Gilberto, que sempre achava uma maneira de aumentar o número de cervejas consumidas, demonstravam uma ponta de crítica que denotava, inconscientemente, uma forma de arrefecer os ânimos para a pesquisa, para a carreira. Nunca as opiniões eram claramente explicadas; ficava apenas um ar de reprovação pelo “pouco tempo” para fazer a carreira (veja lá, foram seis anos para mestrado e seis anos para doutorado), em bloquear a possibilidade de continuar estudando, com insinuações de a gente sempre querer fazer a “tese do século”. Lembro-me que nesse momento eu soube, em um dia qualquer que já se perdeu na memória que, numa comparação entre a vida acadêmica no Brasil e nos Estados Unidos, chegou-se à seguinte conclusão: lá, a maior causa do stress é a necessidade de se produzir, incansavelmente, artigos para se publicar; no Brasil, a maior causa é aquilo que se diz e o que não se diz nos corredores da academia. Eu senti isso na pele, no coração, na cabeça, nos olhos... Fazendo este texto, veio-me mais uma reflexão. O que é a autocensura? Ao fazer este depoimento, será que estou sendo severo com os colegas? Será que tudo não passa de fruto de minha imaginação? Ou será que, inconscientemente, estou minimizando os conflitos psicológicos que ocorrem diariamente nas relações profissionais? Espero estar me distanciando um pouco do autoengano pois procuro, sim, minimizar o que as pessoas fazem, quando o sentido visto em suas ações é negativo. No entanto, não posso esquecer e simplesmente ignorar o que ocorre ou ocorreu. Apenas posso dizer, com tranquilidade que, se a realidade é mais rica que a imaginação, às vezes a imaginação é mais sensível e mais afiada que a faca do churrasco de alguns fins de semana... Podemos perdoar, mas não precisamos esquecer. Não estou fazendo um texto que retrate minha vida como geógrafo? Pois é, vamos, então, avivar, pouco a pouco, a memória. E ela tem que contar, necessariamente, com as lembranças que permaneceram. Outra reflexão: na medida em que vamos chegando mais próximos do presente, os detalhes das lembranças se ampliam, mas ao mesmo tempo, a preocupação com a sua interpretação também se torna maior. Os acontecimentos ainda estão “quentes” na memória e poderão ter outros desdobramentos, além daqueles que podemos ver com clareza no momento da narrativa. Uma boa batalha que enfrentei foi quando me tornei diretor da Revista de Geografia da UNESP. Defendi a proposta de tornar a revista mais conhecida, com lay out da capa mais agradável à vista... Aí a reação do Odeibler foi rápida. Procurou me desautorizar na fase de impressão do número dez da revista! Em uma reunião no prédio da Avenida Rio Branco, em São Paulo, onde então funcionava a Editora da UNESP, tive que expor, veementemente, todo o seu autoritarismo para todos os membros da Comissão Editorial, “lavando a alma”. Conclusão: algumas pessoas conseguem, a vida inteira, complicar e atrapalhar o decorrer dos fatos. Outra experiência interessante foi ser presidente da ADUNESP (Associação dos Docentes da UNESP), seção de Presidente Prudente. O ano de 1988 foi marcado por intensa movimentação sindical por aumento de salário. Acredito que, sempre que reivindico algum cargo (sem qualquer paranoia), surge, do outro lado, uma oposição que persiste em fazer algum teste. Quando me candidatei à presidência da ADUNESP, isso ocorreu, como ocorreria, posteriormente, quando da candidatura à coordenação do Curso de Geografia ou da Pós-graduação. No Anfiteatro I da Faculdade de Ciências e Tecnologia, em maio de 1988, fui sabatinado, juntamente com outros membros da diretoria, dos quais estava, ao meu lado, na mesa, a Luiza Helena Christov. Qual era o nosso compromisso sindical, qual nossa visão de universidade, qual era não sei mais o quê... Nunca mais, pelo que me lembro, qualquer outro candidato foi sabatinado publicamente. O mandato de nosso grupo foi bastante movimentado. Uma greve de 75 dias marcou o final do ano de 1988. Eu ficava mais dentro do ônibus, indo e voltando de São Paulo, do que em minha própria casa. As intermináveis reuniões, as “questões de ordem”, a falta de objetividade dos companheiros, eram regadas a café e água. Quantas vezes passamos o dia com apenas um sanduíche! Só no final do dia, lá pelas sete ou oito horas da noite, quando o primeiro “caía”, é que os outros se davam conta de que a resistência física tem limites. Aí, novamente o ônibus de volta para, no dia seguinte, expor, em assembleia, tudo o que havia sido discutido em São Paulo. A democracia é complexa. Ouvir “as bases” é necessário para dar respaldo às tomadas de decisões nos fóruns das entidades. Por outro lado, ficar ouvindo as bases coloca os representantes da entidade num círculo vicioso que limita qualquer margem de pronunciamento ou negociação. Os limites, muitas vezes, emperravam as discussões por uma, duas semanas. Mas era preciso exercitar, ouvir, ser cobrado pelos colegas, tentar alguma saída. As universidades públicas ainda não tinham sua cota fixa do ICMS (hoje as universidades paulistas têm sua autonomia financeira: sua receita é igual a 9,57% da arrecadação do estado – vitória homologada em janeiro de 1989). Assim, o grande inimigo era o governador do estado. Uma vez, numa manifestação próxima ao Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, quando o governador era Orestes Quércia, enfrentamos, silenciosamente, a tropa de choque. À direita e à esquerda, os muros; sob os meus pés, o asfalto quente; em frente, o olhar arregalado dos soldados (que eram obrigados a ouvir o grito de guerra “você aí do lado, também é explorado”) com seus cassetetes e escudos, mirando aqueles “vermelhos” que queriam melhores salários. Nesse ir e vir – ora avança a tropa, ora avançam os manifestantes – aparecem os deputados que fazem as negociações (o senador Eduardo Suplicy devia estar por lá, nesse dia...), estabelecem uma pauta para uma próxima reunião com o governador, o pessoal sai aliviado. Os manifestantes que foram de Presidente Prudente entram numa Kombi que eu dirijo, já noite, pela Rodovia Castelo Branco lembrando, aliviado, que a esperança ainda existe, que da próxima vez o governador vai mudar, vai ouvir o sindicato etc. Uma prática que tivemos, em nosso mandato, que atualmente quase não se vê mais na minha unidade, é a prestação pública das contas da associação, em tabelas que eram fixadas nos murais existentes. São os anos noventa que agora entram em pauta. Eu já tinha o título de doutor. Candidatei-me para ser coordenador do Curso de Geografia e vi, mais uma vez na minha frente, a oposição cuja base ideológica era mais obstaculizar as propostas de avaliação, de mudanças curriculares, de reorganização dos trabalhos de campo e de cumprimento de horários docentes. Perder faz parte da vida, mas perder para uma chapa que tinha, como cabo eleitoral, alguém chamado Miguel Gomes Vieira, o energúmeno que já trabalhou (será que trabalhou?) no meu departamento, foi realmente frustrante. Esse acontecimento serviu para acirrar alguns ânimos e criar uma dicotomia do departamento que teve muitas consequências por um bom tempo. Estou lembrando essa situação porque ela foi fundamental para os problemas que tivemos (agora, no plural, porque envolve toda a família) para obter o afastamento para realizar o nosso pós-doutorado na Universidade de Paris I, a Sorbonne-Panthéon, mais precisamente no Institut de Géographie, na Rue Saint-Jacques. Uma dificuldade foi ver quem assumiria as aulas, dentro da perspectiva da divisão mais adequada no departamento, fazendo com que aqueles que, durante anos, se esquivavam das salas de aula, tivessem a hombridade de substituir dois colegas (eu e Carminha) que iriam realizar o terceiro pós-doutorado do departamento. A outra dificuldade foi a prepotência do professor Antonio Christofoletti que, não tendo mais como atrapalhar meu afastamento, pediu-me, por telefone, para citar as bibliotecas e livrarias que eu poderia visitar na França, como estava declinado em meu projeto entregue ao departamento e enviado ao CNPq que já havia, por sua vez, aprovado minha bolsa. Quando eu lhe pedi para registrar por escrito, em seu parecer, essa absurda exigência, ele simplesmente se calou e, alguns dias mais tarde, meu afastamento foi aprovado pela CPRT (Comissão Permanente de Regime de Trabalho). A vida tem, por causa das inconsistências das pessoas, suas contradições burocráticas. Nós já tínhamos (Carminha e eu) sido premiado com bolsa do CNPq, já estava com passagem marcada para Paris, mas ainda não tinha a aprovação de meu departamento. Somente quando, espontaneamente e sem nenhuma obrigação, os colegas Bernardo Mançano Fernandes, Sérgio Braz Magaldi e Raul Borges Guimarães comprometeram-se a assumir nosas aulas, o afastamento foi aprovado. Dois minutos depois! Mas as coisas boas também acontecem. Depois de realizar curso de francês por dois anos com a professora Lilian Coimbra, passamos nos exames da Aliança Francesa, em São Paulo, e fomos contemplados com bolsa da CAPES. Como havíamos, também, solicitado bolsa para a FAPESP, recebemos a sua aprovação. Aí, o dilema era dos melhores: por qual bolsa optar? Somadas e subtraídas todas as vantagens e desvantagens, optamos pela bolsa do CNPq, órgão ao qual eu já estava vinculado, desde 1993, como pesquisador (atualmente 1B). No dia 18 de outubro de 1994 cheguei em Paris. Carminha, Caio e Ítalo chegaram quinze dias depois, já com apartamento alugado na Rue Jeanne d’Arc, em Saint Mandé, a cem metros do Bois de Vincennes. Depois de passar uma semana na Maison du Brésil, na Cidade Universitária, acertamos o aluguel com Monsieur Schoenfeld, gastando por volta de R$ 1.500 mensais (naquele ano, por causa do Plano Real, 1 real equivalia a 1 dólar!). A vida é cara em Paris. Se optasse por pagar menos, teria que morar mais distante ou em piores condições. Como não há opção sem perda, preferimos pagar mais para ficar mais perto de Paris e das futuras escolas das crianças do que ficar mais longe, com aluguel mais barato mas com maiores gastos em transportes e perdendo mais tempo para deslocamentos. A convivência com Jacques Malezieux e André Fischer foi excelente. Embora não tivesse obrigação, acompanhei suas disciplinas no Institut de Géographie durante o semestre letivo de dezembro de 1994 a maio de 1995, participei de aulas de campo pelas áreas de industrialização fordista no norte de Paris e pela Normandia, principalmente Rouen. Pude ajudar alguns alunos franceses em preparar seminários sobre o Nordeste brasileiro, pude falar um pouco sobre o Brasil e suas contradições em uma aula para estudantes de segundo ano de Geografia. Publiquei, na revista do CRIA (Centre de Recherches sur l’Industrie et l’Aménagement), Notes de Recherches, as principais conclusões de minha tese, defendida em 1990, e algumas ideias sobre a industrialização de São Paulo. Esse tema eu expus numa das reuniões do CRIA, quando estiveram presentes alguns amigos que ficaram na França: Thierry Rebour e Jean-Paul Hubert, entre outros. Também aí estava, nesse dia, Georges Benko. Na École de Hautes Études en Sociologie, cuja biblioteca foi, por mim, “varrida” de ponta a ponta na busca de textos que ajudassem meu projeto de pesquisa intitulado “Fluxos e localização industrial”, acompanhei o curso de Cornelius Castoriadis (que vinha sempre com seu boné marrom, de pele de castor, e seu casaco encardido pelo tempo), que falava durante exatos 110 minutos ao lado de um gravador, e deixava os últimos dez minutos para os debates. Quando completava duas horas de aula, despedia-se, levantava-se e desaparecia pela porta lateral. Como havíamos vendido nosso velho Del Rey 84 no Brasil, com o dinheiro compramos, na França, um Citroën 85, mais barato. Com esse carro pudemos fazer inúmeras e ótimas viagens pela França, pela Espanha, por Portugal, pela Itália... segundo as contas dos filhos, visitamos, no total, quatorze países. Algumas viagens tiveram, inclusive, objetivos especiais. Fomos visitar a cidade dos ancestrais Parra e Vasquez, da Carminha, o pequeno vilarejo de Rubite, na Andaluzia, com 500 habitantes, onde não chovia havia vinte anos. Fomos visitar, no sul da Itália, mais precisamente na Calábria, a vila de onde veio meu avô Vicenzo Sposito, Cropalati. Na primeira cidadezinha, fomos muito bem recebidos, com alegria, almoço em família, muita conversa. Na segunda, apenas uma senhora, que não era Sposito mas era mulher de um deles, com sua netinha, ofereceu-nos um cafezinho e disse se lembrar, vagamente, que sua mãe falava que alguns parentes tinham ido fare l’América, há mais de quarenta anos. Durante o período de estágio, participei de vários eventos científicos. Na França, marcou bastante o Festival de Geografia de Saint-Dié-des-Vosges, na Lorena. Nesse festival que, apesar do nome, é um evento científico, premia-se anualmente um geógrafo eminente com o prêmio Vautrin Lud. Se em 1994 havia sido laureado Milton Santos, em 1995 testemunhamos a premiação de David Harvey, cuja palestra, na última noite do evento, num auditório no alto de uma torre de estilo futurista, assistimos. Meninos, eu vi! Por causa desse evento recebi, por vários anos, correspondência da Mairie da cidade dando notícias do festival. Por isso, fiquei sabendo que o geógrafo premiado, em outubro de 2000, foi Yves Lacoste. O TRABALHO NA GRADUAÇÃO Ministrar aulas na graduação foi consequência direta de meu contrato com a UNESP, campus de Presidente Prudente, assinado em 20 de julho de 1980 (onde permaneci até 2 de abril de 2019, quando me aposentei, depois de 50 anos de trabalho). A atribuição de disciplinas, no Departamento de Geografia, seguiu critérios diferentes ao longo do tempo. Entre 1980 e 1987 (período aproximado), ela era definida pelos “mais antigos” e comunicada aos “mais novos”. Em outras palavras, o tempo era referência hierárquica entre os professores do departamento, critério definido pelos “mais antigos” que se davam o direito de tomar as decisões que orientavam as atividades letivas de todos. Pode se dizer, ironicamente, que “o tempo definia a posição”. Posteriormente (e resultado de uma proposta que fiz aos colegas do departamento e que foi aperfeiçoada em pouco tempo), foi elaborado um ranking para a atribuição de aulas, privilegiando, por ordem, o trabalho de docência na graduação, as publicações e as atividades de extensão e administração (três últimos anos). As aulas no nível de pós-graduação não contavam porque houve reação de vários colegas que não estavam, ainda, credenciados no Programa de Pós-Graduação em Geografia. O ranking vigeu até meados da década de 2010 quando (na minha avaliação), por força daqueles que não tinham participação na pós-graduação (mais uma vez), ele foi abolido e as aulas passaram a ser atribuídas em reunião departamental (em formato de plenária). Isso gerou algumas distorções, como a sobrecarga de alguns e a quantidade menor de trabalho de outros, voltando ao que citei anteriormente, na década de 1980: uma hierarquização pela titulação e pelo tempo de serviço. Ter critérios claros e baseados na dedicação de cada um, portanto, deixou de ser referência acadêmica. As disciplinas que ficaram sob minha responsabilidade foram, por ordem de vezes que ministrei, Metodologia Científica em Geografia, Geografia Econômica, Evolução do pensamento geográfico, Geografia Regional do Brasil, Trabalho de campo, Geografia Urbana, Pesquisa em Geografia Humana, Espaço e indústria, e Geografia Social e Política. As disciplinas obrigatórias eram oferecidas em dois períodos (diurno e noturno) e as facultativas eram oferecidas em apenas um período, geralmente o noturno. A interação com os alunos merece uma rápida avaliação. Quando fui contratado, tinha idade e linguagem próxima dos alunos porque trabalhava do alto de meus trinta e poucos anos. Com o tempo, o distanciamento entre mim e os alunos foi se tornando, aos poucos, maior. Se antes eu estava próximo a eles nas aulas, nos trabalhos de campo, nos churrascos e em algumas reuniões festivas, a partir do início do século XX eu não era mais próximo a eles, mas passei a ser homenageado em Semanas de Geografia. Esse distanciamento foi fator decisivo para minha aposentadoria. Não ministro mais aulas no nível da graduação, apenas da pós-graduação. O TRABALHO NA PÓS-GRADUAÇÃO Em 1992, credenciei-me para ministrar disciplina e orientar, no Curso de Pós-graduação em Geografia da FCT/UNESP. A disciplina, Metodologia Científica em Geografia, que ainda hoje assino (estamos em 2020), foi básica, ao longo desses últimos oito anos, para as principais ideias contidas no ensaio que apresentei ao concurso de Livre Docência e que se tornou, em 2004, o livro publicado pela Editora da UNESP, Geografia e Filosofia, meu livro mais consultado entre os que publiquei. Os primeiros orientandos, bastante polêmicos, como José Gilberto de Souza, hoje na UNESP de Rio Claro e já livre-docente, e Adilson Rodrigues Camacho, na UNIP, em São Paulo, juntamente com o William Rosa Alves (orientando da Carminha), que foi professor na UFMG, formavam um grupo heterogêneo em busca de algum norte (ou sul) para suas dissertações. As suas dúvidas eram, mutatis mutandis, as mesmas que eu tivera quando iniciei o mestrado na USP. Entre 1992 e 1994 exerci a função de coordenador do Curso de Pós-graduação. Por força da função, participei da CCPG (Comissão Central de Pós-Praduação), que se reunia mensalmente no prédio da UNESP, na Praça da Sé, em São Paulo. Foi uma experiência muito gratificante porque o pró-reitor de então, Antonio Manuel dos Santos Silva, dera um caráter de reflexão à sua equipe, privilegiando mais as ideias que os papéis. Depois da volta da França, algumas dissertações foram duramente forjadas mas, outras, voltaram a dar a sensação de se ajudar um mestrando a fazer uma leitura científica da realidade. Assim, o estudo do mapa, com forte dosagem piagetiana, da Ângela Katuta, as belas descobertas feitas pela Ana Dundes em sua análise do discurso desenvolvimentista e da industrialização de Presidente Prudente, ou a análise do papel da indústria de cimento no desenvolvimento regional de Mato Grosso do Sul da Márcia Ajala de Almeida, foram excelentes dissertações. Os orientandos do doutorado também já me deram bastante satisfação, mesmo antes das suas defesas. O trabalho com maquetes, de Mafalda Francischett, buscando uma metodologia para o ensino da Cartografia, contribui para os cursos de graduação. A análise histórica da colonização em Silveira Martins, realizada por Marcos Saquet, que realizou estágio-sanduíche na Itália, mostra a desterritorialização dos italianos de Trento e sua reterritorialização no Rio Grande do Sul. Em 2000, João Márcio Palheta da Silva, que estudou as relações de poder e a gestão do território em Carajás, passou a ser meu orientando. A lista de orientados está detalhada no meu CV Lattes, acessível a todos na página do CNPq. Mesmo assim, posso agrupar as orientações por temas e por décadas. Na primeira década do século XX, a cidade foi estudada em diferentes recortes. No nível de mestrado, pelo recorte das cidades pequenas, o estudo de Paulo Fernando Jurado da Silva sobre a região de P. Prudente foi base para um livro que escrevemos juntos. O trabalho informal, com Marcelino Andrade Gonçalves; a migração de brasileiros para o Japão, com Denise C. Bomtempo; o ensino de Geografia, com Carolina Busch Pereira e Juliano Ricciardi Floriano Silva; a logística e os transportes, com Roberto França da Silva Junior; o pensamento geográfico, com Flaviana G. Nunes, Túlio Barbosa e Jônatas Cândido; eixos de desenvolvimento, com Cássio A. de Oliveira e Adilson A. Bordo, foram temas abordados. Mas o tema mais estudado foi a indústria, principalmente relacionada com as cidades médias; aí tive os alunos Eliane Carvalho dos Santos (estudo sobre Catanduva), Elaine C. Cícero (calçados em Birigui), Alex Marithetti (polos tecnológicos), Ítalo F. Ribeiro (Vale do Paraíba), Renan E. Borges (Uberlândia), Agda M. da Silva (tecnologia e indústria), Leandro Bruno Santos (multilatinas), Maria Terezinha S. Gomes (cidades médias e indústria), foram alguns destaques. No nível de doutorado houve, também, uma lista grande de temas que podem ser agrupados assim: na Geografia Econômica, de maneira geral, Cláudia Montessoro (trabalho informal em Anápolis), Sandra L. Videira (rede bancária), Ana C. Dundes (região de P. Prudente), Paulo F. Jurado da Silva (tecnologia). Na Geografia Urbana, José M. de Queiroz Neto (Altamira e a usina Belo Monte), Estevan Bartoli (Parintins); na Geografia da População, orientei Lirian Melchior (migração dekassegui), Adriano A. de Sousa (território e mobilidade social) e Xisto Serafim de Souza Jr. (cidade e movimentos sociais), Oscar Benítez González (Puebla, México), Yolima Devia Acosta (Villavicencio, Colômbia). Na Geografia Política, Dayana Marques (eixos de integração na América do Sul). Mas os dois temas mais estudados foram o pensamento geográfico, com Fabrício Bauab (conceito de natureza), Antonio E. Garcia Sobreira e José Vandério Cirqueira (ambos estudando a geografia libertária), Antonio H. Bernardes (tecnologia), José M. Chilaúle Langa (geografia em Moçambique) e Guilherme dos S. Claudino (o pensamento geográfico brasileiro) e, com igual densidade, a indústria: Denise Bomtempo (indústria em Marília), Edilson A. Pereira Júnior (indústria no Ceará), Leandro Bruno Santos (multilatinas), Elaine C. dos Santos (produção flexível no Brasil). Apesar de ter orientado teses e dissertações em várias temáticas geográficas, foi a indústria e o pensamento geográfico que as orientações foram mais numerosas. Além disso, houve, também, a supervisão de vários pós-doutorados: reestruturação urbana e indústria em São Paulo (Luciano A. Furini e Clerisnaldo R. Carvalho), conceito de território (Lucas L. Fuini), cidades médias e consumo (Cleverson A. Reolon, Wagner B. Batella e Lina P. Giraldo Lozano), pensamento geográfico sobre a cidade (Rosana Salvi) e fragmentação socioespacial (Késia Anastácio Silva e Vanessa Lacerda Teixeira). Os temas de meus orientados de mestrado e doutorado foram, também, aqueles que pautaram os estudos de iniciação científica, que chegaram ao total de 72 alunos. O papel de orientador tem suas características específicas. Orientar é, juntamente com o mestrando ou doutorando, fazer uma leitura de um recorte da realidade com olhos e bases diferentes. A linguagem, se é fundamental para a comunicação entre as pessoas e é a mediação mais importante do ser humano com o mundo, contém problemas em suas decodificações. Um texto, ao ser lido por diferentes pessoas, transmitirá diferentes mensagens, mesmo que a intenção do autor tenha sido apenas aquela de expor suas ideias da maneira mais clara possível. No confronto entre interpretações, faz-se o debate. Fazendo-se o debate, surgem as ideias que vão permeando aquilo que chamamos de trabalho científico. Outro aspecto importante do papel do orientador são suas relações diretas com o orientando. Não é preciso se envolver com as particularidades da vida de cada um, mas é preciso fazer, também, a leitura do cotidiano do orientando para que seus problemas e euforias não interfiram na produção intelectual. Além de orientar e de ministrar disciplinas, o trabalho na pós-graduação também solicita criatividade. Sempre olhando para a frente, em 1998, juntamente com Messias Modesto dos Passos (que adora a poeira vermelha das estradas), reunimos um grupo de 14 alunos para um trabalho de campo (pioneiro) na Europa. Depois de seis sessões de aulas teóricas, cujo tema era o título da disciplina (Globalização e seus impactos: regionalização ou (des)regionalização? que hoje vejo como inadequado para os objetivos pretendidos), partimos para o velho continente, separadamente. Eu permaneci, entre 22 de abril e 12 de maio, como professor visitante da Universidade de Salamanca. Os demais participantes desse trabalho de campo foram diretamente para Coimbra, iniciando por aí as aulas. Durante minha estada em Salamanca, quando fiquei alojado no Palácio Fonseca, um edifício de estilo medieval que abriga visitantes da universidade, ministrei aulas para a graduação, uma palestra na Universidade de Valladolid e realizei alguns percursos pelo “casco histórico” da cidade e por áreas da província de Castela e Leão. O contato com os professores Valentin Cabero Diéguez, José Luís Sánchez Hernández e José Luís Alonso propiciou discutir o que é desenvolvimento regional, eixos de desenvolvimento e o papel político do intelectual. As coisas foram se adensando quando os outros participantes da expedição chegaram a Salamanca, de trem, na madrugada do dia nove de maio. Alugamos um ônibus e fomos até Peña de Francia e La Alberca, ao sul de Salamanca e, partindo para a França, passamos pelos vestígios das minas de ouro romanas, pela área dos maragatos, pela cidade de León e percorremos, a pé, vinte quilômetros pelo desfiladeiro de Picos de Europa, nas Astúrias. Aí a companhia de Miguel Luengo Ugidos, com sua pressa geomorfológica, foi importante para a explicação dessa cadeia montanhosa com rochas do cambriano e do terciário. Na França, onde eu e Messias dirigimos duas vans Renault durante dezessete dias, estivemos em Bordeaux, onde nos recebeu Pierre Laborde, que mostrou as características do aménagement do território na Aquitânia, pelas mudanças no espaço urbano, pela industrialização e pelo turismo na duna du Pilat. Em seguida, estivemos na Bretanha onde, recebidos por Robert Bariou (da Universidade de Rennes) e Françoise Le Henaff, pudemos verificar como se gere a água nas áreas pantanosas da região e a importância do sal de Guérande. A viagem terminou em Paris, entre primeiro e sete de junho, com a ajuda de André Fischer e Jacques Malezieux, que mostraram os espaços fordistas da periferia norte e as transformações urbanas decorrentes da construção do Estádio de França (onde a nossa seleção canarinha amarelou, na decisão final, com a França, na Copa de 1998), a ville nouvelle de Cergy-Pontoise e os espaços pós-modernos do bairro La Défense. Rever Paris (ou rêver Paris?) foi, no mínimo, agradável. Andar pelas ruas, fugir correndo da sua persistente chuva, ver o céu nublado, ver a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, utilizar o metrô, revisitar Saint Mandé, o Bosque de Vincennes, o Jardim de Luxemburgo, o silencioso Instituto de Geografia, os restaurantes italianos e chineses do Quartier Latin, a livraria da PUF, foi, mais que reconhecimento de lugares conhecidos, motivos para matar a saudade de três anos que transcorreram entre voltar ao Brasil depois do pós-doutorado e esse momento. A teimosia continua. Em 1999, motivados por outra disciplina (Dinâmica econômica e novas territorialidades), depois de algumas sessões teóricas, eu e Carminha organizamos uma viagem pela Argentina e pelo Chile. Como ela não pôde ir incorporaram-se, ao grupo de 16 mestrandos e doutorandos, Dióres Santos Abreu e Arthur Magon Whitacker. Partimos de Presidente Prudente no dia 6 de setembro em um ônibus-leito da Viação Garcia, às sete horas da manhã. Em Buenos Aires fomos recebidos por Horácio Bozzano. Um percurso de quatrocentos quilômetros, em um dia, pela Grande Buenos Aires, mostrou as características e a complexidade do espaço urbano daquela metrópole. A etapa seguinte foi percorrer mil quilômetros, numa planura pampeana sem igual, entre Buenos Aires e Mendoza. Recebidos por duas geógrafas da Universidade de Cuyo, percorremos um território semiárido e, por isso mesmo, testemunha de uma beleza áspera e empoeirada. Daí, para Santiago, foi atravessar os Andes. Depois de passar pelos trâmites burocráticos de fronteiras, fomos surpreendidos por uma nevasca e ficamos presos, durante vinte horas, dentro do edifício da alfândega chilena, no Paso de los Libertadores, a 3.900 metros de altitude, numa temperatura de 15 graus negativos. Se foi preocupante, a “aventura”, ao mesmo tempo, foi inusitada e ficou gravada na memória não a ferro e fogo, mas a neve e frio. A descida pelos Caracoles foi inolvidable. As aulas de campo em Santiago, na descida para tocar as águas do Pacífico, a vista de Valparaíso e as imagens de Viña del Mar foram o ponto de chegada no oeste do cone sul. Durante os quatro dias em Santiago, Oscar Sobarzo (atualmente professor na Universidade Federal de Sergipe) foi incansável em nos acompanhar nas aulas, durante o dia, e nos jantares, durante a noite. Sem ele, a viagem não seria, seguramente, tão organizada como foi. Nesse trabalho de campo conhecemos dois amigos que, ainda hoje, participam da ReCiMe (Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias), da qual participo desde sua fundação, em 2006: Federico Arenas Vásquez e Cristian Enriques. Tive a oportunidade de passar, três vezes, dois meses fora do Brasil, todas as três vezes com a Carminha, que também foi estudar e trabalhar: em Paris (em 2009) para um tempo de estudos junto à Universidade de Paris – Dauphine, em parceria com Christian Azaïs; em Coimbra (2012), em parceria com Rui Jacinto, dividindo uma casa na Vila Verde (a 20 km de Coimbra), com João Lima Sant’Anna Neto e Eda Góes; e em Lleida, na Universitat de Lleida, na Catalunha, em parceria com Carmen Bellet. Essas atividades me possibilitaram a finalização do livro sobre as cidades pequenas, que dividi com meu ex-orientando Paulo Fernando Jurado da Silva, e obter dados para pesquisa comparativa entre Lleida e Presidente Prudente que resultou em trabalho sobre o comércio e consumo nessas cidades, escrito a seis mãos, com Carmen Bellet e Maria Encarnação Sposito, que foi apresentado no evento City, urbain retail and consumption, realizado em Nápoles, em 2013. Em algumas ocasiões de minha vida profissional pude proferir palestras e participar de atividades que considero importantes, como a abordagem da industrialização em São Paulo na Universidade de Turim, recebido por Giuseppe Dematteis e Claude Raffestin (Territorio, urbanizzazione, industrializzazione. Ricerche brasiliane e italiane a confronto.Dinamica economica dello Stato di San Paolo. Assi di sviluppo e città intermedie, 2006); a exposição da política sobre a avaliação do livro didático no Brasil para geógrafos da Universidade de Jongköping, na Suécia (Social representations and the transformations of knowledge.The evaluation of the didactic books in the Brazilian Fundamental School, 2007); um debate sobre o método científico na Universidade de Puebla, quando fui recebido por meu ex-orientado de doutorado Oscar Gabriel Giménez Benítez (2009); uma fala sobre o método científico na Universidade de La Habana, a convite de Eduardo San Marful (2011); a exposição da carreira de Milton Santos, na Universidade de Avignon, onde a equipe de Presidente Prudente foi recebida por Loïc Grasland (2010); debates em Coimbra como parte do GEOIDE - Geografia, Investigação e Desenvolvimento, grupo constituído por pesquisadores da Universidade de Coimbra e na UNESP (Estado de São Paulo: eixos de desenvolvimento, reestruturação das cidades e localização industrial, 2012); a parceria com Diana Lan, da Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, no projeto Reestructuración productiva e indústria, 2014); a apresentação dos resultados do projeto temático Lógicas econômicas e práticas espaciais contemporâneas, com a Carminha, na City University of New York, como parte da FAPESP Week (Social inequalities in middle cities: segregation, self-segregation and sociospacial fragmentation, 2018); a participação no 3rd Brazil-Japan Seminar on Cultural Environments Lifetime of urban, regional and natural systems, quando apresentei o trabalho Ther urban system, centralities and the use of urban space in middle cities in Brazil (2018), entre outras. Para registrar, até novembro de 2020, participei de 267 eventos científicos, ora como espectador, ora como convidado (em mesa redonda ou proferindo palestra), ora apresentando trabalhos. Minhas atividades de orientação sempre foram verticalizadas pois tive orientandos da graduação, nos níveis de iniciação científica e aperfeiçoamento, no mestrado e no doutorado, seja strictu ou lato sensu. A quantificação dessas atividades dá uma noção do que tenho feito ao longo dos vinte anos na universidade. No nível de graduação, orientei 26 trabalhos de conclusão de curso, 72 em iniciação científica, nove em aperfeiçoamento e 21 em outras atividades. No nível de pós-graduação, meus orientandos somam, até o momento, 37 no mestrado, 29 de doutorado e nove supervisões de pós-doutorado. Alguns deles foram orientados no nível da graduação (iniciação científica ou aperfeiçoamento). Na pós-graduação lato sensu, orientei cinco monografias (5). Duas teses merecem destaque. Em 2012, a tese de Edilson Alves Pereira Junior – atualmente professor na Universidade Estadual do Ceará (Território e economia política - uma abordagem a partir do novo processo de industrialização do Ceará) recebeu o Prêmio CAPES-TESE. Por essa razão, ele recebeu verba para desenvolver uma pesquisa e eu recebi uma quantia (R$ 3 mil) para participar de evento científico. No ano seguinte, a tese de Leandro Bruno Santos – hoje docente na Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes (Estado, industrialização e os espaços de acumulação das multilatinas) recebeu menção honrosa da CAPES porque eu não poderia (como eu soube confidencialmente) ser contemplado com o mesmo prêmio em dois anos seguidos. Enfim, provincianismos decorrentes de nossa herança social de dividir os louros não levando em consideração o mérito, mas o compadrismo. No final das contas, foram 190 estudantes (esse número pode variar, ainda) que já receberam, nos diferentes níveis de orientação, minha contribuição para a sua formação, dos quais, vários deles trabalharam em dois níveis, pelo menos. Nesse rol não estão algumas coorientações nem aqueles alunos que, orientados por outro colega, tiveram bolsa em meu nome (a essa situação, chamamos de “barriga de aluguel”). Sobre essa relação com os alunos, os temas de monografias, estágios, dissertações e teses foram e ainda são diversificados, como já escrevi anteriormente. De maneira mais condensada, três grandes grupos podem ser identificados. Um deles pode ser definido como de ensino de Geografia. O livro didático, a formação do professor de Geografia, pesquisa-ação, metodologia de ensino da Geografia, mapas, percepção do espaço, por exemplo, foram alguns assuntos trabalhados pelos alunos. O outro bloco, com número maior de estudantes, é aquele que, mesmo tratando da indústria ou da regionalização, tem nos aspectos econômicos, sua principal transversalidade. Assim, Distrito Industrial, setor hoteleiro, vazios urbanos, tecnologia, desenvolvimento, transporte urbano, globalização, industrialização, trabalho informal, turismo, expansão urbana, autoconstrução, imigração e território, foram outros temas escolhidos pelos estudantes que pude, com eles, aprender nas práticas de orientação. A esse grupo pode ser associado o projeto temático, financiado pela FAPESP (entre 2006 e 2011), intitulado O novo mapa da indústria no estado de São Paulo, que rendeu várias orientações e um livro publicado pela Editora UNESP. Um terceiro bloco pode ser identificado com as pesquisas e orientações ligadas à cidade. Esse direcionamento foi motivado pela participação em dois projetos temáticos (também financiados pela FAPESP) coordenados pela Carminha. Seus títulos: Lógicas econômicas e práticas espaciais contemporâneas: cidades médias e consumo (2011-2016) e Fragmentação socioespacial e urbanização brasileira: escalas, vetores, ritmos, formas e conteúdos (FragUrb), com duração prevista entre 2018 e 2023. Alguns alunos tiveram suas pesquisas ligadas ao GAsPERR (Grupo de Pesquisa Produção do Espaço e Redefinições Regionais) (6), cuja fundação, em dezembro 1993, propiciou, para mim e para os outros colegas do grupo, uma experiência coletiva muito importante porque suas atividades, ao longo dos já transcorridos 27 anos, que teve três seminários de avaliação, oito volumes do boletim Recortes, quatro edições do banco de dados Conjuntura Prudente, dois livros contendo as memórias do grupo (Região, cidade e poder e Dinâmica econômica, poder e novas territorialidades) e três edições do Seminário do Pensamento Geográfico (1991, 1994 e 1997). Outras atividades que considero importantes também foram desenvolvidas. Atualmente como pesquisador 1B do CNPq, trabalhei (como bolsista, desde 1992) em temas ligados à industrialização e desenvolvimento regional, sempre pautando-se pela referência da cidade e do urbano: A logística industrial, os fluxos e os eixos de desenvolvimento. Um enfoque considerando as cidades de porte médio: Redes urbanas, cidades médias e dinâmicas territoriais. Estudos comparativos entre Brasil e Cuba; Lógicas econômicas e práticas espaciais contemporâneas: cidades médias e consumo; Reestructuración productiva en ciudades medias de Argentina y Brasil; Lógicas econômicas e dinâmicas urbanas: cidades médias e localização de atividades; Commerce alimentaire et polarités urbaines: outils d ‘analyse et méthodes d’interprétation; Estratégias econômicas e dinâmicas espaciais: leitura das cidades médias pela ótica da quarta revolução industrial foram os principais. Por sete anos e quatro meses fui coordenador da área de Geografia na FAPESP, função na qual substituí o saudoso Antonio Carlos Robert de Moraes. As reuniões semanais para examinar as demandas de bolsas (iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e jovem pesquisador) e auxílios (projeto temático, principalmente) levaram à formação de outro círculo de amigos das universidades no estado de São Paulo, nas áreas (além da Geografia) de História, Sociologia, Direito, Filosofia, Antropologia e Ciência Política. Debater os critérios para a concessão de bolsas e auxílios foi mais um aprendizado na minha vida. Entre 2005 e 2014 participei, como coordenador da área de Geografia ou como representante desta área junto ao Ministério da Educação, do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Essa função, que resultou na avaliação dos livros comprados pelo governo brasileiro para as escolas públicas do Brasil (de ensino fundamental e médio), foi fundamental para minha carreira como forma de contribuir para uma política pública que se tornou exemplo internacional como forma de qualificação do ensino. Os livros eram avaliados anualmente por uma equipe que era composta considerando critérios que considero básicos para se trabalhar em equipe: conhecimento do temário e das teorias da Geografia, compromisso com a qualidade e com os prazos, saber trabalhar em grupo (ou seja, trabalhar em equipe) e dominar a língua portuguesa e ter noções de informática para utilizar o computador da melhor maneira possível. Esse trabalho rendeu artigos e livros que registraram as principais conclusões dessa atividade. Fui coordenador de publicações da AGB-nacional (durante quatro anos publiquei números da revista Terra Livre – um deles comemorando os 70 anos da entidade, em 2004); fui secretário (2000-2002) e presidente da ANPEGE (2014-2015), quando organizei o XI ENANPEGE em Presidente Prudente, mais uma função importante que me possibilitou conhecer a pós-graduação em Geografia no Brasil; fui membro do Conselho do Programa de Pós-graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia; sou parecerista ad hoc de CNPq, CAPES, FAPESP, FUNDUNESP e de inúmeras revistas do Brasil e do exterior; e membro do conselho editorial de várias revistas no Brasil.... Em 2019 nasceu a Joana, loirinha, alegre, já querendo falar. Convivemos pouco com ela porque mora em Palmas, Tocantins, onde o Ítalo é professor da Universidade Federal do Tocantins e a Maria Amélia é funcionária do Tribunal de Justiça Estadual. Fazendo uma rápida avaliação das atividades citadas acima, acho que é preciso repensar e selecionar um pouco mais o que fazer. Senão, vão faltar horas no meu dia e dias na minha semana. Muitas atividades citadas neste texto, eu as dividi com a Carminha. Muita gente pergunta como é a vida de um casal que trabalha na mesma área e no mesmo departamento (por alguns anos na mesma sala). Não há uma resposta simples, como não é simples o nosso quotidiano. Compartilhar a vida e o trabalho não é difícil. Pelo contrário, é muito bom. Há dias em que eu não me encontro com ela na universidade. Há viagens de trabalho, há viagens de lazer. A troca de ideias é importante, mas mais importante é a elaboração de planos: desde uma mudança na decoração da casa, novas plantas no jardim, a situação de cada um dos filhos, os programas de viagens com os netos (como aquela viagem de motorhome de Blumenau a Gramado, com Otto e Theo, que moram com os pais, Caio e Fabiana, em Curitiba – ainda falta uma viagem com a Joana, que ainda tem um ano e meio), as tendências nas eleições (desde a universidade ao município e ao país – que colocou em cena um personagem negativo que, por 23 anos, não fez absolutamente nada na Câmara Federal, cujo nome não declino neste texto mas que todo mundo sabe de quem se trata), o almoço com os amigos... até o que ia fazer e estou fazendo como aposentado (desde 2 de abril de 2019, quando completei 50 anos de serviços prestados, dos quais 43 dedicados ao ensino), tudo se torna motivo para o diálogo e a continuidade do romance iniciado em 1974... As viagens com os netos, filhos e noras realizadas foram excelentes, para a Chapada Diamantina (2000), Toscana – Itália – e Provença – França (2017), quase para Portugal (em 2020, cancelada por causa da pandemia covid-19) e outras menores. Caio, Fabiana, Otto e Theo moram em Curitiba, para onde é mais fácil o deslocamento. Ítalo, Maria Amélia e Joana moram em Palmas, no Tocantins, para onde é mais difícil ir. EM QUALQUER PRIMEIRO DIA DO RESTO DA MINHA VIDA Olhando para trás, relendo o relato contido neste texto, parece que nossa vida é episódica. São flashes que, como partes de uma totalidade, sobressaem-se no conjunto dos dias e das atividades exercidas no dia-a-dia. Admito, neste momento, uma certa dificuldade em articular os episódios, porque algumas “passagens” são mais valorizadas, mais detalhadas do que as outras. O tempo cronológico adquire, por esta razão, novo ritmo: um ritmo ditado pelas diferentes intensidades definidas pelo que fica mais vivo na memória. Essa diferenciação no tempo da memória define a dimensão do tempo vivido e o diferencia dos tempos cronológico, cósmico e dos outros. E essa velocidade, com diferentes ritmos, se pode ser inferida pelo relato daquilo que ficou gravado com maior intensidade, continuará tendo seus ritmos, também, quando dos acontecimentos futuros. Mesmo aposentado, continuo trabalhando bastante, orientando nos diferentes níveis, ministrando minha disciplina sobre metodologia tanto na FCT/UNESP quanto como professor visitante na Universidade Federal de Uberlândia, campus de Ituiutaba. Em outras palavras, enquanto o tempo passa, as tarefas continuam: as aulas na pós-graduação; as orientações do mestrado e do doutorado; a produção de textos para expor as ideias (ora individualmente ora em trabalho em grupo com outros geógrafos) e contribuir com o conhecimento geográfico, a participação em eventos científicos. Qualquer que seja a atividade que vou exercer doravante, quero ter tempo para arrumar minhas poesias, músicas e escrever alguma coisa mais livremente, lembrando de fatos da vida pessoal e de pessoas mais próximas, como faz Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Meu pai sempre contou fatos de sua vida, desde Taiaçu até seus dias como pioneiro no velho “faroeste” paulista. Estórias de imigrantes e filhos de imigrantes, de derrubadores de matas, de agricultores frustrados, de pescadores, de jogadores de futebol, de políticos... Isso já está gerando contos que estou escrevendo. Já pude produzir e gravar quatro discos (Cenário, Meu canto geral, Viver no campo e Samba, bossa-nova e algo mais, disponíveis em plataformas digitais como Spotify, Youtube, Deezer...), registrando 47 canções que compus ao longo da minha vida. E vou continuar a fazê-lo porque há, ainda, várias músicas para registrar. Enquanto o tempo passa, professorar é preciso; viver, muito mais ainda. Como eu acredito na transformação da matéria, algumas coisas boas ainda vão acontecer, no futuro: a consciência política das pessoas vai mudar (já estou perdendo a esperança porque o que ocorre, atualmente, no Brasil, é um dos maiores desastres políticos de todos os tempos); os dirigentes do Palmeiras vão ser mais sérios; o metrô de São Paulo terá 15 linhas, ligando todos os pontos possíveis da cidade; a ida para São Paulo será num trem de grande velocidade; as cobras e as baratas estarão extintas do planeta; a Lua ficará mais brilhante e bonita nas noites sem nuvens... Quero, aí por esse tempo, olhar, serenamente, para filhos e netos, fechar os olhos e sentir os átomos do meu corpo, em estado plasmático, tomando direções diferentes, na velocidade impensável do big crunch, em outra dimensão, sugados pelo buraco negro da eternidade, com a certeza de ter viajado pelo sistema solar em alguns infinitesimais anos dos séculos XX e XXI. Como Drummond termina seu autopoema, eu também me pergunto: a poesia é necessária, mas o poeta, será? AS GEOGRAFIAS QUE ME FIZERAM (7) O momento se mostra propício para o que proponho neste texto: fazer uma releitura de alguns textos que produzi nos momentos que considero pilares na carreira de todos os pesquisadores das universidades públicas brasileiras (tempos do mestrado, do doutorado, da titularidade e, no caso das universidades paulistas, da livre docência). Assim, as Geografias que me fizeram ficam delimitadas às etapas da formação de minha carreira porque, na medida em que foram sendo elaboradas a dissertação de mestrado, a tese de doutorado e a tese de livre docência, os produtos foram conduzidos (sem rigor excessivo) pelos temas desses trabalhos. Desde o primeiro texto apresentado em um evento científico e dois outros publicados em revista departamental, a escolha do que estudar foi pautada pelos assuntos mais candentes nas décadas em que as pesquisas foram realizadas. Nessa linha, os primeiros trabalhos escritos tiveram interface com a Demografia. Para o mestrado, no final da década de 1970, o tema mais importante, por causa das mudanças estruturais que ocorriam no Brasil rural, era a migração, principalmente no sentido rural-urbano. Como o tema estava bem estudado, a proposta foi inverter a questão: ao invés de estudar a migração, foi escolhido explicar por que as pessoas permaneciam nas cidades pequenas. Para abordar essa questão, foi necessária uma interface com a Psicologia. A dissertação mostrou como a Geografia poderia contribuir com a construção de um conceito: horizonte geográfico. No doutorado, na década de 1980, em que o viés da grande narrativa por meio da crítica ao modo capitalista de produção dominava os estudos geográficos, o foco foi a cidade de Presidente Prudente e, por intermédio da teoria da renda da terra urbana, estudei e expliquei como se produz, como se apropria, em que momentos e qual o papel do Estado no processo de produção e apropriação da renda fundiária urbana. Aqui, a interface fundamental foi com a Economia. Observando a simplicidade com que o método, as categorias e os conceitos eram tratados na Geografia, para a livre docência a minha preocupação foi elaborar um estudo que mostrasse a importância desses elementos, fundamentais para a produção do conhecimento científico. A tese de livre docência foi publicada (8), posteriormente, em forma de livro e se tornou um dos livros mais vendidos da Editora UNESP, chegando a ter quatro reimpressões. Neste momento, a interface mais forte foi com a Filosofia. Depois, para o concurso de titular, o tema da aula foi a relação espaço-tempo. A proposta foi, neste caso, de verticalizar dois conceitos-chave da Geografia, confrontando as diferentes definições elaboradas por vários autores consagrados na ciência. O texto resultante da aula foi publicado, alguns anos depois, na forma de verbete, mas sua extensão e densidade equivale, praticamente, a um artigo (9). Embora a Filosofia tenha fundamentado esse estudo, recorri, também, a uma interface com a Física. A participação em projetos de pesquisa coletivos, as orientações em diferentes níveis (iniciação científica, mestrado e doutorado), a supervisão de pós-doutorados e a participação em eventos (principalmente quando se tratava de trabalhar um tema em mesa redonda), foram outros meios de realizar estudos sobre diferentes temas, levando a uma interface, mais recentemente, com a Sociologia. As diferentes interfaces citadas são aquelas que privilegio neste texto. A INTERFACE COM A DEMOGRAFIA A Demografia foi a referência principal no início de meus estudos. Dois textos foram produzidos durante a graduação. Depois, em 1975, um estudo sobre a população urbana e rural no Estado de São Paulo levou-me a participar do primeiro evento. já em escala nacional. Foi o 7º. Congresso Nacional de Geografia, realizado em São Paulo. A motivação para ir ao evento foi decorrente dos incentivos do meu primeiro orientador na graduação, Prof. Dr. Marcos Alegre. Como eu era desenhista da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente (conhecida como FAFI), o trabalho de produzir os mapas foi consequência dos estudos na graduação e do trabalho cotidiano. O texto, publicado nos anais do evento (10), evidenciam a cartografia, ainda artesanal, produzida em papel vegetal com tinta nanquim. A descrição dos dados demográficos dos censos de 1940, 1950, 1960 e 1970 levaram às conclusões de que: “A corrida para oeste, iniciada pelo café no século XIX, foi tomando conta de todo o território paulista, evidenciando-se mais a partir de 1940, com a criação de inúmeros municípios e o florescimento de capitais regionais, acompanhando essa corrida, as estradas de ferro, convergentes à capital, sempre seguindo os espigões, num alinhamento forçado pelo traçado dos rios. O espaço ocupado, com o enfraquecimento do solo, da agricultura, deu lugar às pastagens, com as densidades rurais provando o fato, diminuindo a partir de 1980 – apenas, no oeste, as 2 regiões mais novas têm boas densidades (Alta Paulista e Alta Araraquarense) – e o aumento nos arredores da capital, evidenciando-se a grande aglomeração populacional, tnato rural como urbana. Os pequenos centros estacionam ou regridem, acompanhando a queda da população rural, permanecendo com leve crescimento apenas os núcleos médios e com visível crescimento as capitais regionais, rodeadas de pequenos núcleos que se mantêm graças à sua influência monopolizadora, acrescidas da importância administrativa após a divisão do Estado em 11 regiões para esse fim. As maiores aglomerações rurais, a partir de 1960, são abafadas pelo maior número de esvaziamentos rurais, sem se considerar o Vale do Ribeira, de ocupação anterior a 1940, cujo crescimento urbano foi pequeno e o rural quase estacionário. O crescimento sensível das cidades do Vale do Paraíba, permitindo prever uma conurbação polinucleada na ligação Rio – São Paulo, acompanhando o traçado do rio, e consequentemente a via Dutra e a estrada de ferro, consequência da recente industrialização da região, motivada por sua posição estratégica” (p. 377). (AS FIGURAS E QUADROS CONTIDOS NO TEXTO, PODEM SER VISUALIZADOS NO DOCUMENTO ORIGINAL, ENVIADO PELO AUTOR). A INTERFACE COM A PSICOLOGIA A migração, tema recorrente na década de 1970, motivou-me a prestar seleção para o Mestrado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), na USP, sob a 27 orientação do Prof. Dr. Armando Corrêa da Silva. A interface entre Geografia e Demografia era evidente, neste caso. Uma primeira aproximação foi feita sobre as migrações e as pequenas cidades. Em linhas gerais, as causas das emigrações das pequenas cidades poderiam ser assim expressas: a) posição do centro na hierarquia urbana; b) distância do centro maior e diferenciação dessa distância por tipo de estrada ou transporte; e c) magnitude da oferta de serviços por esse centro maior em relação à cidade pequena considerada. Eu alertava para o fato de que, partindo de uma revisão bilbiográfica para me aproximar do tema das migrações, alguns cuidados deveriam ser tomados: “Em primeiro lugar, ressalta a importância que a escala de enfoque tem em qualquer proposta de estudo geográfico, tanto no sentido horizontal, que é o universo de abrangência, quanto no sentido vertical, que é representado pela profundidade e especificidade da abordagem. Em segundo lugar, o apanhado do conceito de migrações não foi - como não deve sê-lo - procurado apenas geograficamente, mas ajudado pela abordagem de outras ciências, para dar um certo caráter interdisciplinar a este trabalho, para superar a compartimentação científica do conhecimento. Em terceiro lugar, fica a certeza de uma certa evolução no conceito de migração, não apenas no sentido da escala (...), de abrangências cada vez mais específicas, mas principalmente no sentido dos fatores considerados, que vão desde o sistema econômico até ao indivíduo que a esse sistema econômico pertencente e que dão, desde que respeitados, a conceituação mais ampla de migração: movimento de pessoas, de qualquer classe social no espaço geográfico, considerada a história do indivíduo e de sua sociedade, sua formação e o grupo mais imediata a que pertence e que a eles se condiciona”. (SPOSITO, 1983, p. 41) Mas insistir em estudar um processo (migratório) que pautava muitas dissertações e teses, não me pareceu convincente. Era preciso pensar em algo diferente. Foi a sagacidade do orientador que, nas primeiras sessões de orientação, sugeriu-me inverter a questão como ela estava posta na universidade: ao invés de estudar por que as pessoas migram, por que não procurar entender por que elas permanecem nas cidades, principalmente nas cidades pequenas? Estava lançado o desafio a partir de um tema novo (e inovador) porque não havia, num tempo imediato, base teórica conhecida nem metodologia adequada. A utilização da teoria dos dois circuitos da economia urbana, elaborada por Milton Santos foi importante para compreender a dimensão econômica das cidades pequenas que eu estudava naquele momento (Pirapozinho e Álvares Machado, no estado de São Paulo) e as situações de emprego, renda, mobilidade e lazer das pessoas. Por meio da aplicação de 500 questionários nas duas cidades, essas referências, depois de tabuladas, foram importantes para a formação do horizonte geográfico conformado no cotidiano das pessoas. Antes, foi preciso identificar, nas cidades, as características dos dois circuitos da economia urbana. O resultado foram vários mapas, então conhecidos como mapas das funções urbanas. Um deles está representado na figura 3. A solução foi a interface com a Psicologia. Depois de comparar as possibilidades entre as três grandes correntes da Psicologia (piagetianismo, behaviorismo e gestaltismo) por meio da interlocução com outros profissionais, optei pela corrente da Gestalt porque ela tinha, como referência principal, a forma. E a forma já era uma categoria importante para a Geografia, como mostrou Milton Santos posteriormente (11). Foi preciso, então, recorrer à Psicologia. Utilizei a teoria de campo de Lewin para analisar a localização do indivíduo. Ela “depende também dos níveis de realidade e irrealidade que se modificam à medida que a idade avança. [...] Esses níveis permitem a movimentação do indivíduo dentro do espaço vital – ou de seu espaço geográfico – cuja posição” determina: a) a qualidade de seu meio imediato; b) que tipos de regiões psicológicas são adjacentes à presente região, isto é, que possibilidades o indivíduo tem para seu próximo passo. c) que passos têm o significado de uma ação em direção ao objetivo e que passos correspondem a uma ação afastando-se do objetivo (LEWIN, 1968, p.279, apud SPOSITO, 1983, p. 76). fui buscar, de maneira rápida e objetiva, na Wikipedia, algumas características da Psicologia da Gestalt: “A gestalt, ou psicologia da forma, surgiu no início do século XX e (...) trabalha com dois conceitos: super-soma e transponibilidade. Um dos principais temas trazido por ela é tornar mais explícito o que está implícito, projetando na cena exterior aquilo que ocorre na cena interior, permitindo assim que todos tenham mais consciência da maneira como se comportam aqui e agora, na fronteira de contato com seu meio. Trata-se de seguir o processo em curso, observando atentamente os ‘fenômenos de superfície’ e não mergulhando nas profundezas obscuras e hipotéticas do inconsciente – que só podem ser exploradas com a ajuda da iluminação artificial da interpretação. De acordo com a teoria gestáltica, não se pode ter conhecimento do ‘todo’ por meio de suas partes, pois o todo é outro, que não a soma de suas partes: ‘(...) A+B não é simplesmente (A+B), mas sim, um terceiro elemento C, que possui características próprias’. Segundo o critério da transponibilidade, independentemente dos elementos que compõem determinado objeto, a forma é que sobressai: as letras r, o, s, a não constituem apenas uma palavra em nossas mentes: ‘(...) evocam a imagem da flor, seu cheiro e simbolismo - propriedades não exatamente relacionadas às letras.’" (Wikipedia, 2019, acesso em 19/9/2019). Sobre o conceito de espaço vital e de lugar, eu já alertara na dissertação: “Não se deve confundir os conceitos psicológico de espaço vital e geográfico de lugar. O primeiro diz respeito aos impulsos, à história e à reação do indivíduo no espaço geográfico, e o segundo diz respeito ao meio natural e cultural que define a 1oca1ização e por extensão a existência da sociedade. Apesar disso, num espaço da pequena cidade, onde a noção sociológica de comunidade está constantemente presente e constantemente atingida pelos impulsos uniformizadores - diferenciadores do sistema capitalista, quando esse espaço é considerado em si como lugar, abriga a noção de espaço vital como o grande espaço de atuação cotidiana do indivíduo. A separação, então, entre os dois conceitos, estabelecida didaticamente, torna-se pequena e até desaparece em certos casos individuais ou mesmo se distancia mais em outros casos, mas não perde o sentido na análise, pois ela é necessária para o entendimento do dinamismo da população dos centros urbanos estudados”. (cap. III). Sobre as migrações e seu papel no sistema capitalista, quero destacar um esboço teórico que fiz e que acho, mesmo distante no tempo, ainda atual do ponto de vista do estruturalismo marxsta, inspirado na teoria dos dois circuitos da economia urbana de Milton Santos: “O sistema capitalista, ao se organizar através desses impulsos, não se organiza num lugar especificamente, mas procura distribuir, de acordo com suas adequações, os indivíduos com as funções do momento por todo o território de atuação, eliminando, em muitos casos, uma rugosidade considerável que divide as partes do território (...). Voltando um pouco para realimentar a conclusão da discussão, deve-se ter em mente o seguinte: os níveis são definidos pelas atividades dos indivíduos e pelas funções das formas, figurações particulares do movimento. E o indivíduo, como forma, está nos diferentes níveis definidos pelas funções das formas. O indivíduo, no momento em que exerce uma atividade, exerce o movimento e, como a forma é uma figuração particular do movimento, o indivíduo também aparece como forma, pois exerce essa atividade. O indivíduo, neste sentido, não está analisado como antropóide uniforme nem sem os dotes naturais do ser humano, mas como agente, consciente ou inconsciente, do sistema capitalista a que pertence. Daí que as funções são o papel exercido dentro de um sistema pelas formas, traduzidas opostamente na cidade e no campo, que dão a estrutura do espaço. As formas estão no espaço; são, portanto, geográficas, pois são a manifestação da interação do homem com a natureza e dos homens entre si. As funções não são geográficas; no entanto, ao se localizar nas formas, e ao mudar de forma ou de lugar e forma, movimentam-se no espaço e fazem parte do espaço. A função da forma está associada ao indivíduo, ao ser que nela se insere. O movimento da função no espaço, mudando de forma e/ou de lugar, é também sua migração; é a migração do indivíduo. Desta maneira, a migração obedece às necessidades da forma exercer sua função. Essa função é determinada, completando o raciocínio, pela divisão do trabalho dada, inicialmente, pela produção de bens necessários para suprir as necessidades naturais do homem - naturalmente surgidas e posteriormente multiplicadas - depois pela relação de propriedade tanto da natureza como dos valores artificiais criados pelo homem”. (cap. I) Mais tarde, Gaudemar teorizou a migração a partir da pessoa como continente da força de trabalho, o que, mesmo sendo de difernte interpretação, está baseada no fato da força de trablaho ser um atributo do indivíduo. Essas ideias estão superadas do ponto de vista da interpretação e da escala, mas principalmente porque o “êxodo rural” ou a migração a partir das pequenas cidades não são um fato migratório predominante, mas do ponto de vista do marxismo estruturalista, elas continuam valendo. A INTERFACE COM A ECONOMIA POLÍTICA No doutorado, a interface com a Economia Política marcou outro prisma das Geografias que me fizeram. O foco de estudo seria a cidade de Presidente Prudente que, já enfocada pelas dinâmicas da habitação, dos transportes e da verticalização, passou a ser analisada por meio da segregação urbana e da apropriação da renda fundiária urbana. Autores como Karl Marx, como seria óbvio, mas Christian Topalov, Tom Bottomore, Jean Lojkine, Samuel Jaramillo, José de Souza Martins e Ariovaldo de Oliveira auxiliaram na compreensão dos três tipos de renda que, até o momento, são os esteios da teoria. Mesmo que seja difícil a sua apreensão empiricamente, na atualidade, há outras ferramentas teóricas para esse fim, como é a proposta da renda absoluta diferenciada (proposta por Rebour, 2000). De Topalov, no que concerne à renda diferencial, temos a seguinte afirmação: “a renda diferencial é um efeito do preço. Quanto ao preço, é um efeito do custo, mais precisamente da configuração dos custos individuais e do processo de sua transformação num único custo social pela concorrência (p. 95). Por isso, “como a exploração capitalista da cidade tem por base material a produção de edificações (...) segundo a localização dos terrenos, a taxa de lucro interna da operação variará, a preço uniforme de venda do produto, porque os custos localizados de produção do terreno construtível variarão” (TOPALOV, 1984, p. 97) Estava lançado o desafio: verificar, em Presidente Prudente, a massa de terrenos vazios, localiza-los no território urbano e confrontar seus preços com outras referências, como os estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, e as áreas não loteáveis (parques, áreas públicas, praças etc), além de verificar como se dava, ao redor da cidade, a apropriação das grandes glebas loteáveis, o que levou-me a deduzir que a cidade de Presidente Prudente era cercada por um ”muro” (lembrando as cidades medievais) que a cercava, mas neste caso o ”muro” era constituído pelas glebas apropriadas por poucos proprietários que decidiam, de acordo com suas expectativas de se apropriar da renda da terra, o momento de lotear parcelas das glebas, transformando-as em terra urbana, fazendo com que seu preço aumentasse, nominal e imediatamente, de oito a dez vezes o preço do metro quadrado. A expansão da quantidade de terrenos vazios nas bordas da área loteada da cidade era acompanhada (legalmente) pela modificação do perímetro urbano, instrumento político municipal de regulação do crescimento da cidade que obedece, no caso da cidade citada, às expectativas dos grandes proprietários de glebas loteáveis. A localização, a construtibilidade (condições geomorfológicas do terreno como declividade, resistência às construções; condições econômicas, como ser de esquina, forma do lote, tamanho) e as externalidades decorrentes de sua localização (processos de parcelamento do solo urbano, densidade de ocupação do bairro, proximidade de grandes centros de compra etc) foram fatores considerados para a explicação da produção da renda fundiária urbana em Presidente Prudente. Jaramillo (1982) acrescenta alguns fatores importantes para se entender a produção da renda fundiária urbana: 1) processo de consumo do espaço construído da relação com a atividade comercial; 2) segregação sócio-espacial da cidade; 3) custos para apropriação e consumo habitacional; 4) delimitação de zonas industriais” (p. 42). Desse autor, eu trouxe a ideia de renda imobiliária sem desenvolver com mais profundidade. Essa ideia foi, nos últimos anos, “ressuscitada” por algumas pessoas, que não cabe aqui nominar com detalhes, como se fosse uma grande novidade teórica para se compreender a produção imobiliária na cidade, mas visando a metrópole. A renda absoluta existe porque existe a propriedade da terra. Essa insofismável condição faz com que a terra, limitada na superfície do planeta, seja apropriada por um número pequeno de pessoas que submetem os outros à condição de não-proprietários. Esse aspecto é tão importante que, para verificar como se dá posse da terra urbana em presidente Prudente, busquei, nos jornais, durante uma década, os preços dos terrenos à venda, considerando aqueles proprietários que tinham mais que um terreno. O pressuposto era de que, com um terreno, o proprietário está exercendo seu direito de morar, de existir, e não de especular com a mercadoria solo. Quem tem mais de um terreno, tem aquele necessário para sua sobrevivência na cidade, mas tem, em suas mãos, uma mercadoria que pode auferir renda no ato de compra e venda. Com esses passos, estavam lançadas as bases teóricas para a verificação empírica da produção e apropriação da renda. Mesmo assim, ainda quero lembrar que, mesmo que a propriedade do solo seja uma condição inata ao modo capitalista de produção, ela apresenta alguns obstáculos ao capital. Fui buscar em Harvey (1980) esses obstáculos: 1. O solo e a mercadoria têm localização fixa. A localização absoluta confere privilégios de monopólio à pessoa que tem os direitos de determinar o uso nessa localização. É atributo importante do espaço físico que duas pessoas ou coisas não possam ocupar exatamente o mesmo lugar, e esse princípio, quando institucionalizado como propriedade privada, tem ramificações muito importantes para a teoria do uso do solo urbano e para o significado do valor de uso e do valor de troca. 2. O solo e as benfeitorias são mercadorias as quais nenhum indivíduo pode dispensar (...). Não posso viver sem moradia de nenhuma espécie. 3. O solo e as benfeitorias mudam de mãos relativamente com pouca frequência. 4. O solo é algo permanente e a probabilidade de vida das benfeitorias é muitas vezes considerável. O solo e as benfeitorias, e os direitos de uso a ela ligados, por isso, propiciam a oportunidade de acumular riqueza. 5. A troca no mercado ocorre em um momento do tempo, mas o uso se estende por um período de tempo. 6. O solo e as benfeitorias têm usos diferentes e numerosos que não são mutuamente exclusivos para o proprietário (p. 135-136). Com esses atributos, o solo e sua apropriação se, por um lado, são fundamentos básicos do sistema capitalista, por outro lado tornam-se obstáculos para a formação da renda, principalmente no momento em que a renda pode ser auferida, o que depende de uma relação social, que é o ato de compra e venda. Mais uma vez, a linguagem cartográfica foi necessária. Ainda sem o domínio do computador, que estava entrando como ferramenta nas pesquisas dos geógrafos, tive que esboçar e desenhar todos os mapas utilizando o papel vegetal e a tinta nanquim. Ainda estávamos iniciando a última década do século XX. Na minha opinião, a contribuição que trouxe, com a tese, foi explicar, baseando-me tanto em dados empíricos quanto da teoria da renda, que a cidade é produzida em um movimento de diástole (eufemismo necessário naquele momento) que ocorria quando os proprietários ou incorporadores decidiam por expandir o número de lotes vazios na cidade. Para isso, algumas áreas tinham maior apelo que outras. No caso de Presidente Prudente, as zonas sul e oeste eram “a bola da vez”. A terra rural, transformada em terra urbana nessas áreas, exprimiam-se me valores muitas vezes maior do que o metro quadrado das glebas em outras áreas da cidade. Alguns raciocínios foram catalisadores da dinâmica imobiliária (respeitante a mercadoria lote produzido) em Presidente Prudente: 1) “A dinâmica do mercado fundiário e, portanto, o crescimento territorial da cidade faz-se sob a lógica da produção monopolista” (1,35% dos habitantes da cidade tinham, em suas mãos, 56,3% dos lotes vazios na cidade de Presidente Prudente); 2) “o solo urbano (...) emerge, para a classe dos proprietários de solo, como reserva de valor (...). Concomitante e contraditoriamente, o solo é também continente da renda capitalizada que se realiza no ato de compra /venda; 3) monopolização do território baseada na propriedade como reserva de valor (...) forma a estrutura (...) que vai determinar a dinâmica própria da expansão da malha urbana” (SPOSITO, 1990, p. 141). Destaco, também, a apropriação da renda pelo poder público via IPTU que se realiza pela transferência de ramo da mais-valia social quando se torna salários dos funcionários públicos. Por outro lado, o poder público também pode utilizar essa arrecadação para exercer seu direito de evicção nos processos de desapropriação de áreas urbanas, fazendo com que elas possam “voltar” para a população da cidade. Eu afirmei, nas conclusões, que “a renda do solo realiza-se em sua forma absoluta, quando a base mais clara é propriamente a garantia da propriedade privada; na forma diferencial, quando se evidenciam suas relações de localização e construtibilidade; e na forma de monopólio, que muitas vezes se confunde com a diferencial, quando a segregação espacial é estimulada e assumida pelo consumidor do espaço urbano” (SPOSITO, 1990, p. 144). Por outro lado, “se, em sua forma plena, a propriedade privada, pelo fato de ser continente de capital, imobiliza-o, transformando-se em obstáculo para sua reprodução, quando objeto de especulação liberta-o desse caráter de obstáculo, permitindo sua realização crescente”. Para concluir, a apropriação da renda fundiária ocorre quando: 1) ocorre o loteamento urbano, transformando a terra rural em terra urbana; 2) pelo recolhimento dos tributos municipais, pelos investimentos públicos em áreas selecionadas da cidade; 3) o papel dos investimentos públicos em áreas diferenciadas da cidade; 4) pela transferência de ramo de parte da mais-valia social (SPOSITO, 1990, p. 146). A apropriação da renda se dá em escala individual (quando ocorre a venda do lote), mas no nível da economia urbana, é “posterior ou concomitante aos períodos de expansão da malha urbana” e, considerando o mercado fundiário, é quando “ocorrem mudanças conjunturais na economia em escala nacional” e, em termos de magnitude, é determinada pela transformação da terra rural em terra urbana ou pela diferença de preço entre o momento de produção do solo, dependendo da localização e da taxa de juros vigente no mercado (p. 147). Acredito que, com esse estudo, lancei bases para a análise, compreensão e explicação da dinâmica fundiária urbana, sugeri uma metodologia adequada para o estudo da cidade e encontrei uma fonte simples, mas eficaz, para a obtenção da informação geográfica necessária e suficiente para esse tipo de estudo. Todos esses elementos (dos três últimos parágrafos) conformam uma teoria da produção e apropriação da renda fundiária urbana. A CHEGADA NA FILOSOFIA Desde o tempo das leituras para a tese, alguma coisa me incomodava, tanto nelas quanto nas conversas que ouvia de geógrafos. Os meus mestres não me alertaram para a importância do método, por isso fui observando que havia confusão (ou, no mínimo, despreocupação) com palavras científicas fundamentais, como método, conceito e categoria. Era preciso, ao meu ver, dar atenção a essa questão fundamental na Geografia porque ela se pretendeu, sempre, como conhecimento científico. A Geografia deu uma guinada importante quando, mais do que procurar seu objeto (que permeou toda a produção d “geografia tradicional” Começando pelo método, depois de apresentar várias definições trazidas por vários filósofos, e considerando aquilo que estava ora implícito, ora explícito em inúmeras obras, cheguei à proposta de mostrar que há três métodos que comportam todas as ciências e por elas podem ser utilizadas porque dão conta da orientação, ao cientista, na construção do conhecimento científico. Não era, portanto, apenas uma questão semântica, mas de clareza e conteúdo. O método hipotético-dedutivo representa o que decorreu da proposta cartesiana do método científico. Esse método fundamenta-se na formulação de hipóteses, no exercício do trabalho empírico, na formação das explicações (tanto do ponto de vista dedutivo, do geral para o particular, quanto indutivo, do particular para o geral), e na perspectiva da elaboração do conhecimento como utilidade e possibilidades de previsão. Mesmo que nem sempre se encontre correspondência perfeita entre experimentos e observações, por um lado, e deduções, por outro, a importância desse método reside no fato de que ele abriu caminho para a dessacralização da natureza (aí compreendido o corpo humano) e da certeza de que o conhecimento poderia ser cumulativo porque uma das técnicas utilizadas é a anotação da experimentação e a linguagem matemática. Por isso mesmo, a doutrina que se fortalece com esse método é o positivismo, até início do século XX e, a partir daí, o neopositivismo. A contribuição de Popper, produto do Círculo de Viena, recuperou a discussão de que a ciência tem uma única linguagem, a matemática. As dificuldades em representar o mundo real é uma dificuldade para o cientista social porque depende da experiência. Assim, seria difícil determinar se um enunciado é verdadeiro ou não pois, se não for verdadeiro, não terá nenhum significado, chegando à conclusão de que a indução não existe. Popper, então, afirma que “um sistema como empírico ou científico se ele for passível de comprovação pela experiência”. Seguindo esse raciocínio, eu afirmei que “a verificação das verdades científicas e o dimensionamento do progresso da ciência só poderão ser feitos através do critério de demarcação que ele chama” de “falseabilidade de um sistema”. Por essa razão, “para ser legítimo, um sistema científico terá que ser validado “através do recurso a provas empíricas, em sentido negativo: deve ser possível refutar, pela experiência, um sistema científico empírico” (p. 42) (12). Em resumo, o método hipotético-dedutivo caracteriza-se pela busca da informação por meio do experimento que se torna verdadeiro se não for falseado, permitindo acúmulo do conhecimento e previsibilidade por meio da ciência. Elaborei, para mostrar a importância da técnica (e da linguagem matemática) sobre o pesquisador, a seguinte representação: Sujeito < Objeto, mostrando que o sujeito se torna menos significativo que a abordagem do objeto, que dependia, também, das convenções elaboradas socialmente, como as medidas, as descrições e a forma de apresentação dos resultados. O método analítico-dialético tem suas raízes na dialética de Aristóteles, que descobriu que o ser humano tem imaginação e que, invertendo as preocupações socráticas e platônicas (debruçados nas formas eternas ou nas ideias, afastando-se do mundo dos sentidos, para quem as ideias eram mais reais que os fenômenos naturais), deu ênfase no conhecimento empírico por meio da especulação da natureza. Seus ensinamentos eram peripatéticos e, ao invés de professar que o conhecimento era inato e seria necessário, por meio da linguagem, que a pessoa falasse para dar à luz seu próprio conhecimento (um dos atributos de sua alma), Aristóteles partia da observação, classificação, comparação e análise para elucidar o que era conhecimento; ele deu força aos sentidos para produzir conhecimento. Como afirmou Gaarder (1995), a realidade é composta, pela ótica aristotélica, “por diferentes coisas que, tomadas separadamente, são elas próprias compostas de forma e de matéria” (p.126-130). Hegel faz uma releitura de Aristóteles, trazendo para o plano das ideias sua dialética que, mais tarde, tem leitura revertida por Marx e Engels, que a utilizam para explicar o desenvolvimento da sociedade sob a ótica do materialismo histórico. A dialética é retomada com a ideia de confronto de ideias que se interpenetram, fazendo com que as negações não sejam antinomias mas aspectos que se complementam, levando em conta a historicidade do mundo e a possibilidade de, no processo de conhecimento, buscar-se sempre elevar seu patamar de abstração a um nível mais amplo e com maior compreensão. As leis da dialética estão aí expostas de maneira simplificada. Os sentidos são fundamentais para a produção do conhecimento porque todo conhecimento é humano. Esse embate histórico levou a uma classificação das divergências: Hegel permaneceu com a dialética idealista e os estudos de Marx e Engels e todos aqueles decorrentes de suas proposições, ficaram conhecidos como da dialética materialista (baseada no pressuposto de que a matéria vem antes da ideia porque esta é decorrente daquela e não o oposto, como professava Engels). Em resumo, repetimos o que afirmou Lencioni (1999): “Karl Marx e Friedrich Engels conceberam o método materialista dialético, que contém os princípios da interação universal, do movimento universal, da unidade dos contraditórios, do desenvolvimento em espiral e da transformação da quantidade em qualidade” (p. 159). O conceito de práxis torna-se fundamental para o entendimento da dialética como método. A representação que elaborei para representar a relação sujeito e objeto é a seguinte: Sujeito > < objeto. Esta alegoria mostra a relação dialética entre aquele que produz conhecimento e aquilo que é estudado. Nessa relação, sujeito e objeto se transformam mutuamente, no tempo, a partir do momento que interagem no processo de produção do conhecimento. Mas utilizar o método não é tarefa fácil nem é resultante de um receituário que se encontra na universidade. O uso do método é complexo porque ele ocorre, plenamente, quando se torna o caminho para a investigação científica em toda sua plenitude. Frigotto (1989), por exemplo, enuncia alguns pontos que merecem atenção na pesquisa em ciências sociais no meio universitário: - “há uma tendência de tomar o ‘método’ como um conjunto de estratégias, técnicas, instrumentos; - “a teoria, as categorias de análise, o referencial teórico, por outro lado, aparecem como uma camisa-de-força; - “a falsa contraposição entre qualidade e quantidade” é resultado de “uma leitura empiricista da realidade e a realidade empírica”; - é preciso pensar na dimensão do sentido “necessário” e “prático das investigações que se fazem nas faculdades, centros de mestrado e doutorado” (p. 83). O terceiro método (não em termos hierárquicos, mas apenas numa sequência aleatória) é o fenomenológico-hermenêutico. Para mim, é o método de mais difícil apreensão pelos pesquisadores porque ele depende, em primeiro lugar, da exposição das ideias elaboradas na pesquisa por meio da linguagem (composta, complexa e compósita) que não é, necessariamente, um meio de fácil transmissão do conhecimento (o senso comum e o conhecimento religioso podem mutilar o conhecimento científico e filosófico, por exemplo). Ele foi proposto, sob a denominação de fenomenologia, por Husserl que fazia a crítica a toda razão especulativa e idealista. Nestas duas denominações, ele criticava o materialismo histórico por sua forte componente ideológica (porque os escritos de Marx e Engels engendraram revoltas e movimentos de reação dos não proprietários do capital contra os proprietários do capital) e o idealismo por ser apenas o respaldo de ideias que não tinham fundamento científico. Nunes (1989) afirma que “o projeto fenomenológico se define como uma ‘volta às coisas mesmas’, isto é, aos fenômenos, aquilo que aparece à consciência, que se dá como seu objeto intencional”. Neste ponto, destaco um elemento fundamental para o método fenomenológico-hermenêutico: o conceito de intencionalidade. Esse conceito “ocupa um lugar central na fenomenologia, definindo a própria consciência como intencional, como voltada para o mundo” (p. 88). Então: considerando a intencionalidade do cientista, para Husserl, a fenomenologia seria o meio de superar a oposição entre realismo e idealismo. É o modo de ser do eu-pensante que deveria ser revelado. A observação, a descrição e a organização das ideias tornam-se os passos metodológicos para esse método. Além disso, a realidade se revelava por meio da redução fenomenológica. Essa estratégia metodológica significa incorporar a experiência do sujeito na produção do conhecimento, na sua relação com o objeto, o que se torna autêntico nessa visão. O mundo é o objetivo e a apreensão dele se faz por meio do pensamento, ou seja, na redução fenomenológica. Mesmo assim, ainda, o mundo é uma abstração. Por isso, esse método se torna útil para os estudos de grupos sociais, com estratégias como a vivência do objeto, a pesquisa-ação, do inter-relacionamento entre sujeito e objeto que, cada um a seu modo, são constituídos por sua própria realidade. O cientista apreende a realidade, portanto, pensando alguma coisa. A figura do pesquisador executa a redução do fenômeno para sua abordagem. Uma crítica que se faz a esse método é a força da explicação científica. Como é por meio da linguagem que se transmite o conhecimento, como se convence um outro de que o que se expõe é realmente científico? A alegoria a esse método é a seguinte: Sujeito > objeto. Ela significa a redução fenomenológica e a supremacia do sujeito em relação ao objeto porque este é apreendido a partir da abstração daquele. Em defesa desse método, comecei a ver, há alguns anos, o crescimento do seu uso (mesmo que, em muitos casos, de maneira simplificada e reducionista) na valorização da pesquisa qualitativa. Nos tempos que podem ser classificados de pós-modernos, quando as grandes narrativas perdem força (embora não desapareçam), as miradas às pessoas, com o fortalecimento da Psicologia e da Filosofia em seus aspectos especulativos, fazem com que a proximidade entre sujeito e objeto e os estudos em escalas locais, de grupos sociais, da pessoa em si, das percepções sociais e outras questões postas em pauta, podem ser a explicação para esse fortalecimento. Talvez eu tenha que, a partir disso, repensar e revisitar o conceito de horizonte geográfico que, na minha dissertação, elaborei na interface com a Psicologia. Acredito que outra contribuição que eu trouxe para a geografia foi a necessidade de se ter cuidado com a utilização das palavras conceito e categoria. Não foi resultado das leituras geográficas, mas da interface com a Filosofia. Sobre o conceito, embora eu tenha estudado várias contribuições, foi em Deleuze e Guattari (1992) que encontrei a definição suficiente para ele: “não há conceito simples” porque ele contém algumas características: - “todo conceito tem componentes e se define por eles”, - “todo conceito tem um contorno irregular”, - o conceito é questão de articulação, corte e superposição, é um todo, porque totaliza seus componentes, mas um todo fragmentário”. Além de tudo, “todo conceito remete a um problema”, e os problemas exigem “soluções” pois “são decorrentes da pluralidade dos sujeitos, sua relação, de sua apresentação recíproca” (p. 27-28). Aí estava o suficiente para mostrar a importância, a dimensão e a necessidade de se olhar o conceito como ele é cientificamente, diferenciando-o da ideia e da noção. Diferentemente da categoria, o conceito é uma noção abstrata ou ideia geral, resultado do intelecto humano. Em outras palavras, o conceito não é algo que sempre existiu, mas é construção por meio da especulação científica ou filosófica que se torna um elemento explicativo contido em uma teoria. A categoria, por outro lado, é a essência ideal da realidade. Ela existe independentemente da produção científica. Ela é componente que não depende do pensamento para existir. Ela está na unidade do método e do discurso. Aristóteles elencou dez categorias (sem as quais não se compreenderia a realidade): sujeito (substância ou essência), quantidade, qualidade, relação, tempo, lugar, situação, ação, paixão e possessão. Kant elaborou um quadro com 16 categorias que se inter-relacionam em todas as direções e sentidos, complementando-se e se negando. Cheptulin (1982, p. 258) afirma que a dialética tem as seguintes categorias: matéria e consciência, singular, particular e universal, qualidade e quantidade, causa e efeito, necessário e contingente, conteúdo e forma, essência e fenômeno, espaço e tempo. Observe-se que, com exceção da relação entre singular e universal, as categorias aparecem como pares dialéticos. Nesta lista, há quatro categorias “bem geográficas”: espaço e tempo, conteúdo e forma que, como elementos básicos da realidade, conformaram a proposta de método de Milton Santos (1985): o método seria ancorado nas categorias processo e conteúdo, forma e função. À categoria e ao conceito juntam-se, no debate dos métodos, lei, teoria, doutrina e ideologia. Não vou discorrer sobre esses elementos do método neste texto. Deixo ao leitor a consulta ao livro Geografia e Filosofia (v. referências). Para completar a análise do método, quero enfatizar uma mudança paradigmática fundamental que ocorreu, grosso modo, na ebulição do Renascimento europeu. A preocupação, quando do domínio da razão religiosa na Idade Média era explicar por que o mundo existe. Sua origem divina, negando a ideia de caos (a primeira divindade) de Hesíodo, cujas bases para entendimento do mundo era a natureza, como ela se apresentava aos sentidos, engessou a capacidade humana de ir além da obediência e da oração. Quando a pergunta se transforma em como (Como o mundo funciona? Qual a mecânica do universo e como ela pode ser apreendida pela razão?), a revolução no pensamento humano e, portanto, o lançamento das bases da ciência moderna estava dado. A dessacralização do corpo humano (estudos de anatomia humana, descoberta da lógica da corrente sanguínea etc.); a descoberta da perspectiva; a elaboração das leis da mecânica celeste; a descoberta da gravidade universal; a invenção da caravela acelerando as navegações para mares nunca dantes navegados; o uso da pólvora, inventada pelos chineses; a invenção da imprensa, que permitiu a divulgação dos escritos em sua forma original para todas as pessoas, diminuindo a importância da transmissão seletiva ou oral do conhecimento, entre tantos outros fenômenos consideráveis, foram fundamentais para revolucionar o pensamento científico, as artes, a educação, enfim, a visão de mundo se transformou radicalmente. É importante essa constatação: a mudança de uma pergunta (aqui, mostrada de maneira bem simplificada) provocou a mudança de paradigma e isso provocou uma revolução na forma da humanidade pensar e de produzir conhecimento. Esse fenômeno não pode ser negligenciado por aqueles que pensam a ciência, mesmo que pelos prismas da Geografia. CONSIDERAÇÕES FINAIS Não quero concluir com ideias definitivas. Desde o primeiro parágrafo minha intenção foi abrir o diálogo com o leitor para a releitura de um exemplo (ou uma possibilidade) de produção do conhecimento geográfico intermediado pela inter e pela transdisciplinaridade, retirando a Geografia e o método científico de seus grilhões disciplinares. Mesmo assim, ficou claro que, desde o primeiro texto, ainda nos tempos da graduação em Geografia, teve como principal preocupação a cidade. Desde a cidade pequena, objeto no mestrado à cidade média, no doutorado, outros projetos (muitos trabalhados coletivamente) tiveram esse recorte da realidade brasileira como foco principal. Uma vez na interface com a Psicologia, outra com a Economia Política, aspectos da Demografia permeando vários trabalhos, a Filosofia entrando em cena na livre docência e na prova didática do concurso de titular, eis a cidade presente nas minhas preocupações. Ela veio, ficou e ainda continua ali, no horizonte próximo. Para terminar, quero registrar que, como nosso ambiente de trabalho é a universidade e o laboratório da Geografia é o mundo, a linha interpretativa que segui, neste texto, mostrou a multiplicidade de possibilidades de se produzir ideias, realizar análises, esboçar explicações, propor delineamentos teóricos e, acima de tudo, contribuir com a interpretação do mundo. REFERÊNCIAS CHEPTULIN, Alexander. A dialética materialista: categorias e leis da dialética. São Paulo: Alfa-Ômega, 1982. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é Filosofia? São Paulo: 34, 1992. FRIGOTTO, Gaudêncio. O enfoque da dialética materislista histórica na pesquisa educacional. In: FAZENDA, Ivani (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 1989. p. 69-90. JARAMILLO, Samuel. El precio del suelo y la naturalez da sus componentes. Bogotá, 1982 (mimeog.). LEFEBVRE, Henri. Lógica formal/lógica dialética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983. LEWIN, Kurt. La teoria del campo em la ciencia social. Barcelona: Paidós, 1968. NUNES, César A. Aprendendo Filosofia. Campinas: Papirus, 1989. REBOUR, Thiery. La théorie du rachat: Géographie, Économie, Histoire. Paris: Publications de la Sorbonne, 2000. SANTOS, Milton. Espaço & método. São Paulo: Nobel, 1985. SPOSITO, Eliseu S. Espaço. In: SPOSITO, Eliseu S. (org.). Glossário de Geografia Humana e Econômica. São Paulo: Editora Unesp, 2018, p. SPOSITO, Eliseu S. Geografia e Filosofia. São Paulo: Editora Unesp, 2004. SPOSITO, Eliseu S. Migração e permanência das pessoas nas cidades pequenas. Os casos de Pirapozinho e Álvares Machado na Alta Sorocabana. USP/FFLCH, 1984 (Dissertação de Mestrado). SPOSITO, Eliseu S. Produção e apropriação da renda fundiária urbana em Presidente Prudente. São Paulo: USP/FFLCH, 1990 (Tese de Doutorado). TOPALOV, Christian. Le profit, la rente et la ville. Élements de théorie. Paris: Economica, 1984. NOTAS 1 - Quem viu o filme Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, vai ter uma imagem muito parecida – anos 1960 – àquela que eu vivi em relação ao Cine Vera Cruz. 2 Este texto, em vários trechos, oscila da primeira pessoa do singular para a primeira do plural, dependendo da necessidade de se narrar fatos individuais ou coletivos 3 - Esta frase é referência à melhor música de todos os tempos, para mim, é C’era um ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, de Migliacci e Zambrini, cantada por Gianni Morandi. Em português, foi gravada pelos Incríveis e Engenheiros do Hawai. Ela reúne a revolta com a guerra do Vietnã, o romantismo nômade dos anos 1960 e o sonho de liberdade que moveu a juventude ocidental nessa época. 4 - O conceito de espaço vital de Kurt Lewin não tem nada a ver com o conceito de espaço vital de Friedrich Ratzel. 5 - Inseri, no texto, algumas informações quantitativas que podem ser observadas, com maiores detalhes, em meu CV Lattes, disponível na página do CNPq. 6 - O GAsPERR está cadastrado na Plataforma dos Grupos de Pesquisa do CNPq e na Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UNESP 7 Transcrevo, aqui, texto publicado na revista Entre-Lugares, da UFGD – Dourados. A referência é: SPOSITO, Eliseu S. As Geografias que me fizeram. Revista Entre-Lugar (UFGD. Impresso), v. 10, p. 13-37, 2020. Acredito que o texto mostra, de maneira bem clara, como fui lendo a realidade e utilizando diferentes teorias. 8 SPOSITO, Eliseu S. Geografia e Filosofia. São Paulo: Editora UNESP, 2004. 9 SPOSITO, Eliseu S. Espaço. In: SPOSITO, Eliseu S. Glossário de Geografia Urbana e Econômica. São Paulo: Editora UNESP, 2018, p. 171-186. 10 SPOSITO, Eliseu S. População urbana e rural em São Paulo. Anais. 7º. Congresso Brasileiro de Cartografia. São Paulo, 1975, p. 367-446. 11 SANTOS, Milton. Espaço & método. São Paulo: Nobel, 1985 12 Aqui, utilizo o texto que escrevi com as citações de Popper DIRCE MARIA ANTUNES SUERTEGARAY Biografia de Dirce Maria Antunes Suertegaray 1 DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO TEÓRICO Eu, Dirce Maria Antunes Suertegaray, sou filha primogênita de José Luiz Gorostides Suertegaray e de Clori Antunes Suertegaray (Figura 1), tendo uma irmã, Mara Regina Suertegaray Ardais. Sou divorciada e tenho uma filha, Maíra Suertegaray Rossato, e dois filhos, André Luiz Suertegaray Rossato e Rafael Suertegaray Rossato. Nasci na região da Campanha do Rio Grande do Sul. O município em que nasci – Quaraí ‒, localiza-se na fronteira com o Uruguai. Sou fronteiriça, nascida nas “barrancas” do rio Quaraí, que faz a fronteira do Rio Grande do Sul com o Departamento de Artigas, no Uruguai (Figuras 2 e 3). Eu sou filha de um comerciante, ainda que tenha nascido no campo. Meu pai possuía, lá onde nasci, um armazém de secos e de molhados (uma “venda”, no linguajar popular), que comercializava alimentos (arroz, açúcar, farinha, feijão, erva-mate), fumo de corda, cachaça, salame, vinho, doces, tecidos em geral, homeopatias, alparcatas, abajures, armarinhos e muitas outras coisas. Vivi nesse lugar, até os oito anos. Era o lugar das antigas charqueadas. A região em que nasci, no município de Quaraí, se chama Saladeiro, palavra espanhola que designa charqueada. Ali, existiam dois grandes saladeiros, o São Carlos e o Novo São Carlos. Ambos produziam, da carne, o charque, que era vendido para o Uruguai. Estes saladeiros pararam suas atividades, nos anos 1930. Depois, fomos, minha família (pai, mãe e irmã) e eu, morar na cidade de Quaraí e, passado um tempo, morei dois anos em Artigas, no Uruguai. Cursei o primário e o ginásio em Quaraí (Figuras 4 e 5); sempre, em escola pública. No Ensino Médio ‒ considerando que Quaraí é uma cidade bastante pequena, que, hoje, tem em torno de 23 mil habitantes e que está regredindo, em termos de população, segundo o censo do IBGE –, deixei a cidade, com 15 anos, para estudar. Naquela época, poderia escolher entre as modalidades Científico, Clássico e Normal. Optei por cursar a Escola Normal. Cursei um ano e meio de Escola Normal, em Uruguaiana, na Escola Elisa Ferrari Valls. Como desejava continuar estudando e fazer um curso superior, o único caminho seria ir para outra cidade. Mudei-me para Santa Maria, aos 16 anos, e, lá, conclui a Escola Normal, no Instituto Olavo Bilac (Figura 6). Em 1969, prestei vestibular para o curso de Geografia da Universidade Federal de Santa Maria. À época, só existia o curso de Licenciatura em Geografia. Formei-me e me dediquei à profissão de professora, e nunca fiz o curso de Bacharelado. Portanto, eu não sou Bacharel em Geografia, mas, sim, professora de Geografia (Figura 7). Esses foram os anos 1950 e 1960 e o início dos anos 1970. Na década de 1950, vivi praticamente no campo e, nesse tempo, minha vida de criança foi brincar com o que o lugar oferecia, incluindo tomar banhos de rio, montar fazendinhas de gado com ossos, andar de balanço rústico (feito de corda e com assento de pelego) e escalar as ruinas do saladeiro, que compunham o pátio de minha casa, entre outras brincadeiras. Na década de 1960, vivi em Quaraí e, em parte, na cidade de Artigas, no Uruguai. No início dessa década, iniciava o Ginásio e, além de estudar, vivia os inícios da adolescência e da vida política estudantil. Durante os anos 1960, vivi a inauguração de Brasília; a vitória eleitoral de Jânio Quadros (o vassourinha) e de João Goulart, presidente e vice-presidente do Brasil, respectivamente; a renúncia do Jânio Quadros; o impedimento do vice João Goulart de assumir a presidência; o movimento denominado Legalidade (de 1961), cuja liderança foi de Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, que desencadeou uma resistência, garantindo a posse de Jango (João Goulart) na presidência da República; o golpe militar de 1964 e a Ditadura Militar. Em 1969, ingressava na UFSM, sob o Ato Institucional nº 5, aprovado em dezembro de 1968 pelo governo Médici, dando início aos chamados anos de chumbo. Também nessa década, joguei vôlei, dancei, fiz carnaval, viajei e tive muitos amigos em Quaraí, no Brasil, e em Artigas, no Uruguai. Assisti à peça de teatro Hair, em São Paulo, ouvi os Beatles e os Rollings Stones, ouvi bossa nova, assisti aos surgimentos da MPB e da Tropicália, à luta contra o racismo, ao avanço do feminismo, ao movimento contra a guerra do Vietnã, ao maio de 1968, à chegada do homem à Lua, entre tantos outros acontecimentos. Os anos 1970 iniciaram sombrios, com projetos de mudanças na universidade, com a implantação dos acordos MEC-Usaid, com a reforma universitária, com a reforma dos ensinos Fundamental e Médio, com perseguições, com prisões, com torturas e com exílios. Havia desaparecidos no Brasil, no Uruguai, na Argentina, e havia o amigo uruguaio, preso, que não voltou... Mas a década de 1970 também acompanhou minha formatura no curso de Geografia, meu primeiro emprego como professora, no Colégio Santa Maria, meu início de carreira no ensino superior, na FIDENE-Unijuí, meu curso de mestrado, na USP, e meu regresso à Santa Maria, como professora colaboradora da UFSM (1978). 2 A ESCOLHA PELA GEOGRAFIA No pior período da Ditadura Militar, cursei Geografia na Universidade Federal de Santa Maria. E, lá, nada, absolutamente, se ouvia falar sobre o que vivíamos. O curso de Geografia, no qual me formei, ensinava uma Geografia descritiva, banal, digamos, sem nenhuma discussão, sem construção política e/ou sem engajamento social. No final do meu curso, ao redor de 1972, começaram a emergir algumas discussões, por conta da reorganização dos diretórios acadêmicos, no sentido de revigorar a política. Além disso, participei no MUSM (Movimento Universitário de Santa Maria), em que se discutia política, entremeada pelo cristianismo (os coordenadores eram dois padres católicos, professores universitários do curso de Filosofia). As disciplinas fortes do curso, que nos permitiam ampliar o conhecimento, eram: geomorfologia, geologia, pedologia, climatologia, biogeografia e mineralogia. Ou seja, o “forte” da UFSM era a Geografia Física. Entre elas, meu interesse foi sendo direcionado para a Geomorfologia, ministrada pelo brilhante professor Ivo Lauro Müller Filho, cujas aulas, sem dúvida, estimulavam a todos, a partir de suas atividades de campo, de seu conhecimento e, sobretudo, de suas aulas, ilustradas com desenhos, com croquis, com perfis, que nos permitiam compreender melhor as formas, os processos e as estruturas e suas transformações, no âmbito da Geografia. Seus desenhos expressavam sequencialmente a temporalidade. Nesse contexto, minha opção, sem a menor dúvida, foi pela Geomorfologia. Entre a escolha pela Geomorfologia e o prosseguimento dos estudos, cabe dizer que, seis meses depois de formada, fui contratada pela atual Unijuí (antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí (FIDENE), para ensinar Cartografia no curso de Geografia. Trabalhei num departamento interdisciplinar (de Ciências Sociais). Nele, trabalhavam o Frei Mathias (Mário Osório Marques), Dinarte Belatto, Helena Callai, Jaime Callai, Danilo Lazarotto, José Miguel Rasia, entre tantos outros nomes. Constituía-se um departamento vinculado à FFLCH, com professores atuantes em várias áreas, como Educação, Filosofia, Economia, Antropologia, História, Geografia, Sociologia, Estatística. Esse grupo era muito jovem, à época, com maioria na faixa dos 22 aos 30 anos. Era um grupo que estudava. Ao chegar lá, eu era uma página em branco, do ponto de vista da discussão dos teóricos das humanidades e da leitura da realidade social. A instituição tinha uma postura crítica, frente à realidade brasileira, além de um trabalho comunitário como base educacional. Nas reuniões de departamento, os professores selecionavam textos clássicos da Filosofia, da Antropologia, da Sociologia e esses textos eram lidos e discutidos, coletivamente. Este espaço foi a minha segunda universidade. Com estes colegas, li Kant, Conte, Weber, Marx e Engels, entre tantos outros, que começaram a modificar minha maneira de ver o mundo. Na FIDENE, entrei em crise com minha opção pela Geomorfologia. Já estávamos na metade dos anos 1970 e comecei a me questionar, se deveria prosseguir o meu caminho, anteriormente definido, e vir a ser uma geomorfóloga, ou se deveria abandonar tudo e seguir na Geografia Humana. Isso perdurou pelo tempo em que fiquei na FIDENE. Entretanto, como trabalhava com a Geografia Física, a FIDENE, que tinha uma política de aperfeiçoamento pessoal, possibilitou-me o acesso ao mestrado, mas na área da Geografia Física, que era a demanda da instituição. Assim, retomo meu interesse pela Geomorfologia e me licencio da instituição, para fazer o mestrado. Ainda que a dissertação tenha ficado na gaveta, ou na prateleira, tratava da questão da erosão do solo, em decorrência da ocupação das encostas do planalto Meridional do Rio Grande do Sul, em zonas de pequenas propriedades, de colonização italiana e/ou alemã. Fiz essa leitura, a partir do limite de uma bacia hidrográfica, na escarpa, mais a oeste do planalto, que converge para a Depressão Central ‒ a bacia do rio Toropi. Neste trabalho, já ficava explícito meu interesse pela articulação entre natureza e sociedade. A análise foi pautada pelas formas, com que os colonos trabalhavam a terra, sob forte estímulo de incentivos fiscais, visando à expansão da cultura da soja, processo que promovia, devido às dimensões de suas propriedades e à necessidade de obterem maior renda, o desmatamento de suas pequenas parcelas, cuja localização em lugares íngremes favorecia à erosão. 3 - OS ANOS 1980, 1990 E 2000... Nos anos 1980, assumo, na UFSM, como professora efetiva, permanecendo, concomitantemente, até 1982, como professora horista, na FIDENE. Concluo o mestrado na USP, em 1981. Casada, nessa época, meu marido cursava Medicina Veterinária na UFSM e, ao se formar, vem trabalhar em Porto Alegre. Em 1983, solicito afastamento da UFSM, para realizar o doutorado na USP e, em 1985, sou transferida para a UFRGS, sob a legislação que facultava o acompanhamento do cônjuge. Nessa década, intensificam-se minhas atuações profissional e política. Participo da AGB local da secção Porto Alegre, atuando como secretária em uma gestão e como diretora, em outra, e início a participação nas gestões coletivas da AGB nacional. Da mesma forma, participo do movimento docente, junto à ADURGS, enquanto representante do Instituto de Geociências da UFRGS. Penso que estas duas participações, na AGB-POA e na ADURGS, foram fundamentais, para ampliar minha atuação política, fazendo com que, na continuidade, tomasse parte em três diretorias nacionais da AGB (uma, como secretária; outra, como Vice-Presidenta; e uma última, como Presidenta), enquanto, internamente, na UFRGS, estivesse ocupado, entre outros cargos, a Vice-Direção do Instituto de Geociências. Merece ser citado, ainda, o envolvimento com a discussão ambiental em Porto Alegre, emergente, nessa década, sobretudo, na ampliação do debate com a população porto-alegrense, a partir de uma pesquisa construída por mim, em parceria com João Osvaldo R. Nunes (bolsista de Iniciação Científica, à época), e da discussão e dos encaminhamentos, relativos aos cursos de Licenciatura e de Estudos Sociais. Ainda nessa década, em 1988, concluo o curso de doutorado. Também nos anos 1980, além das atividades profissionais, tive minha filha (em 1978) e meus filhos (em 1981 e em 1985). Ainda em 1988, fui chamada a compor chapa na eleição da AGB, como segunda secretária, na gestão de Arlete Moysés Rodrigues. A gestão se encerrou, em 1990, no Encontro de Salvador da AGB. Em 1992, fui chamada, já ao final da assembleia, para assumir o cargo de Vice-Diretora na gestão do Zeno Crossetti. Ao finalizar a gestão, em 1994, considerei cumprida a minha missão, junto à AGB. No início da década de 1990, o casamento se desfaz e, por necessidade familiar, tomei a decisão de me afastar do envolvimento na AGB, ainda que permanecesse com cargos administrativos na UFRGS (na Vice-Direção do Instituto de Geociências, na coordenação da Graduação e na chefia de departamento), além de continuar com participações em fóruns, em câmaras e em comissões internas. Retorno à AGB no Encontro de Florianópolis (2000), pois, nesse momento, estava sem nenhum compromisso/cargo acadêmico e meus filhos já estavam crescidos e iam, gradativamente, tornando-se independentes. Chamada por Carlos Walter Porto-Gonçalves e por Bernardo Mançano Fernandes para uma reunião política, saio da reunião de Florianópolis como candidata à presidência da AGB-DEN. Eleita, assumo mais dois anos na AGB (2000/2002), agora, como Presidenta. Ao encerrar a gestão na presidência da AGB, fui convidada pelo colega Maurício de Abreu para compor a comissão de avaliação da CAPES. Num primeiro momento, relutei em aceitar, mas fui convencida por Maurício, quanto à importância de participar em comissões dessas instâncias. Aceito o convite e permaneço atuando na CAPES entre 2002 e 2004, como membro da Comissão, e entre 2005 e 2007, como coordenadora de área, juntamente com o colega Ariovaldo Umbelino de Oliveira, coordenador-adjunto. Atuando, desde 1985, como professora de Geografia na UFRGS, crio, coletivamente, nos anos de 1990 e de 2000, juntamente com os colegas Álvaro Heidrich, Nelson Rego, Roberto Verdum, Rosa Medeiros, entre outros, o curso noturno de Geografia (1993), o curso de mestrado em Geografia (1998) e o curso de doutorado em Geografia (2004). Do projeto inicial do mestrado participaram os colegas externos Helena Callai, José Vicente Tavares, entre outros. A pesquisa foi se desenvolvendo, sempre, com a participação de alunos da graduação (IC) e de orientandos da pós-graduação e através de projetos, como o do Grupo Arenização/desertificação: questões ambientais, criado e registrado no CNPq, em 1989, a partir de parceria com os colegas Roberto Verdum e Laurindo Antônio Guasselli. 4 APÓS OS ANOS 2010... Assumo a coordenação do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFRGS, praticamente, ao final de minha carreira ativa na Universidade, ou seja, na véspera de obter minha aposentadoria (2010-2011). Em 2012, aposento-me, embora permaneça ligada ao POSGea-UFRGS. Nessa década, o Núcleo de Estudos em Geografia e Ambiente (NEGA), criado em 2003, já se constituía num espaço ativo na pesquisa, no ensino e na extensão. Esta experiência permitiu a parceria dos pesquisadores do NEGA, alunos e professores, com os gestores do ICMbio e com os ribeirinhos da Floresta Nacional de Tefé (FLONA de Tefé). O objetivo desta parceria era de produzir mapas básicos da FLONA, o mapa de uso da terra (participativo) e dar acompanhamento às reuniões e ao Conselho, com vistas à elaboração do Plano de Manejo dessa Unidade de Conservação. Esta experiência foi ímpar, por nos aproximar da realidade Amazônica, por permitir produzir conhecimento de forma participativa, por integrar conhecimentos, via discussão interdisciplinar, por promover a troca de saberes entre ribeirinhos e acadêmicos, por terem sido produzidos, além dos mapas previstos, textos com finalidade didática sobre a FLONA, além do Atlas Escolar da FLONA, uma demanda dos ribeirinhos no processo de mapeamento participativo e nas reuniões de encaminhamento de sugestões de continuidade. Encerrada essa etapa, outra oportunidade se abriu: tratava-se do edital para professor visitante da UFPB (2018). Tendo sido aprovada, passei dois anos vinculada ao PPGG dessa Universidade. O interesse em participar desse edital dizia respeito à possibilidade de me afastar do local de origem, a UFRGS, objetivando viver outras experiências profissionais, sobretudo, no Nordeste brasileiro, para que pudesse conhecer essa região e, em particular, os Cariris e o Sertão, através das atividades de campo e das pesquisas interdisciplinares planejadas para esses dois anos, além de estabelecer parcerias internacionais. Esta experiência propiciou um conhecimento ampliado do território brasileiro e um aporte de conhecimentos, estabelecido a partir de parcerias com Portugal, através do Centro de Estudos Ibéricos (CEI) e da Universidade de Coimbra (Coimbra e Salamanca), e com Espanha, por meio da Universidade de Sevilha, além de um indescritível acolhimento, por parte dos colegas da UFPB, o que me faz permanecer vinculada ao programa de Geografia da Universidade por mais algum tempo. As atividades relatadas foram realizadas, graças ao acolhimento dos colegas da Geografia da Paraíba, vinculados ao PPGG da UEPB, da UFRN, entre outros parceiros. 5 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA A GEOGRAFIA BRASILEIRA 5.1 Datas e locais de constituição da carreira na Geografia Formada no curso de Licenciatura em Geografia da UFSM, em 1972, o início da carreira universitária se deu na faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFI) de Ijuí, da antiga FIDENE (atual Unijuí), vinculada à Ordem dos Capuchinhos e pioneira no ensino superior, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, na qual trabalhei de 1973 a 1982. Concomitante com a FAFI, exerci atividades acadêmicas na UFSM entre 1978 e 1985. Finalmente, transferi-me para a UFRGS, em 1985, onde permaneci, até 2012, quando me aposentei. Ao longo desse período, fiz o mestrado, concluído em 1981, e fiz o doutorado, completado em 1988, ambos na USP. 5.2 A pesquisa A pesquisa de maior expressão e reconhecimento diz respeito ao tema desenvolvido, durante a tese: o estudo dos areais no sudoeste do RS. À época, estes eram denominados desertos, devido à efervescência da discussão ecológica no estado. Tal tornou-se relevante, pois constituiu a primeira interpretação de maior rigor, em relação à presença desses areais, sobretudo, em relação à explicação geomorfológica e à interface da natureza com a sociedade. No âmbito desta pesquisa, construí o conceito de arenização, como síntese explicativa dos processos que originavam os areais. Tratou-se de um tema inédito e, sobretudo, controverso, uma vez que questionava, a partir de parâmetros climáticos, o uso dos termos deserto e desertificação, relativamente a este processo, além de demonstrar que os areais, na origem, não eram provocados pela “ação antrópica”, como era dito. Entretanto, tratando-se de uma paisagem natural e frágil, tais processos de erosão poderiam ser intensificados. Este tema avançou em diferentes campos disciplinares, a partir da tese, configurando um processo de investigação, que se consolidou, com a criação do Grupo de Pesquisa Arenização/desertificação: questões ambientais - CNPq. Deste grupo participam, além desta pesquisadora, os professores Roberto Verdum e Laurindo Antônio Guasselli, que, através de projetos coletivos do grupo ou de orientações individuais de IC, de mestrado e de doutorado, avançaram na compreensão deste processo e na verticalização de estudos em diferentes campos científicos. A discussão, relativa aos conceitos de arenização e/ou de desertificação, foi levada à esfera social, seja por entrevistas, como reportagens veiculadas na televisão, seja por debates com os movimentos sociais, sobretudo, com o MST/Mulheres Campesinas (Via Campesina), seja por debates na Assembleia Legislativa do Estado ou junto ao movimento ambientalista, seja por diálogos com os ministérios do Meio Ambiente (MMA) do Brasil e, também, do Uruguai. Enfim, o tema se difunde nos ensinos Fundamental e Médio, pelos livros didáticos, e no Ensino Superior, através da indicação de leituras em disciplinas específicas e de pesquisas feitas em outras universidades brasileiras, balizadas pelo conceito de arenização. É também um tema reconhecido internacionalmente, em diferentes países da América Latina e nos países Ibéricos, além da França. A pesquisa sobre a arenização e a preocupação central desta pesquisadora, ao buscar uma análise de interface entre natureza e sociedade, em Geografia, vinculadas a sua dedicação ao ensino e à pesquisa no campo da Epistemologia da Geografia, desdobra-se, desde o concurso para Professora Titular na UFRGS, em reflexões teóricas, sobretudo, sobre a natureza, sobre o ambiente e sobre a Geografia. De forma mais ampliada, sob esta ótica, é feita uma reflexão sobre o ensino de Geografia. Tal ponderação é produto da pesquisa, ao longo desses mais de 40 anos envolvida com a Geografia, sobre temas que considero relevantes no contexto científico contemporâneo e que fazem parte de minhas preocupações, até então. 5.3 Parcerias de pesquisa, ao longo da carreira Falar de parcerias, ao longo da carreira, é algo de extrema complexidade. Desde que inicio as atividades como professora-pesquisadora, em Ijuí, o que fiz foi sempre em parceria, lembrando, aqui, de minha colega e amiga de Ijuí, Helena Callai, e dos demais colegas da FIDENE, aos quais fiz referência, anteriormente. Incluo nestas parcerias os colegas que, através de diálogo, estiveram presente no mestrado e no doutorado e, sobretudo, a relação com o professor Adilson Avanci de Abreu, durante a construção do doutorado. Trago, igualmente, aqueles que compõem, comigo, o Grupo de Pesquisa Arenização/Desertificação: questões ambientais, incluindo todos os orientandos, que promoveram pesquisas sobre o tema, além dos colegas já citados. Lembro do grupo do Mestrado em Sensoriamento Remoto, de cuja constituição inicial eu participei, em 2020, e a partir do qual tudo foi produzido, no âmbito dos mapeamentos e, mesmo, no levantamento de novas hipóteses de investigação, junto ao Centro Estadual de Pesquisa em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM), com a parceria de Laurindo Antônio Guasselli e de vários orientandos. Na continuidade, cabe fazer referência à expansão da pesquisa em território nacional, produzida com colegas e com orientandos de diferentes estados, como PB, GO, MT, SP, BA, CE, entre outros, seja sobre arenização, seja sobre desertificação. Destaco outra parceria com alunos da UFRGS (graduandos e pós-graduandos), quando da criação do Núcleo de Estudos de Geografia e Ambiente (NEGA), em 2003. Este núcleo surge com o objetivo de refletir sobre o conceito de ambiente, a partir da Geografia e das proposições e dos novos caminhos analíticos, que vinham sendo construídos. Os temas em pesquisa e em debate neste núcleo foram se desdobrando, na busca da defesa das justiças social e ambiental, a partir de temas, como regularização fundiária, conflitos em Unidades de Conservação, gestão de Unidades de Conservação, comunidades tradicionais, ribeirinhos, pescadores artesanais e territorialidades quilombolas, entre outros. Neste contexto, faço referência, também, à parceria feita com o ICMbio-Tefé/AM, com o objetivo de elaborar mapas básicos e, sobretudo, o mapa de uso da terra, juntamente com gestores e com ribeirinhos da FLONA de Tefé. Esta atividade foi constituída, a partir de um trabalho coletivo entre gestores da FLONA, ribeirinhos e pesquisadores do NEGA-UFRGS. Três produtos dessa parceria merecem destaque: os mapas participativos e o debate comunitário, que resultou no Plano de Manejo desta Unidade de Conservação; a elaboração de textos (de escrita coletiva) sobre a Floresta Nacional, com finalidade de subsidiar o ensino; e o Atlas Escolar da FLONA de Tefé. Torna-se difícil, neste espaço, mencionar todas as parcerias feitas, ao longo de todo esse período de vida acadêmica, mas quero frisar que todo o meu trabalho foi, sempre, em parceria, desde a pesquisa ao que foi publicado. Tal prática continua nesses anos pós-aposentadoria, através de atividades desenvolvidas com colegas da UFPB, realizadas em proximidade com Bartolomeu Israel de Souza e demais colegas da UFPB e da mesma forma colegas da UEPB, em parceria com a Universidade de Coimbra, com o Centro de Estudos Ibéricos e com a Universidade de Sevilha, na forma de pesquisas e de publicações em conjunto, merecendo destaque, também, a parceria com a pós-graduação da Universidade de Entre Rios, na Argentina, resultante de pesquisas sobre a temática de interesse comum da Cartografia Social. 5.4 Artigos e livros marcantes da carreira Em relação aos artigos, foram selecionados aqueles que são referidos com maior frequência, não necessariamente, através de índices internacionais de citações, mas, sobretudo, através de diálogos com alunos e com professores-pesquisadores de diferentes lugares do território nacional, acrescidos de publicações mais atuais sobre os temas, com os quais me envolvo. Da mesma forma, os títulos a seguir foram selecionados, considerando diferentes temas de investigação. São eles: 5.4.1 Artigos SUERTEGARAY, D. M. A. Arenização: esboço interpretativo. Wiliam Morris Davis Revista de Geomorfologia, v. 1, p. 118-144, 2020. SUERTEGARAY, D. M. A.; OLIVEIRA, M. G. Arenização, areais e políticas de ordenamento territorial. Cadernos de Geografia, Coimbra, v. 38, p. 69-76, 2018. PAULA, C. Q. de; SUERTEGARAY, D. M. A. Modernização e pesca artesanal brasileira: a expressão do 'mal limpo'. Revista Terra Livre, v. 1, n. 50, p. 97-130, 2018. SUERTEGARAY, D. M. A. Debate contemporâneo: Geografia ou Geografias? Fragmentação ou Totalização? GEOgraphia (UFF), v. 1, p. 16-23, 2017. SCELZA, G. C.; ROSSATO, R. S.; SUERTEGARAY, D. M. A.; OLIVEIRA, M. G. Plano de Manejo da Floresta Nacional de Tefé, a Gente faz junto! Biodiversidade Brasileira, v. 4, p. 69-91, 2014. SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física e Geografia Humana: Uma questão de método - um ensaio a partir da pesquisa sobre Arenização. GEOgraphia (UFF), v. 12, p. 8-29, 2010. SUERTEGARAY, D. M. A. Poética do espaço geográfico: em comemoração aos 70 anos da AGB. GEOUSP, São Paulo, v. 18, p. 9-19, 2005. ROSSATO, M. S.; BASSO, L. A.; SUERTEGARAY, D. M. A. Formação de depósitos Tecnogênicos em Barragens. O caso da Lomba do Sabão, Rio Grande do Sul. Biblio 3w, Barcelona, v. 7, n. 407, 2002. SUERTEGARAY, D. M. A. Espaço Geográfico Uno e Múltiplo. Scripta Nova, Barcelona, v. 93, 2001. SUERTEGARAY, D. M. A.; NUNES, J. O. R. A natureza da Geografia Física. Terra Livre, São Paulo, v. 17, n. 16, p. 11-24, 2001. 5.4.2 Livros e capítulos de livros Os livros selecionados expressam obras construídas como autora e, da mesma forma, como organizadora, normalmente, com parcerias de colegas e/ou de alunos do POSGea-UFRGS. São eles: SUERTEGARAY, D. M. A.; SILVA, I. A. S. (Org.). Brasil: feições arenosas. 1. ed. Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura, 2020. 158p. ROSSATO, M. S.; BATISTA, S. C.; RODRIGUES, E. L. S.; PAULA, C. Q. de; OLIVEIRA, M. G.; FONTANA, C.; SUERTEGARAY, D. M. A. Floresta Nacional de Tefé (AM): Atlas Escolar. 1. ed. Porto Alegre: Instituto de Geociências, 2020. 42p. SUERTEGARAY, D. M. A. (Re) Ligar a Geografia. 1. ed. Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura, 2017. 180p. SUERTEGARAY, D. M. A.; PIRES, C. L. Z.; PAULA, C. Q. de (Org.). O lugar Onde Moro: Geografia da FLONA de Tefé. 1. ed. Porto Alegre: IGEO/UFRGS, 2016. 124p. SUERTEGARAY, D. M. A.; PIRES, C. L. Z.; OLIVEIRA, M. G. (Org.). Geografia e Ambiente. 1. ed. Porto Alegre: Imprensa Livre/Compasso Lugar-Cultura, 2015. 249p. SUERTEGARAY, D. M. A.; ROSSATO, M. S. (Org.). Brasil Feições Ilustradas. 1. ed. Porto Alegre: Imprensa Livre/Compasso Lugar-Cultura, 2014. 120p. SUERTEGARAY, D. M. A.; GUASSELLI, L. A.; PIRES DA SILVA, L. A. (Org.). Arenização natureza socializada. 1. ed. Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura/Imprensa Livre, 2012. 600p. SUERTEGARAY, D. M. A.; ROSSATO, M. S.; BELLANCA, E. T.; FACHINELLO, A.; CÂNDIDO, L. A.; SILVA, C. R. da. Terra Feições Ilustradas. 1. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003. 263p. SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física e Geomorfologia: uma (re)leitura. 1. ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2002. 112p. SUERTEGARAY, D. M. A.; GUASSELLI, L. A.; VERDUM, R.; BASSO, L. A.; MEDEIROS, R. M. V.; MARTINS, R.; ROSSATO, M. S.; BELLANCA, E. T.; BERTÊ, A. M. A. Atlas da Arenização Sudoeste do Rio Grande do Sul. 1. ed. Porto Alegre: Governo do Estado do RS - Secretaria da Coordenação e Panejamento e Secretaria da Ciência e Tecnologia, 2001. 84p. SUERTEGARAY, D. M. A. Deserto Grande do Sul: Controvérsias. 2. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1998. 109p. 5.4.3 Capítulos de livros publicados A seleção de capítulos publicados considerou dois critérios: de um lado, a indicação de livros organizados por outros colegas e/ou por instituições da área de Geografia, com que colaborei; de outro, foram escolhidos capítulos, que abordam a pesquisa sobre Arenização, sobre Epistemologia da Geografia e sobre Educação/Ensino de Geografia, temas que se conectam, desde o início de sua carreira. São eles: SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física na Educação Básica ou o que ensinar sobre natureza em Geografia. In: Morais, E. M. B.; Alves, A. O.; Roque Ascensão, V. de O. (Org.). Contribuições da Geografia Física para o Ensino de Geografia. 1. ed. Goiânia: C & A Alfa Comunicação, 2018. v. 1. p. 13-32. FONTANA, C.; PAULA, C. Q. de; SUERTEGARAY, D. M. A. Ribeirinhos, organizações comunitárias e alimentação: FLONA de Tefé - AM, Brasil. In: AZEVEDO, A. F.; REGO, N. (Org.). Geografias e (In)visibilidades: Paisagens, Corpos, Memórias. 1. ed. Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura, 2017. p. 187-216. SUERTEGARAY, D. M. A. Geomorfologia do Rio Grande do Sul, o saber de Ab'Saber. In: MODENESI-GAUTIERI, M. C.; BARTORELL, A. I.; MANTESSOTO NETO, V.; CARNEIRO, C. dal R.; LISBOA, M. B. de A. L. (Org.). A obra de Aziz Nacib Ab'Saber. 1. ed. São Paulo: Beca BALL edições, 2010. v. 1, p. 334-352. SUERTEGARAY, D. M. A.; ROSSATO, M. S. Natureza: concepções no ensino fundamental de Geografia. In: BUITONI, M. M. S. (Org.). Geografia Ensino Fundamental. 1. ed. Brasília: Ministério da Educação - Secretaria da Educação Básica, 2010. v. 8. p. 153-168. SUERTEGARAY, D. M. A.; PIRES, L. A. Tchê Pampa: histórias da natureza gaúcha. In: PILLAR, V. de P.; MÜLLER, S. C.; CASTILHOS, Z. M. de S.; JACQUES, A. V. A. (Org.). Campus Sulinos conservação e uso sustentável da biodiversidade. 1. ed. Brasília: MMA, 2009. v. 1. p. 26-41. SUERTEGARAY, D. M. A.; VERDUM, R. Desertification in the tropics. In: UNESCO (Org.). Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Paris: UNESCO Plubishing, 2008. p. 1-17. LIMA, J. R. de; SUERTEGARAY, D. M. A.; SANTANA, M. O. Desertificação e Arenização. In: SANTOS, R. F. dos. (Org.). Vulnerabilidade Ambiental: Desastres naturais ou fenômenos induzidos. 1. ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2007. p. 1-191. SUERTEGARAY, D. M. A. Questão Ambiental: produção e subordinação da natureza. In: SILVA, J. B. da; LIMA, L. C.; DANTAS, E. W. C. (Org.). Panorama da Geografia Brasileira. 1. ed. São Paulo: Annablume, 2006. v. 2. p. 91-100. SUERTEGARAY, D. M. A. Ambiência e Pensamento Complexo: Resignifi(ação)da Geografia. In: SILVA, A. A. D. da; GALENO, A. (Org.). Geografia Ciência do Complexus. 1. ed. Porto Alegre: Sulina, 2004. p. 181-208. REGO, N.; SUERTEGARAY, D. M. A. O Ensino de Geografia como Hermenêutica Instauradora. In: REGO, N.; AIGNER, C.; PIRES, C.; LINDAU, H. (Org.). Um Pouco do Mundo Cabe nas Mãos. 1. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003. p. 1-310. SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física(?) Geografia Ambiental(?) ou Geografia e ambiente (?). In: MENDONÇA, F.; KOZEL, S. (Org.). Elementos de Epistemologia da Geografia Contemporânea. 1. ed. Curitiba: Ed. UFPR, 2002. p. 111-120. SUERTEGARAY, D. M. A. Pesquisa e Educação de Professores. In: PONTUSCHKA, N. N.; OLIVEIRA, A. U. (Org.). Geografia em perspectiva. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2002. v. 1. p. 109-114. SUERTEGARAY, D. M. A. O que ensinar em Geografia (Física)?. In: SUERTEGARAY, D. M. A.; REGO, N.; HEIDRICH, A. (Org.). Geografia e Educação Geração de Ambiências. 1. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2000. p. 97-106. SUERTEGARAY, D. M. A. Desertificação: Recuperação e Desenvolvimento Sustentável. In: GUERRA, J. A. T.; CUNHA, S. (Org.). Geomorfologia e ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. p. 249-290. SUERTEGARAY, D. M. A. A Geografia e O Ensino da Natureza. In: CALLAI, H. C. (Org.). O ensino em Estudos Sociais. 1. ed. Ijuí: Unijuí, 1991. p. 104-111. SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia: Resultado de Uma Reflexão. In: CALLAI, H. C. (Org.). O ensino em Estudos Sociais. 1. ed. Ijuí: Unijuí, 1987. p. 13-19. 6 AVANÇOS TEÓRICOS E CONTROVÉRSIAS E MAIORES CONTRIBUIÇÕES CONCEITUAIS E METODOLÓGICAS REALIZADAS A construção da análise geográfica que realizo é balizada por uma interpretação clássica e mais recorrente sobre Geografia, ou seja, é aquela que busca promover a conexão/mediação entre natureza e sociedade. Aparentemente, buscar uma construção geográfica, sob esta perspectiva, para muitos, é algo ultrapassado, pelo avanço e pela necessidade do conhecimento especializado. Independentemente da compartimentação e da posterior e expressiva fragmentação da Geografia, busquei o caminho da unidade. Essa busca se fundamentou no conceito clássico de Geografia, na questão ambiental (que, necessariamente, pressupõe articulação) e nas discussões científicas e filosóficas contemporâneas, que anunciavam, desde os anos 1970, a necessidade de superação da fragmentação, da compartimentação, vigente na ciência moderna, para que se pudesse entender a complexidade do mundo. Colocado isto e fazendo uma reflexão sobre a minha contribuição, diria que, de forma resumida, meus estudos permitiram reconhecer esses pressupostos na práxis. Ou seja, compreender a evidência de um espaço geográfico produzido de forma amalgamada com a natureza e, ao mesmo tempo, conceber que, neste processo, a natureza deixa de ser natureza-natural (original) para se transformar em segunda natureza. A continuidade da pesquisa avança na compreensão mais ampliada de segunda natureza, como esta foi demonstrada em Marx, como transformação da natureza em segunda natureza pelo trabalho humano (objetos), para ampliar esta transformação e para entendê-la como transfiguração, sobretudo, uma transfiguração do habitat ou, contemporaneamente, do ambiente humano. Isto se faz em diferentes escalas, gera significativas exploração e degradação dos ambientes de vida e promove formas de organização e de luta pelos territórios originários, tradicionais, periféricos, entre outros, por exemplo. Com base neste enunciado, cabe sistematizar as contribuições, que expressam o movimento de constituição de meu pensamento: i. Uma construção metodológica, para o entendimento dos processos de arenização, que articulou lógica formal e lógica dialética, algo reconhecido como incompatível para a minha geração, mas que, de certa forma, ainda prevalece na construção do conhecimento; ii. Na construção da tese, a explicação construída para a gênese dos areais, explicitada no conceito explicativo de arenização; iii. Uma reflexão sobre natureza, dando a esta um sentido diferente do conceito de ambiente, comumente entendido como sinônimo daquela. iv. A discussão sobre compartimentação e fragmentação no contexto geográfico, entre outros temas, a exemplo dos estudos de Geografia Física nos ensinos Fundamental e Médio. Em relação às principais controvérsias, críticas e embates sobre a produção científica realizada, registro, como uma das primeiras, a não aceitação, pela imprensa e, da mesma forma, por alguns acadêmicos, do conceito de arenização, enquanto explicação para a gênese dos areais, uma vez que esse processo vinha sendo relacionado, no Rio Grande do Sul, à desertificação. Igualmente, o caminho metodológico, construído ao longo da tese, foi criticado, durante sua apresentação para debate, na realização do doutorado, na qualificação do doutorado, seja pelos geógrafos físicos, seja pelos geógrafos humanos. Na continuidade, fui criticada, pelo meu entendimento dessa construção, enquanto um método eclético. No campo epistemológico, a grande resistência, a crítica e o embate se deram, em relação às reflexões que faço, expressando minha compreensão sobre a Geografia e, nela, fazendo a negação da Geografia Física, uma vez que considero essa partição da Geografia uma perda do sentido do geográfico e da possível explicação geográfica, conforme meu entendimento. No campo ambiental, há, também, um embate, uma vez que não utilizo o conceito socioambiental nas investigações ambientais que realizo, bem como não qualifico a Geografia que lida com essa problemática de Geografia Ambiental. Cabe, ainda, registrar o grande embate ‒ o sistemismo. O sistema foi o conceito que promoveu a busca de compreensão de uma totalidade funcional no campo científico (século XX). Ao aportar na Geografia, este parecia ser o caminho “natural” da Geografia Física e de sua unificação. No entanto, desde o doutorado, neguei o sistemismo, assumindo a totalidade dialética como inspiração metodológica. O embate é interessante, pois, enquanto alguns colegas denominaram como eclético o método que construí, outros colegas defendem, em debates comigo, que a abordagem que adoto é sistêmica. Esse é o movimento e, assim, vamos construindo o conhecimento. A ciência também necessita de democracia. 7 ELEMENTOS MARCANTES, QUE ENTRELAÇAM MINHAS VIDAS PESSOAL E INTELECTUAL Há algum tempo, respondi a uma pergunta, que abordava a forma pela qual tinha conciliado a vida familiar, enquanto mulher, e a vida profissional. Minha resposta, naquele momento (dada para a AGB-POA), é resgatada, para expressar os elementos marcantes, que entrelaçaram minhas vidas pessoal e intelectual. No meu entendimento, é preciso resgatar algo que antecede. Como já fiz referência, anteriormente, sou filha primogênita de um casal de comerciantes. Minha mãe sempre trabalhou, desde os anos 1940 (período da II Guerra Mundial), quando as mulheres começaram a ser chamadas, para ocupar determinadas funções, no caso dela, telefonista e, depois, comerciaria. À época, ela tinha apenas 16 anos e sua mãe, viúva, tinha, além dela, mais 10 filhos para criar. Meu pai, à medida que cresci, me orientou para o trabalho. Não fui educada como mulher, para ser somente esposa e mãe. Ao contrário, para meus pais, o importante era trabalhar, era ter uma profissão. O desejo deles era de que suas duas filhas tivessem formação superior. Meu pai desejava que eu estudasse para ser engenheira ou farmacêutica. Acabou aceitando que eu fosse professora. Coloco isto, para dizer que cabia a mim trabalhar. Constituir família era importante nos conselhos de minha mãe e ser profissional era prioritário nos conselhos de meu pai. Não tive escolha em ser isto ou aquilo. Casei-me, tive três filhos e trabalhei, e trabalho, o tempo todo. Aprendi que tudo isto deveria fazer parte de minha vida. Nesta trajetória, não sei se houve conciliação harmoniosa. Sempre desenvolvi todas as atividades profissionais e familiares. Não foi fácil. Em determinadas épocas, contava com o auxílio de outras pessoas. Minha mãe e meu pai, por exemplo, cuidaram dos netos muitas vezes (durante o mestrado e o doutorado). Não lutei para ser independente, nem participei de movimento feminista. Precisei ser o que sou. A única certeza que tenho é de que, às vezes, foi sobrecarregado. Meus filhos não conheceram outra mãe e parecem gostar desta. Eu não conheci outra trajetória e acredito que não teria feito, nunca, uma única opção. Como diz a música, “trabalhar é minha sina”, mas é, também, o meu prazer. Minha escolha foi a de ser professora e segui o desejo de minha mãe, que quis ser professora, mas não conseguiu. Ser engenheiro era o desejo de meu pai; também, um sonho não realizado. Nessa escolha, eu o contrariei, pois não gostava de matemática!!! Mas seu apoio, nas escolhas que fiz, foi sempre incondicional. Pai e mãe trabalhadores se entrelaçaram na minha vida, uma vez que trabalhar se fazia necessário e promovia independência, como os dois me ensinaram. Contudo, ser professora não foi apenas influência materna. O gosto por ensinar esteve sempre presente, desde a infância. Educar, ensinar, dialogar, conviver e aprender com aqueles com os quais partilhamos a sala de aula é uma experiência ímpar, a despeito de todas e das tantas dificuldades. Na trajetória da pesquisa, as escolhas temáticas se entrelaçam com as vivências, pois, desde criança, brincava nos areais. Resgatei os areais, nos anos 1980, com o advento das questões ambientais na Porto Alegre da década, para constituir tema de investigação no doutorado e adiante, até os dias de hoje. E, assim caminhamos, assim caminho. “Caminante no hay camino se hace camino al andar”... Antônio Machado
DIRCE MARIA ANTUNES SUERTEGARAY Biografia de Dirce Maria Antunes Suertegaray 1 DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO TEÓRICO Eu, Dirce Maria Antunes Suertegaray, sou filha primogênita de José Luiz Gorostides Suertegaray e de Clori Antunes Suertegaray (Figura 1), tendo uma irmã, Mara Regina Suertegaray Ardais. Sou divorciada e tenho uma filha, Maíra Suertegaray Rossato, e dois filhos, André Luiz Suertegaray Rossato e Rafael Suertegaray Rossato. Nasci na região da Campanha do Rio Grande do Sul. O município em que nasci – Quaraí ‒, localiza-se na fronteira com o Uruguai. Sou fronteiriça, nascida nas “barrancas” do rio Quaraí, que faz a fronteira do Rio Grande do Sul com o Departamento de Artigas, no Uruguai (Figuras 2 e 3). Eu sou filha de um comerciante, ainda que tenha nascido no campo. Meu pai possuía, lá onde nasci, um armazém de secos e de molhados (uma “venda”, no linguajar popular), que comercializava alimentos (arroz, açúcar, farinha, feijão, erva-mate), fumo de corda, cachaça, salame, vinho, doces, tecidos em geral, homeopatias, alparcatas, abajures, armarinhos e muitas outras coisas. Vivi nesse lugar, até os oito anos. Era o lugar das antigas charqueadas. A região em que nasci, no município de Quaraí, se chama Saladeiro, palavra espanhola que designa charqueada. Ali, existiam dois grandes saladeiros, o São Carlos e o Novo São Carlos. Ambos produziam, da carne, o charque, que era vendido para o Uruguai. Estes saladeiros pararam suas atividades, nos anos 1930. Depois, fomos, minha família (pai, mãe e irmã) e eu, morar na cidade de Quaraí e, passado um tempo, morei dois anos em Artigas, no Uruguai. Cursei o primário e o ginásio em Quaraí (Figuras 4 e 5); sempre, em escola pública. No Ensino Médio ‒ considerando que Quaraí é uma cidade bastante pequena, que, hoje, tem em torno de 23 mil habitantes e que está regredindo, em termos de população, segundo o censo do IBGE –, deixei a cidade, com 15 anos, para estudar. Naquela época, poderia escolher entre as modalidades Científico, Clássico e Normal. Optei por cursar a Escola Normal. Cursei um ano e meio de Escola Normal, em Uruguaiana, na Escola Elisa Ferrari Valls. Como desejava continuar estudando e fazer um curso superior, o único caminho seria ir para outra cidade. Mudei-me para Santa Maria, aos 16 anos, e, lá, conclui a Escola Normal, no Instituto Olavo Bilac (Figura 6). Em 1969, prestei vestibular para o curso de Geografia da Universidade Federal de Santa Maria. À época, só existia o curso de Licenciatura em Geografia. Formei-me e me dediquei à profissão de professora, e nunca fiz o curso de Bacharelado. Portanto, eu não sou Bacharel em Geografia, mas, sim, professora de Geografia (Figura 7). Esses foram os anos 1950 e 1960 e o início dos anos 1970. Na década de 1950, vivi praticamente no campo e, nesse tempo, minha vida de criança foi brincar com o que o lugar oferecia, incluindo tomar banhos de rio, montar fazendinhas de gado com ossos, andar de balanço rústico (feito de corda e com assento de pelego) e escalar as ruinas do saladeiro, que compunham o pátio de minha casa, entre outras brincadeiras. Na década de 1960, vivi em Quaraí e, em parte, na cidade de Artigas, no Uruguai. No início dessa década, iniciava o Ginásio e, além de estudar, vivia os inícios da adolescência e da vida política estudantil. Durante os anos 1960, vivi a inauguração de Brasília; a vitória eleitoral de Jânio Quadros (o vassourinha) e de João Goulart, presidente e vice-presidente do Brasil, respectivamente; a renúncia do Jânio Quadros; o impedimento do vice João Goulart de assumir a presidência; o movimento denominado Legalidade (de 1961), cuja liderança foi de Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, que desencadeou uma resistência, garantindo a posse de Jango (João Goulart) na presidência da República; o golpe militar de 1964 e a Ditadura Militar. Em 1969, ingressava na UFSM, sob o Ato Institucional nº 5, aprovado em dezembro de 1968 pelo governo Médici, dando início aos chamados anos de chumbo. Também nessa década, joguei vôlei, dancei, fiz carnaval, viajei e tive muitos amigos em Quaraí, no Brasil, e em Artigas, no Uruguai. Assisti à peça de teatro Hair, em São Paulo, ouvi os Beatles e os Rollings Stones, ouvi bossa nova, assisti aos surgimentos da MPB e da Tropicália, à luta contra o racismo, ao avanço do feminismo, ao movimento contra a guerra do Vietnã, ao maio de 1968, à chegada do homem à Lua, entre tantos outros acontecimentos. Os anos 1970 iniciaram sombrios, com projetos de mudanças na universidade, com a implantação dos acordos MEC-Usaid, com a reforma universitária, com a reforma dos ensinos Fundamental e Médio, com perseguições, com prisões, com torturas e com exílios. Havia desaparecidos no Brasil, no Uruguai, na Argentina, e havia o amigo uruguaio, preso, que não voltou... Mas a década de 1970 também acompanhou minha formatura no curso de Geografia, meu primeiro emprego como professora, no Colégio Santa Maria, meu início de carreira no ensino superior, na FIDENE-Unijuí, meu curso de mestrado, na USP, e meu regresso à Santa Maria, como professora colaboradora da UFSM (1978). 2 A ESCOLHA PELA GEOGRAFIA No pior período da Ditadura Militar, cursei Geografia na Universidade Federal de Santa Maria. E, lá, nada, absolutamente, se ouvia falar sobre o que vivíamos. O curso de Geografia, no qual me formei, ensinava uma Geografia descritiva, banal, digamos, sem nenhuma discussão, sem construção política e/ou sem engajamento social. No final do meu curso, ao redor de 1972, começaram a emergir algumas discussões, por conta da reorganização dos diretórios acadêmicos, no sentido de revigorar a política. Além disso, participei no MUSM (Movimento Universitário de Santa Maria), em que se discutia política, entremeada pelo cristianismo (os coordenadores eram dois padres católicos, professores universitários do curso de Filosofia). As disciplinas fortes do curso, que nos permitiam ampliar o conhecimento, eram: geomorfologia, geologia, pedologia, climatologia, biogeografia e mineralogia. Ou seja, o “forte” da UFSM era a Geografia Física. Entre elas, meu interesse foi sendo direcionado para a Geomorfologia, ministrada pelo brilhante professor Ivo Lauro Müller Filho, cujas aulas, sem dúvida, estimulavam a todos, a partir de suas atividades de campo, de seu conhecimento e, sobretudo, de suas aulas, ilustradas com desenhos, com croquis, com perfis, que nos permitiam compreender melhor as formas, os processos e as estruturas e suas transformações, no âmbito da Geografia. Seus desenhos expressavam sequencialmente a temporalidade. Nesse contexto, minha opção, sem a menor dúvida, foi pela Geomorfologia. Entre a escolha pela Geomorfologia e o prosseguimento dos estudos, cabe dizer que, seis meses depois de formada, fui contratada pela atual Unijuí (antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí (FIDENE), para ensinar Cartografia no curso de Geografia. Trabalhei num departamento interdisciplinar (de Ciências Sociais). Nele, trabalhavam o Frei Mathias (Mário Osório Marques), Dinarte Belatto, Helena Callai, Jaime Callai, Danilo Lazarotto, José Miguel Rasia, entre tantos outros nomes. Constituía-se um departamento vinculado à FFLCH, com professores atuantes em várias áreas, como Educação, Filosofia, Economia, Antropologia, História, Geografia, Sociologia, Estatística. Esse grupo era muito jovem, à época, com maioria na faixa dos 22 aos 30 anos. Era um grupo que estudava. Ao chegar lá, eu era uma página em branco, do ponto de vista da discussão dos teóricos das humanidades e da leitura da realidade social. A instituição tinha uma postura crítica, frente à realidade brasileira, além de um trabalho comunitário como base educacional. Nas reuniões de departamento, os professores selecionavam textos clássicos da Filosofia, da Antropologia, da Sociologia e esses textos eram lidos e discutidos, coletivamente. Este espaço foi a minha segunda universidade. Com estes colegas, li Kant, Conte, Weber, Marx e Engels, entre tantos outros, que começaram a modificar minha maneira de ver o mundo. Na FIDENE, entrei em crise com minha opção pela Geomorfologia. Já estávamos na metade dos anos 1970 e comecei a me questionar, se deveria prosseguir o meu caminho, anteriormente definido, e vir a ser uma geomorfóloga, ou se deveria abandonar tudo e seguir na Geografia Humana. Isso perdurou pelo tempo em que fiquei na FIDENE. Entretanto, como trabalhava com a Geografia Física, a FIDENE, que tinha uma política de aperfeiçoamento pessoal, possibilitou-me o acesso ao mestrado, mas na área da Geografia Física, que era a demanda da instituição. Assim, retomo meu interesse pela Geomorfologia e me licencio da instituição, para fazer o mestrado. Ainda que a dissertação tenha ficado na gaveta, ou na prateleira, tratava da questão da erosão do solo, em decorrência da ocupação das encostas do planalto Meridional do Rio Grande do Sul, em zonas de pequenas propriedades, de colonização italiana e/ou alemã. Fiz essa leitura, a partir do limite de uma bacia hidrográfica, na escarpa, mais a oeste do planalto, que converge para a Depressão Central ‒ a bacia do rio Toropi. Neste trabalho, já ficava explícito meu interesse pela articulação entre natureza e sociedade. A análise foi pautada pelas formas, com que os colonos trabalhavam a terra, sob forte estímulo de incentivos fiscais, visando à expansão da cultura da soja, processo que promovia, devido às dimensões de suas propriedades e à necessidade de obterem maior renda, o desmatamento de suas pequenas parcelas, cuja localização em lugares íngremes favorecia à erosão. 3 - OS ANOS 1980, 1990 E 2000... Nos anos 1980, assumo, na UFSM, como professora efetiva, permanecendo, concomitantemente, até 1982, como professora horista, na FIDENE. Concluo o mestrado na USP, em 1981. Casada, nessa época, meu marido cursava Medicina Veterinária na UFSM e, ao se formar, vem trabalhar em Porto Alegre. Em 1983, solicito afastamento da UFSM, para realizar o doutorado na USP e, em 1985, sou transferida para a UFRGS, sob a legislação que facultava o acompanhamento do cônjuge. Nessa década, intensificam-se minhas atuações profissional e política. Participo da AGB local da secção Porto Alegre, atuando como secretária em uma gestão e como diretora, em outra, e início a participação nas gestões coletivas da AGB nacional. Da mesma forma, participo do movimento docente, junto à ADURGS, enquanto representante do Instituto de Geociências da UFRGS. Penso que estas duas participações, na AGB-POA e na ADURGS, foram fundamentais, para ampliar minha atuação política, fazendo com que, na continuidade, tomasse parte em três diretorias nacionais da AGB (uma, como secretária; outra, como Vice-Presidenta; e uma última, como Presidenta), enquanto, internamente, na UFRGS, estivesse ocupado, entre outros cargos, a Vice-Direção do Instituto de Geociências. Merece ser citado, ainda, o envolvimento com a discussão ambiental em Porto Alegre, emergente, nessa década, sobretudo, na ampliação do debate com a população porto-alegrense, a partir de uma pesquisa construída por mim, em parceria com João Osvaldo R. Nunes (bolsista de Iniciação Científica, à época), e da discussão e dos encaminhamentos, relativos aos cursos de Licenciatura e de Estudos Sociais. Ainda nessa década, em 1988, concluo o curso de doutorado. Também nos anos 1980, além das atividades profissionais, tive minha filha (em 1978) e meus filhos (em 1981 e em 1985). Ainda em 1988, fui chamada a compor chapa na eleição da AGB, como segunda secretária, na gestão de Arlete Moysés Rodrigues. A gestão se encerrou, em 1990, no Encontro de Salvador da AGB. Em 1992, fui chamada, já ao final da assembleia, para assumir o cargo de Vice-Diretora na gestão do Zeno Crossetti. Ao finalizar a gestão, em 1994, considerei cumprida a minha missão, junto à AGB. No início da década de 1990, o casamento se desfaz e, por necessidade familiar, tomei a decisão de me afastar do envolvimento na AGB, ainda que permanecesse com cargos administrativos na UFRGS (na Vice-Direção do Instituto de Geociências, na coordenação da Graduação e na chefia de departamento), além de continuar com participações em fóruns, em câmaras e em comissões internas. Retorno à AGB no Encontro de Florianópolis (2000), pois, nesse momento, estava sem nenhum compromisso/cargo acadêmico e meus filhos já estavam crescidos e iam, gradativamente, tornando-se independentes. Chamada por Carlos Walter Porto-Gonçalves e por Bernardo Mançano Fernandes para uma reunião política, saio da reunião de Florianópolis como candidata à presidência da AGB-DEN. Eleita, assumo mais dois anos na AGB (2000/2002), agora, como Presidenta. Ao encerrar a gestão na presidência da AGB, fui convidada pelo colega Maurício de Abreu para compor a comissão de avaliação da CAPES. Num primeiro momento, relutei em aceitar, mas fui convencida por Maurício, quanto à importância de participar em comissões dessas instâncias. Aceito o convite e permaneço atuando na CAPES entre 2002 e 2004, como membro da Comissão, e entre 2005 e 2007, como coordenadora de área, juntamente com o colega Ariovaldo Umbelino de Oliveira, coordenador-adjunto. Atuando, desde 1985, como professora de Geografia na UFRGS, crio, coletivamente, nos anos de 1990 e de 2000, juntamente com os colegas Álvaro Heidrich, Nelson Rego, Roberto Verdum, Rosa Medeiros, entre outros, o curso noturno de Geografia (1993), o curso de mestrado em Geografia (1998) e o curso de doutorado em Geografia (2004). Do projeto inicial do mestrado participaram os colegas externos Helena Callai, José Vicente Tavares, entre outros. A pesquisa foi se desenvolvendo, sempre, com a participação de alunos da graduação (IC) e de orientandos da pós-graduação e através de projetos, como o do Grupo Arenização/desertificação: questões ambientais, criado e registrado no CNPq, em 1989, a partir de parceria com os colegas Roberto Verdum e Laurindo Antônio Guasselli. 4 APÓS OS ANOS 2010... Assumo a coordenação do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFRGS, praticamente, ao final de minha carreira ativa na Universidade, ou seja, na véspera de obter minha aposentadoria (2010-2011). Em 2012, aposento-me, embora permaneça ligada ao POSGea-UFRGS. Nessa década, o Núcleo de Estudos em Geografia e Ambiente (NEGA), criado em 2003, já se constituía num espaço ativo na pesquisa, no ensino e na extensão. Esta experiência permitiu a parceria dos pesquisadores do NEGA, alunos e professores, com os gestores do ICMbio e com os ribeirinhos da Floresta Nacional de Tefé (FLONA de Tefé). O objetivo desta parceria era de produzir mapas básicos da FLONA, o mapa de uso da terra (participativo) e dar acompanhamento às reuniões e ao Conselho, com vistas à elaboração do Plano de Manejo dessa Unidade de Conservação. Esta experiência foi ímpar, por nos aproximar da realidade Amazônica, por permitir produzir conhecimento de forma participativa, por integrar conhecimentos, via discussão interdisciplinar, por promover a troca de saberes entre ribeirinhos e acadêmicos, por terem sido produzidos, além dos mapas previstos, textos com finalidade didática sobre a FLONA, além do Atlas Escolar da FLONA, uma demanda dos ribeirinhos no processo de mapeamento participativo e nas reuniões de encaminhamento de sugestões de continuidade. Encerrada essa etapa, outra oportunidade se abriu: tratava-se do edital para professor visitante da UFPB (2018). Tendo sido aprovada, passei dois anos vinculada ao PPGG dessa Universidade. O interesse em participar desse edital dizia respeito à possibilidade de me afastar do local de origem, a UFRGS, objetivando viver outras experiências profissionais, sobretudo, no Nordeste brasileiro, para que pudesse conhecer essa região e, em particular, os Cariris e o Sertão, através das atividades de campo e das pesquisas interdisciplinares planejadas para esses dois anos, além de estabelecer parcerias internacionais. Esta experiência propiciou um conhecimento ampliado do território brasileiro e um aporte de conhecimentos, estabelecido a partir de parcerias com Portugal, através do Centro de Estudos Ibéricos (CEI) e da Universidade de Coimbra (Coimbra e Salamanca), e com Espanha, por meio da Universidade de Sevilha, além de um indescritível acolhimento, por parte dos colegas da UFPB, o que me faz permanecer vinculada ao programa de Geografia da Universidade por mais algum tempo. As atividades relatadas foram realizadas, graças ao acolhimento dos colegas da Geografia da Paraíba, vinculados ao PPGG da UEPB, da UFRN, entre outros parceiros. 5 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA A GEOGRAFIA BRASILEIRA 5.1 Datas e locais de constituição da carreira na Geografia Formada no curso de Licenciatura em Geografia da UFSM, em 1972, o início da carreira universitária se deu na faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFI) de Ijuí, da antiga FIDENE (atual Unijuí), vinculada à Ordem dos Capuchinhos e pioneira no ensino superior, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, na qual trabalhei de 1973 a 1982. Concomitante com a FAFI, exerci atividades acadêmicas na UFSM entre 1978 e 1985. Finalmente, transferi-me para a UFRGS, em 1985, onde permaneci, até 2012, quando me aposentei. Ao longo desse período, fiz o mestrado, concluído em 1981, e fiz o doutorado, completado em 1988, ambos na USP. 5.2 A pesquisa A pesquisa de maior expressão e reconhecimento diz respeito ao tema desenvolvido, durante a tese: o estudo dos areais no sudoeste do RS. À época, estes eram denominados desertos, devido à efervescência da discussão ecológica no estado. Tal tornou-se relevante, pois constituiu a primeira interpretação de maior rigor, em relação à presença desses areais, sobretudo, em relação à explicação geomorfológica e à interface da natureza com a sociedade. No âmbito desta pesquisa, construí o conceito de arenização, como síntese explicativa dos processos que originavam os areais. Tratou-se de um tema inédito e, sobretudo, controverso, uma vez que questionava, a partir de parâmetros climáticos, o uso dos termos deserto e desertificação, relativamente a este processo, além de demonstrar que os areais, na origem, não eram provocados pela “ação antrópica”, como era dito. Entretanto, tratando-se de uma paisagem natural e frágil, tais processos de erosão poderiam ser intensificados. Este tema avançou em diferentes campos disciplinares, a partir da tese, configurando um processo de investigação, que se consolidou, com a criação do Grupo de Pesquisa Arenização/desertificação: questões ambientais - CNPq. Deste grupo participam, além desta pesquisadora, os professores Roberto Verdum e Laurindo Antônio Guasselli, que, através de projetos coletivos do grupo ou de orientações individuais de IC, de mestrado e de doutorado, avançaram na compreensão deste processo e na verticalização de estudos em diferentes campos científicos. A discussão, relativa aos conceitos de arenização e/ou de desertificação, foi levada à esfera social, seja por entrevistas, como reportagens veiculadas na televisão, seja por debates com os movimentos sociais, sobretudo, com o MST/Mulheres Campesinas (Via Campesina), seja por debates na Assembleia Legislativa do Estado ou junto ao movimento ambientalista, seja por diálogos com os ministérios do Meio Ambiente (MMA) do Brasil e, também, do Uruguai. Enfim, o tema se difunde nos ensinos Fundamental e Médio, pelos livros didáticos, e no Ensino Superior, através da indicação de leituras em disciplinas específicas e de pesquisas feitas em outras universidades brasileiras, balizadas pelo conceito de arenização. É também um tema reconhecido internacionalmente, em diferentes países da América Latina e nos países Ibéricos, além da França. A pesquisa sobre a arenização e a preocupação central desta pesquisadora, ao buscar uma análise de interface entre natureza e sociedade, em Geografia, vinculadas a sua dedicação ao ensino e à pesquisa no campo da Epistemologia da Geografia, desdobra-se, desde o concurso para Professora Titular na UFRGS, em reflexões teóricas, sobretudo, sobre a natureza, sobre o ambiente e sobre a Geografia. De forma mais ampliada, sob esta ótica, é feita uma reflexão sobre o ensino de Geografia. Tal ponderação é produto da pesquisa, ao longo desses mais de 40 anos envolvida com a Geografia, sobre temas que considero relevantes no contexto científico contemporâneo e que fazem parte de minhas preocupações, até então. 5.3 Parcerias de pesquisa, ao longo da carreira Falar de parcerias, ao longo da carreira, é algo de extrema complexidade. Desde que inicio as atividades como professora-pesquisadora, em Ijuí, o que fiz foi sempre em parceria, lembrando, aqui, de minha colega e amiga de Ijuí, Helena Callai, e dos demais colegas da FIDENE, aos quais fiz referência, anteriormente. Incluo nestas parcerias os colegas que, através de diálogo, estiveram presente no mestrado e no doutorado e, sobretudo, a relação com o professor Adilson Avanci de Abreu, durante a construção do doutorado. Trago, igualmente, aqueles que compõem, comigo, o Grupo de Pesquisa Arenização/Desertificação: questões ambientais, incluindo todos os orientandos, que promoveram pesquisas sobre o tema, além dos colegas já citados. Lembro do grupo do Mestrado em Sensoriamento Remoto, de cuja constituição inicial eu participei, em 2020, e a partir do qual tudo foi produzido, no âmbito dos mapeamentos e, mesmo, no levantamento de novas hipóteses de investigação, junto ao Centro Estadual de Pesquisa em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM), com a parceria de Laurindo Antônio Guasselli e de vários orientandos. Na continuidade, cabe fazer referência à expansão da pesquisa em território nacional, produzida com colegas e com orientandos de diferentes estados, como PB, GO, MT, SP, BA, CE, entre outros, seja sobre arenização, seja sobre desertificação. Destaco outra parceria com alunos da UFRGS (graduandos e pós-graduandos), quando da criação do Núcleo de Estudos de Geografia e Ambiente (NEGA), em 2003. Este núcleo surge com o objetivo de refletir sobre o conceito de ambiente, a partir da Geografia e das proposições e dos novos caminhos analíticos, que vinham sendo construídos. Os temas em pesquisa e em debate neste núcleo foram se desdobrando, na busca da defesa das justiças social e ambiental, a partir de temas, como regularização fundiária, conflitos em Unidades de Conservação, gestão de Unidades de Conservação, comunidades tradicionais, ribeirinhos, pescadores artesanais e territorialidades quilombolas, entre outros. Neste contexto, faço referência, também, à parceria feita com o ICMbio-Tefé/AM, com o objetivo de elaborar mapas básicos e, sobretudo, o mapa de uso da terra, juntamente com gestores e com ribeirinhos da FLONA de Tefé. Esta atividade foi constituída, a partir de um trabalho coletivo entre gestores da FLONA, ribeirinhos e pesquisadores do NEGA-UFRGS. Três produtos dessa parceria merecem destaque: os mapas participativos e o debate comunitário, que resultou no Plano de Manejo desta Unidade de Conservação; a elaboração de textos (de escrita coletiva) sobre a Floresta Nacional, com finalidade de subsidiar o ensino; e o Atlas Escolar da FLONA de Tefé. Torna-se difícil, neste espaço, mencionar todas as parcerias feitas, ao longo de todo esse período de vida acadêmica, mas quero frisar que todo o meu trabalho foi, sempre, em parceria, desde a pesquisa ao que foi publicado. Tal prática continua nesses anos pós-aposentadoria, através de atividades desenvolvidas com colegas da UFPB, realizadas em proximidade com Bartolomeu Israel de Souza e demais colegas da UFPB e da mesma forma colegas da UEPB, em parceria com a Universidade de Coimbra, com o Centro de Estudos Ibéricos e com a Universidade de Sevilha, na forma de pesquisas e de publicações em conjunto, merecendo destaque, também, a parceria com a pós-graduação da Universidade de Entre Rios, na Argentina, resultante de pesquisas sobre a temática de interesse comum da Cartografia Social. 5.4 Artigos e livros marcantes da carreira Em relação aos artigos, foram selecionados aqueles que são referidos com maior frequência, não necessariamente, através de índices internacionais de citações, mas, sobretudo, através de diálogos com alunos e com professores-pesquisadores de diferentes lugares do território nacional, acrescidos de publicações mais atuais sobre os temas, com os quais me envolvo. Da mesma forma, os títulos a seguir foram selecionados, considerando diferentes temas de investigação. São eles: 5.4.1 Artigos SUERTEGARAY, D. M. A. Arenização: esboço interpretativo. Wiliam Morris Davis Revista de Geomorfologia, v. 1, p. 118-144, 2020. SUERTEGARAY, D. M. A.; OLIVEIRA, M. G. Arenização, areais e políticas de ordenamento territorial. Cadernos de Geografia, Coimbra, v. 38, p. 69-76, 2018. PAULA, C. Q. de; SUERTEGARAY, D. M. A. Modernização e pesca artesanal brasileira: a expressão do 'mal limpo'. Revista Terra Livre, v. 1, n. 50, p. 97-130, 2018. SUERTEGARAY, D. M. A. Debate contemporâneo: Geografia ou Geografias? Fragmentação ou Totalização? GEOgraphia (UFF), v. 1, p. 16-23, 2017. SCELZA, G. C.; ROSSATO, R. S.; SUERTEGARAY, D. M. A.; OLIVEIRA, M. G. Plano de Manejo da Floresta Nacional de Tefé, a Gente faz junto! Biodiversidade Brasileira, v. 4, p. 69-91, 2014. SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física e Geografia Humana: Uma questão de método - um ensaio a partir da pesquisa sobre Arenização. GEOgraphia (UFF), v. 12, p. 8-29, 2010. SUERTEGARAY, D. M. A. Poética do espaço geográfico: em comemoração aos 70 anos da AGB. GEOUSP, São Paulo, v. 18, p. 9-19, 2005. ROSSATO, M. S.; BASSO, L. A.; SUERTEGARAY, D. M. A. Formação de depósitos Tecnogênicos em Barragens. O caso da Lomba do Sabão, Rio Grande do Sul. Biblio 3w, Barcelona, v. 7, n. 407, 2002. SUERTEGARAY, D. M. A. Espaço Geográfico Uno e Múltiplo. Scripta Nova, Barcelona, v. 93, 2001. SUERTEGARAY, D. M. A.; NUNES, J. O. R. A natureza da Geografia Física. Terra Livre, São Paulo, v. 17, n. 16, p. 11-24, 2001. 5.4.2 Livros e capítulos de livros Os livros selecionados expressam obras construídas como autora e, da mesma forma, como organizadora, normalmente, com parcerias de colegas e/ou de alunos do POSGea-UFRGS. São eles: SUERTEGARAY, D. M. A.; SILVA, I. A. S. (Org.). Brasil: feições arenosas. 1. ed. Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura, 2020. 158p. ROSSATO, M. S.; BATISTA, S. C.; RODRIGUES, E. L. S.; PAULA, C. Q. de; OLIVEIRA, M. G.; FONTANA, C.; SUERTEGARAY, D. M. A. Floresta Nacional de Tefé (AM): Atlas Escolar. 1. ed. Porto Alegre: Instituto de Geociências, 2020. 42p. SUERTEGARAY, D. M. A. (Re) Ligar a Geografia. 1. ed. Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura, 2017. 180p. SUERTEGARAY, D. M. A.; PIRES, C. L. Z.; PAULA, C. Q. de (Org.). O lugar Onde Moro: Geografia da FLONA de Tefé. 1. ed. Porto Alegre: IGEO/UFRGS, 2016. 124p. SUERTEGARAY, D. M. A.; PIRES, C. L. Z.; OLIVEIRA, M. G. (Org.). Geografia e Ambiente. 1. ed. Porto Alegre: Imprensa Livre/Compasso Lugar-Cultura, 2015. 249p. SUERTEGARAY, D. M. A.; ROSSATO, M. S. (Org.). Brasil Feições Ilustradas. 1. ed. Porto Alegre: Imprensa Livre/Compasso Lugar-Cultura, 2014. 120p. SUERTEGARAY, D. M. A.; GUASSELLI, L. A.; PIRES DA SILVA, L. A. (Org.). Arenização natureza socializada. 1. ed. Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura/Imprensa Livre, 2012. 600p. SUERTEGARAY, D. M. A.; ROSSATO, M. S.; BELLANCA, E. T.; FACHINELLO, A.; CÂNDIDO, L. A.; SILVA, C. R. da. Terra Feições Ilustradas. 1. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003. 263p. SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física e Geomorfologia: uma (re)leitura. 1. ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2002. 112p. SUERTEGARAY, D. M. A.; GUASSELLI, L. A.; VERDUM, R.; BASSO, L. A.; MEDEIROS, R. M. V.; MARTINS, R.; ROSSATO, M. S.; BELLANCA, E. T.; BERTÊ, A. M. A. Atlas da Arenização Sudoeste do Rio Grande do Sul. 1. ed. Porto Alegre: Governo do Estado do RS - Secretaria da Coordenação e Panejamento e Secretaria da Ciência e Tecnologia, 2001. 84p. SUERTEGARAY, D. M. A. Deserto Grande do Sul: Controvérsias. 2. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1998. 109p. 5.4.3 Capítulos de livros publicados A seleção de capítulos publicados considerou dois critérios: de um lado, a indicação de livros organizados por outros colegas e/ou por instituições da área de Geografia, com que colaborei; de outro, foram escolhidos capítulos, que abordam a pesquisa sobre Arenização, sobre Epistemologia da Geografia e sobre Educação/Ensino de Geografia, temas que se conectam, desde o início de sua carreira. São eles: SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física na Educação Básica ou o que ensinar sobre natureza em Geografia. In: Morais, E. M. B.; Alves, A. O.; Roque Ascensão, V. de O. (Org.). Contribuições da Geografia Física para o Ensino de Geografia. 1. ed. Goiânia: C & A Alfa Comunicação, 2018. v. 1. p. 13-32. FONTANA, C.; PAULA, C. Q. de; SUERTEGARAY, D. M. A. Ribeirinhos, organizações comunitárias e alimentação: FLONA de Tefé - AM, Brasil. In: AZEVEDO, A. F.; REGO, N. (Org.). Geografias e (In)visibilidades: Paisagens, Corpos, Memórias. 1. ed. Porto Alegre: Compasso Lugar-Cultura, 2017. p. 187-216. SUERTEGARAY, D. M. A. Geomorfologia do Rio Grande do Sul, o saber de Ab'Saber. In: MODENESI-GAUTIERI, M. C.; BARTORELL, A. I.; MANTESSOTO NETO, V.; CARNEIRO, C. dal R.; LISBOA, M. B. de A. L. (Org.). A obra de Aziz Nacib Ab'Saber. 1. ed. São Paulo: Beca BALL edições, 2010. v. 1, p. 334-352. SUERTEGARAY, D. M. A.; ROSSATO, M. S. Natureza: concepções no ensino fundamental de Geografia. In: BUITONI, M. M. S. (Org.). Geografia Ensino Fundamental. 1. ed. Brasília: Ministério da Educação - Secretaria da Educação Básica, 2010. v. 8. p. 153-168. SUERTEGARAY, D. M. A.; PIRES, L. A. Tchê Pampa: histórias da natureza gaúcha. In: PILLAR, V. de P.; MÜLLER, S. C.; CASTILHOS, Z. M. de S.; JACQUES, A. V. A. (Org.). Campus Sulinos conservação e uso sustentável da biodiversidade. 1. ed. Brasília: MMA, 2009. v. 1. p. 26-41. SUERTEGARAY, D. M. A.; VERDUM, R. Desertification in the tropics. In: UNESCO (Org.). Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Paris: UNESCO Plubishing, 2008. p. 1-17. LIMA, J. R. de; SUERTEGARAY, D. M. A.; SANTANA, M. O. Desertificação e Arenização. In: SANTOS, R. F. dos. (Org.). Vulnerabilidade Ambiental: Desastres naturais ou fenômenos induzidos. 1. ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2007. p. 1-191. SUERTEGARAY, D. M. A. Questão Ambiental: produção e subordinação da natureza. In: SILVA, J. B. da; LIMA, L. C.; DANTAS, E. W. C. (Org.). Panorama da Geografia Brasileira. 1. ed. São Paulo: Annablume, 2006. v. 2. p. 91-100. SUERTEGARAY, D. M. A. Ambiência e Pensamento Complexo: Resignifi(ação)da Geografia. In: SILVA, A. A. D. da; GALENO, A. (Org.). Geografia Ciência do Complexus. 1. ed. Porto Alegre: Sulina, 2004. p. 181-208. REGO, N.; SUERTEGARAY, D. M. A. O Ensino de Geografia como Hermenêutica Instauradora. In: REGO, N.; AIGNER, C.; PIRES, C.; LINDAU, H. (Org.). Um Pouco do Mundo Cabe nas Mãos. 1. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003. p. 1-310. SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física(?) Geografia Ambiental(?) ou Geografia e ambiente (?). In: MENDONÇA, F.; KOZEL, S. (Org.). Elementos de Epistemologia da Geografia Contemporânea. 1. ed. Curitiba: Ed. UFPR, 2002. p. 111-120. SUERTEGARAY, D. M. A. Pesquisa e Educação de Professores. In: PONTUSCHKA, N. N.; OLIVEIRA, A. U. (Org.). Geografia em perspectiva. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2002. v. 1. p. 109-114. SUERTEGARAY, D. M. A. O que ensinar em Geografia (Física)?. In: SUERTEGARAY, D. M. A.; REGO, N.; HEIDRICH, A. (Org.). Geografia e Educação Geração de Ambiências. 1. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2000. p. 97-106. SUERTEGARAY, D. M. A. Desertificação: Recuperação e Desenvolvimento Sustentável. In: GUERRA, J. A. T.; CUNHA, S. (Org.). Geomorfologia e ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. p. 249-290. SUERTEGARAY, D. M. A. A Geografia e O Ensino da Natureza. In: CALLAI, H. C. (Org.). O ensino em Estudos Sociais. 1. ed. Ijuí: Unijuí, 1991. p. 104-111. SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia: Resultado de Uma Reflexão. In: CALLAI, H. C. (Org.). O ensino em Estudos Sociais. 1. ed. Ijuí: Unijuí, 1987. p. 13-19. 6 AVANÇOS TEÓRICOS E CONTROVÉRSIAS E MAIORES CONTRIBUIÇÕES CONCEITUAIS E METODOLÓGICAS REALIZADAS A construção da análise geográfica que realizo é balizada por uma interpretação clássica e mais recorrente sobre Geografia, ou seja, é aquela que busca promover a conexão/mediação entre natureza e sociedade. Aparentemente, buscar uma construção geográfica, sob esta perspectiva, para muitos, é algo ultrapassado, pelo avanço e pela necessidade do conhecimento especializado. Independentemente da compartimentação e da posterior e expressiva fragmentação da Geografia, busquei o caminho da unidade. Essa busca se fundamentou no conceito clássico de Geografia, na questão ambiental (que, necessariamente, pressupõe articulação) e nas discussões científicas e filosóficas contemporâneas, que anunciavam, desde os anos 1970, a necessidade de superação da fragmentação, da compartimentação, vigente na ciência moderna, para que se pudesse entender a complexidade do mundo. Colocado isto e fazendo uma reflexão sobre a minha contribuição, diria que, de forma resumida, meus estudos permitiram reconhecer esses pressupostos na práxis. Ou seja, compreender a evidência de um espaço geográfico produzido de forma amalgamada com a natureza e, ao mesmo tempo, conceber que, neste processo, a natureza deixa de ser natureza-natural (original) para se transformar em segunda natureza. A continuidade da pesquisa avança na compreensão mais ampliada de segunda natureza, como esta foi demonstrada em Marx, como transformação da natureza em segunda natureza pelo trabalho humano (objetos), para ampliar esta transformação e para entendê-la como transfiguração, sobretudo, uma transfiguração do habitat ou, contemporaneamente, do ambiente humano. Isto se faz em diferentes escalas, gera significativas exploração e degradação dos ambientes de vida e promove formas de organização e de luta pelos territórios originários, tradicionais, periféricos, entre outros, por exemplo. Com base neste enunciado, cabe sistematizar as contribuições, que expressam o movimento de constituição de meu pensamento: i. Uma construção metodológica, para o entendimento dos processos de arenização, que articulou lógica formal e lógica dialética, algo reconhecido como incompatível para a minha geração, mas que, de certa forma, ainda prevalece na construção do conhecimento; ii. Na construção da tese, a explicação construída para a gênese dos areais, explicitada no conceito explicativo de arenização; iii. Uma reflexão sobre natureza, dando a esta um sentido diferente do conceito de ambiente, comumente entendido como sinônimo daquela. iv. A discussão sobre compartimentação e fragmentação no contexto geográfico, entre outros temas, a exemplo dos estudos de Geografia Física nos ensinos Fundamental e Médio. Em relação às principais controvérsias, críticas e embates sobre a produção científica realizada, registro, como uma das primeiras, a não aceitação, pela imprensa e, da mesma forma, por alguns acadêmicos, do conceito de arenização, enquanto explicação para a gênese dos areais, uma vez que esse processo vinha sendo relacionado, no Rio Grande do Sul, à desertificação. Igualmente, o caminho metodológico, construído ao longo da tese, foi criticado, durante sua apresentação para debate, na realização do doutorado, na qualificação do doutorado, seja pelos geógrafos físicos, seja pelos geógrafos humanos. Na continuidade, fui criticada, pelo meu entendimento dessa construção, enquanto um método eclético. No campo epistemológico, a grande resistência, a crítica e o embate se deram, em relação às reflexões que faço, expressando minha compreensão sobre a Geografia e, nela, fazendo a negação da Geografia Física, uma vez que considero essa partição da Geografia uma perda do sentido do geográfico e da possível explicação geográfica, conforme meu entendimento. No campo ambiental, há, também, um embate, uma vez que não utilizo o conceito socioambiental nas investigações ambientais que realizo, bem como não qualifico a Geografia que lida com essa problemática de Geografia Ambiental. Cabe, ainda, registrar o grande embate ‒ o sistemismo. O sistema foi o conceito que promoveu a busca de compreensão de uma totalidade funcional no campo científico (século XX). Ao aportar na Geografia, este parecia ser o caminho “natural” da Geografia Física e de sua unificação. No entanto, desde o doutorado, neguei o sistemismo, assumindo a totalidade dialética como inspiração metodológica. O embate é interessante, pois, enquanto alguns colegas denominaram como eclético o método que construí, outros colegas defendem, em debates comigo, que a abordagem que adoto é sistêmica. Esse é o movimento e, assim, vamos construindo o conhecimento. A ciência também necessita de democracia. 7 ELEMENTOS MARCANTES, QUE ENTRELAÇAM MINHAS VIDAS PESSOAL E INTELECTUAL Há algum tempo, respondi a uma pergunta, que abordava a forma pela qual tinha conciliado a vida familiar, enquanto mulher, e a vida profissional. Minha resposta, naquele momento (dada para a AGB-POA), é resgatada, para expressar os elementos marcantes, que entrelaçaram minhas vidas pessoal e intelectual. No meu entendimento, é preciso resgatar algo que antecede. Como já fiz referência, anteriormente, sou filha primogênita de um casal de comerciantes. Minha mãe sempre trabalhou, desde os anos 1940 (período da II Guerra Mundial), quando as mulheres começaram a ser chamadas, para ocupar determinadas funções, no caso dela, telefonista e, depois, comerciaria. À época, ela tinha apenas 16 anos e sua mãe, viúva, tinha, além dela, mais 10 filhos para criar. Meu pai, à medida que cresci, me orientou para o trabalho. Não fui educada como mulher, para ser somente esposa e mãe. Ao contrário, para meus pais, o importante era trabalhar, era ter uma profissão. O desejo deles era de que suas duas filhas tivessem formação superior. Meu pai desejava que eu estudasse para ser engenheira ou farmacêutica. Acabou aceitando que eu fosse professora. Coloco isto, para dizer que cabia a mim trabalhar. Constituir família era importante nos conselhos de minha mãe e ser profissional era prioritário nos conselhos de meu pai. Não tive escolha em ser isto ou aquilo. Casei-me, tive três filhos e trabalhei, e trabalho, o tempo todo. Aprendi que tudo isto deveria fazer parte de minha vida. Nesta trajetória, não sei se houve conciliação harmoniosa. Sempre desenvolvi todas as atividades profissionais e familiares. Não foi fácil. Em determinadas épocas, contava com o auxílio de outras pessoas. Minha mãe e meu pai, por exemplo, cuidaram dos netos muitas vezes (durante o mestrado e o doutorado). Não lutei para ser independente, nem participei de movimento feminista. Precisei ser o que sou. A única certeza que tenho é de que, às vezes, foi sobrecarregado. Meus filhos não conheceram outra mãe e parecem gostar desta. Eu não conheci outra trajetória e acredito que não teria feito, nunca, uma única opção. Como diz a música, “trabalhar é minha sina”, mas é, também, o meu prazer. Minha escolha foi a de ser professora e segui o desejo de minha mãe, que quis ser professora, mas não conseguiu. Ser engenheiro era o desejo de meu pai; também, um sonho não realizado. Nessa escolha, eu o contrariei, pois não gostava de matemática!!! Mas seu apoio, nas escolhas que fiz, foi sempre incondicional. Pai e mãe trabalhadores se entrelaçaram na minha vida, uma vez que trabalhar se fazia necessário e promovia independência, como os dois me ensinaram. Contudo, ser professora não foi apenas influência materna. O gosto por ensinar esteve sempre presente, desde a infância. Educar, ensinar, dialogar, conviver e aprender com aqueles com os quais partilhamos a sala de aula é uma experiência ímpar, a despeito de todas e das tantas dificuldades. Na trajetória da pesquisa, as escolhas temáticas se entrelaçam com as vivências, pois, desde criança, brincava nos areais. Resgatei os areais, nos anos 1980, com o advento das questões ambientais na Porto Alegre da década, para constituir tema de investigação no doutorado e adiante, até os dias de hoje. E, assim caminhamos, assim caminho. “Caminante no hay camino se hace camino al andar”... Antônio Machado CARLOS WALTER PORTO-GONÇALVES MEMORIAL UMA GEOBIOGRAFIA TÉORICO-POLÍTICA: EM BUSCA DE UMA TEORIA SOCIAL CRÍTICA A PARTIR DA GEOGRAFIA Carlos Walter Porto-Gonçalves Setembro/2017 INTRODUÇÃO A circunstância desse concurso proporciona a oportunidade de fazer um Memorial que abarque a trajetória intelectual, enfim, uma biografia. Gostaria de sugerir uma geobiografia. Por força da tradição do pensamento hegemônico de matriz eurocêntrica e seus pares dicotômicos – espírito e matéria, natureza e cultura, sujeito e objeto, espaço e tempo entre tantos - quando se fala de biografia a linha do tempo se impõe. Embora pensada com a sobrevalorização do tempo sobre o espaço, em si mesma problemática, nas diferentes biografias acabam aparecendo os encontros que temos com pessoas e ideias nunca fora de lugares. Afinal, a biografia, como o nome indica – bio+grafia - é a trajetória de nosso corpo e, como sabemos, do espaço não dá para tirar o corpo fora. O corpo não está no espaço, o corpo na sua materialidade é o conjunto de nossas relações com outros corpos através do que constitui o espaço que nos constitui. Tanto naturalmente (somos a água que bebemos, o oxigênio que respiramos, os minerais que comemos) como socioculturalmente (através do que significamos praticamente) somos o que produzimos-extraímos-criamos-transformamos. Além disso, sublinhemos, o componente atomístico individualista que conforma a instituição imaginária da sociedade (Castoriadis) capitalista moderna com sua egosofia tão bem representada na máxima cartesiana “[Eu] penso, logo [eu] existo” que não só privilegia o pensamento antes da existência como ignora que o “eu penso, logo eu existo”, ao ser dito como linguagem já é social pela simples impossibilidade de haver uma língua individual. A linguagem é, sempre, construção de sentidos em comum (comun+icação) e, portanto, social. A abertura que nossos corpos têm – como diria o poeta “a tua presença entra pelos sete buracos da minha cabeça” – dá conta de nossa incompletude tanto natural como social. Assim, uma geobiografia procura dar conta de uma relação que vai mais além do indivíduo que a enuncia. Assim vamos, assim estamos. Duas advertências preliminares devem ser feitas: a primeira, diz respeito ao fato de que toda memória, embora recorra ao passado é, sempre, o presente que fala. Assim, muitas vezes aparecerão como escolhas racionais coerentes o que, na verdade, foi decidido nas circunstâncias segundo critérios de momento. Ficarão registradas aqui aquelas escolhas que, hoje, me dão o equilíbrio existencial e permitem que me suporte a mim mesmo. A segunda advertência, é que ficarão de fora aquilo que diz respeito à minha vida privada, embora devo, de antemão, agradecer aos familiares os longos períodos longe de casa fruto das muitas viagens, e não foram poucas, além dos momentos que ficamos longe mesmo estando em casa. Enfim, o que temos aqui é uma geobiografia intelectual, aceitando a tese de Walter Mignolo de que as epistemologias estão implicadas com o espaço geográfico (Mignolo in “Espacios Geográficos e Localizaciones Epistemológicas”) onde os homens e mulheres em cada momento histórico operam/criam. Enfim, esse memorial registra os Encontros com pessoas e grupos/classes sociais e as geografias com seus lugares, espaços, regiões, territórios e paisagens com os quais formei meu pensamento, minha trajetória intelectual. O Engenho Novo, bairro da Central do Brasil onde fui criado, no Rio de Janeiro, a cidade onde nasci; o distrito de Ponta Grossa dos Fidalgos, na Lagoa Feia pela experiência seminal; a Amazônia e seus povos; os Cerrados e seus povos; a América Latina e seus povos. A ORIGEM Os psicólogos e educadores não se cansam de chamar a atenção para o papel que os grupos de socialização primárias – a família e a comunidade mais próxima – têm na conformação da subjetividade, para a formação do caráter de cada quem. (1) E falar desses grupos é falar dos lugares e dos espaços que constituem e que nos constituem (a casa e o bairro), sobretudo pela escola, pelo lugar que ocupa na geografia do sistema mundo capitalista moderno colonial que nos habita e sua afirmação como estado nacional, com toda colonialidade implicada nessa ideologia. E aqui se juntam a minha condição de filho de família operária e, como tal, o bairro operário onde vivenciei as vicissitudes dessa condição de classe e, nascido em 1949, ter vivido o nacional-desenvolvimentismo dos anos 50’ e 60’, quando a migração rural-urbana vai acompanhada da ideia de inserção social através dos direitos, como a educação. Ainda hoje lembro das primeiras professoras primárias - Terezinha Cardoso e Iracema Guaranis Melo - pela autoridade que gozavam diante dos pais e pela dignidade com que eram respeitadas pela comunidade. Sempre estudei em escolas públicas desde a Escola Sarmiento ao Colégio Pedro II até a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fiz a graduação e a Pós-graduação tanto o Mestrado como o Doutorado. A Escola Sarmiento e o Colégio Pedro II estão localizados no bairro operário onde morava, o Engenho Novo, no ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil, como as camadas populares designavam os bairros do Rio de Janeiro ao longo das estradas de ferro Central do Brasil e o ramal da Leopoldina, antes da cidade ser colonizada pela Zona Sul e pela Rede Globo. Experimentei ali o espírito comunitário organizando as festas juninas – fazer bandeirinhas, preparar a fogueira, os balões, ajudar nas compras e preparo das comidas – os blocos carnavalescos auto-organizados, os times e torneios de futebol, os jogos de botões, de bolas de gude, soltar pipa e balões assim como a convivência de ajuda mútua de tomar emprestado ou emprestar o sal, o açúcar, enfim, o necessário para viver de acordo com as circunstâncias, além de cuidar dos filhos dos vizinhos ou ficar na casa dos vizinhos, as mudanças frequentes de vizinhos, não raro provocadas por despejos judiciais, cenas que acompanhava com tristeza e que me marcaram. Enfim, podemos sair desse lugar, como saímos, mas esse lugar nunca não sai da gente! Sei da força da ideia de que o espaço geográfico é co-formador da nossa subjetividade. Nossos habitus (Bourdieu), nosso habitat. Assim, habitamos o espaço que nos habita. Do ponto de vista intelectual trago da Escola secundária, do Colégio Pedro II, o gosto pelas Humanidades, haja vista que no que então se chamava Nível Médio, fiz o curso Clássico onde a Literatura, a Filosofia, a História e a Geografia eram ensinadas junto com Latim e Grego. Mais tarde, quando vários interlocutores me alertavam para o fato de eu gostar de brincar com as palavras, o que me deixa aborrecido, pois o que eu faço é justamente o contrário, ou seja, levar as palavras a sério, é que ao tentar entender de onde eu tinha esse interesse pelas palavras e pela língua é que me dei conta de que as palavras tinham história e que as palavras tinham designação diferentes de acordo com o lugar que ocupavam na formação dos sentidos das frases. Foi quando me dei conta de que havia estudado grego e latim, ainda que de modo introdutório no colégio de nível médio. A Geografia, por exemplo, viria mais tarde se tornar verbo, qual seja, o ato, as ações de marcar e dar sentido à vida na terra: geo-grafia. O ENCONTRO COM A GEOGRAFIA ACADÊMICA Em 1969 fui aprovado no vestibular de Geografia da UFRJ e passo a frequentar até 1972 o curso no Largo de São Francisco, no Centro do Rio de Janeiro. Fui da última turma antes que o curso fosse transferido para a Ilha do Fundão. Tempos difíceis, tempos do AI-5 e do Artigo 477 com que a ditadura fechara a Congresso Nacional e proibia qualquer atividade política nas universidades. Embora houvesse resistência houve também professores que deduravam seus colegas e ameaçavam estudantes. Lembro bem da sala do Diretório Acadêmico com um mapa geológico do Brasil com pequenos sacos com amostras de minérios sobre as localidades em que havia exploração por empresas estrangeiras. Confesso que foi a primeira emoção com algo chamado Brasil, que deveria ser nosso, como diziam aqueles mapas. Essa ideia, mais tarde, ganhará um sentido mais elaborada intelectualmente e criticamente racionalizada. De minha formação acadêmica na graduação, além de uma Geografia tradicional descritiva e bastante conservadora e, com exceção de algumas aulas com descrições densas, como as boas aulas de Geografia do Brasil da conservadoríssima Prof.ª. Maria do Carmo Correia Galvão, pouca coisa ficou na memória. Registre-se algum ar de pensamento crítico da, então, iniciante Prof.ª Sonia Bogado à época substituindo professores eventualmente licenciados. Entretanto, me marcariam definitivamente as aulas de Antropologia e duas experiências vividas com a Geografia Física. As aulas de Antropologia com a Prof.ª Luigarde Cavalcanti me ensinaram um valor que levaria para o resto da minha vida, a saber, que a riqueza maior da humanidade é a sua diversidade e, com base nisso, a necessidade da crítica ao etnocentrismo e ao racismo. E ela bem sabia disso por sua nordestinidade alagoana vivendo o mundo acadêmico entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Com relação à Geografia Física me marcou a amplitude de conhecimento e a generosidade do Professor de Pedologia, o agrônomo Waldemar Mendes, de quem fui bolsista de Iniciação Científica. Sua visão estratégica do estudo dos solos para o desenvolvimento da sociedade brasileira – ele que fora responsável pela Comissão de Solos do Ministério da Agricultura de 1947 a 1967 - me convenceria também para o resto da minha vida da relevância do estudo das condições naturais para que se tenha uma sociedade mais justa e generosa. Esta visão estava associada ao fato do Professor Waldemar Mendes ser comunista, como me confessara certo dia quando a universidade estava “sendo convidada” a cerrar suas portas para garantir a segurança do então ditador de Portugal, o Sr. Marcelo Caetano, em visita ao Brasil e que circulava pelo Centro da cidade do Rio de Janeiro onde ficava o Departamento de Geografia, no Largo de São Francisco. O Prof. Waldemar Mendes, para minha surpresa, me dissera naquele momento que a única ditadura passível de ser aceita era a ditadura do proletariado porque se propunha a acabar coma exploração do homem pelo homem. Independentemente do que isso significava para mim naquele momento entendi o que movia aquele homem admirado pelos alunos por sua generosidade e dedicação, sobretudo nos trabalhos de campo, ou seja, que o conhecimento das ciências naturais, no caso dos solos, era fundamental para uma sociedade mais justa, sem exploradores e explorados. Outra experiência com a Geografia Física que haveria de me marcar definitivamente se deu como bolsista de Iniciação Científica em Geomorfologia Costeira durante 2 anos sob a coordenação do Prof. Dieter Muehe. A experiência de recolher amostras em campo com uso do trado, na então pouco urbanizada Barra da Tijuca, para depois analisar em laboratório sua granulometria e fazer estratigrafias, me levou ao domínio das diferentes fases da pesquisa científica, do planejamento da malha de recolhimento das amostras, das técnicas de recolhimento à formulação de hipóteses a partir de cotejamento teórico com a literatura. Essa experiência, embora não tivesse guiada pelas mesmas motivações éticas e políticas que eu aprendera com o Professor Waldemar Mendes teria, por outras razões, implicações inesperadas na minha trajetória intelectual enquanto geógrafo dedicado a temas sociais sempre de modo ambientalmente ancorado. Registre-se que as duas experiências me levaram a respeitar as metodologias e técnicas da pesquisa em Ciências Naturais, o que só seria fortalecido por outros encontros que a vida me proporcionaria, particularmente para minha formação como geógrafo. O Início de Uma Visão Crítica - Em 1970 tive a oportunidade de estagiar por um curto período de tempo no IBGE, experiência que, por razões alheias à instituição, haveria de ter consequências definitivas em minha formação científica e política. Embora estagiando numa seção de demografia sob a responsabilidade de um geógrafo que se enamorava pela geografia quantitativa, como o Sr. Espiridião Faissol, acabei me tornando amigo e discípulo de outro geógrafo, o Professor Orlando Valverde, que trabalhava nas antípodas teóricas e políticas de meu chefe imediato com quem, aliás, pouco convivi. Foi o Prof. Orlando Valverde que me levou à paixão pela Amazônia e pela questão agrária. A convite dele passei a frequentar as atividades promovidas pela CNDDA – Campanha Nacional de Defesa e pelo Desenvolvimento da Amazônia – apesar de meu desconforto com certos militares nacionalistas que também faziam parte daquela Campanha. O nacionalismo valverdeano estava atravessado pela visão anti-imperialista de sua formação comunista, ele que fora expulso ainda cadete da Escola Militar, para quem a Amazônia haveria de ser a verdadeira “hipótese de guerra”, aliás como nos anos 1980 se tornaria. Foi o Prof. Orlando Valverde que me indicou insistentemente o primeiro livro marxista que li atentamente, a saber, A Questão Agrária, de Karl Kautsky. Com isso, começava a firmar meu interesse por teoria e, como se vê, por fora da academia tive a fortuna de conhecer esse que foi um dos mais importantes geógrafos brasileiros. A paixão pelo marxismo foi se consolidando por influência desses grandes mestres, como Orlando Valverde e Irene Garrido, sua inseparável companheira de trabalho no IBGE e também ativista da CNDDA. Daí meu interesse em me aproximar de grupos de esquerda clandestina (2)Recém-formado na universidade vivi uma dessas experiências definitivas e, mais uma vez, com o Prof. Orlando Valverde em um trabalho de campo. Convidado pelo Mestre fomos a campo, na região da Zona da Mata Mineira, para um trabalho de geografia agrária. Naquele “mar de morros” característico da região, como bem caracteriza a região o geógrafo Aziz A’ Saber, amigo do Prof. Valverde, em determinado momento no alto de um vale, numa posição privilegiada para observar a paisagem e o mosaico de pequenos estabelecimentos onde se praticava uma agricultura de autosustentação, o Prof. Valverde, para minha surpresa e até mesmo desconfiança, começara a dissertar sobre o sistema de uso da terra, no caso, sobre o sistema de rotação de culturas que ali se que foi a minha verdadeira escola de formação teórica, onde aprendi os fundamentos do materialismo histórico. Assim como vários dos amigos e amigas do que viria a ser uma das vertentes da Geografia Crítica, a marxista, não foi na academia que nos formamos cientificamente. Buscávamos uma ciência transformadora que fosse contrária à Geografia conservadora que aprendemos nas universidades, de forte cunho funcionalista ou positivista. Só depois saberíamos que movimentos semelhantes se passavam na Europa – Revista Hèrodote - e nos Estados Unidos – Antipode, a radical journey of Geography - com uma renovação da Geografia comprometida com a transformação social, movimento que renovava a Geografia de modo diferente de tanta renovação com que esse campo sempre se reivindica tal como Il Gattopardo de Giuseppe Lampedusa. AS FONTES, CONSTRUINDO UM PENSAMENTO PRÓPRIO Recém-formado na universidade vivi uma dessas experiências definitivas e, mais uma vez, com o Prof. Orlando Valverde em um trabalho de campo. Convidado pelo Mestre fomos a campo, na região da Zona da Mata Mineira, para um trabalho de geografia agrária. Naquele “mar de morros” característico da região, como bem caracteriza a região o geógrafo Aziz A’ Saber, amigo do Prof. Valverde, em determinado momento no alto de um vale, numa posição privilegiada para observar a paisagem e o mosaico de pequenos estabelecimentos onde se praticava uma agricultura de autosustentação, o Prof. Valverde, para minha surpresa e até mesmo desconfiança, começara a dissertar sobre o sistema de uso da terra, no caso, sobre o sistema de rotação de culturas que ali se praticava. A chave daquela leitura, nos explicara mais tarde, eram os diferentes estágios de capoeira que ele vislumbrara e que permitia ler os passos que aquelas famílias deram com seu uso da terra. Seus muitos anos de trabalho de campo autorizavam a interpretação. Mas não ficamos por aí: baixamos ao fundo do vale e fomos entrevistar os agricultores. Em meio a um diálogo, que eu observava e anotava atentamente, o Prof. Valverde pergunta ao agricultor camponês qual era a extensão da terra que cultivava. A resposta do camponês foi de que a terra que trabalhava era de tantos litros, não me lembro bem do número. O fato de que a terra se media em litros simplesmente me deixara desconcertado e mais desconcertado ainda fiquei com o fato de a resposta não ter gerado nenhum estranhamento ao Professor Valverde. Confesso que acreditei me encontrar diante de outra língua, que não entendia: medir a área em litros me deixara sem rumo. Ao final do dia, depois de um bom banho e de um bom jantar, como sempre recomendava o Professor, nos sentávamos para avaliar o dia, nossas principais observações e dúvidas. Aproveitei para falar que não conseguira acompanhar mais a conversa do Professor com o Camponês depois daquela unidade de medida de área estranha, o litro. Foi quando o Professor me esclareceu dizendo que era comum em várias regiões do país (e do mundo, viria saber depois) o fato dos camponeses medirem a terra que cultivam pela quantidade de litros de sementes que conseguem cultivar e, assim, essa unidade de medida tem a ver com o sistema de uso da terra, com as técnicas e práticas culturais de cada grupo, com os modos como criam diante das condições de possibilidade que o meio oferece. E também como era sentido o meio ecogeográfico, para usar um conceito-chave de Jean Tricart, de quem o Professor Orlando Valverde era amigo e discípulo. E a expressão “como o meio era sentido” tem aqui um sentido forte, pois o relevo, o clima, o solo e a umidade são sentidos e experimentados (3) e, a partir, daí são elaborados criativamente também através das trocas de conhecimentos tradicionalmente experimentados e transmitidos. Mais tarde viria encontrar no historiador marxista E. P. Thompson a riqueza do conceito de experiência, de que aqui me vali para superar certo marxismo estrutural-funcionalista que tanto mal viria fazer à Geografia e que subestima a importância da experiência e da cultura, vistas como superestrutura. Enfim, começavam a ganhar sentido de modo mais concreto para mim as aulas de Antropologia da Professora Luitgarde Cavalcanti, agora com forte sentido geográfico e social, pois mergulhavam no mundo camponês com as feições sociogeográficas da Zona da Mata Mineira à época. Na segunda metade dos anos 1970, um encontro fortuito me aguçaria uma perspectiva propriamente geográfica das contradições da sociedade brasileira quando conheci um dos fundadores do Partido Comunista brasileiro, o Sr. Otavio Brandão. Por fortuna da vida o conheci como vizinho no conjunto Equitativa, em Santa Tereza onde morávamos. Otávio Brandão vivera no ostracismo no final de sua vida quando o conheci. Com ele aprendi que, em 1928, o PCB ainda na clandestinidade lançara o primeiro operário como candidato à Presidência da República pelo Bloco Operário-Camponês, o marmorista de Magé Minervino de Oliveira. De Otavio Brandão me ficou a firme convicção de que é preciso conhecer por dentro a diversidade sociogeográfica do país, como insistira em me dizer que o jornal A Classe Operária, que fundara em 1925 junto com Astrogildo Pereira, deveria manter correspondentes nos seringais da Amazônia, nos cacauais da Bahia, nos canaviais do Nordeste, para ficar com os exemplos que guardo na memória explicitamente citados por ele. Posso afirmar que a convivência com Otávio Brandão me trouxe um conhecimento decisivo da importância (1) do estudo da formação social (4) do capitalismo no Brasil e reforçara (2) a convicção da importância do estudo das condições naturais para os processos emancipatórios, haja vista Otavio Brandão ser farmacêutico e ter grande interesse em História Natural, como não se cansara de me afirmar. E pode ser constatado em seu livro Canais e Lagoas, onde registra pela primeira vez a existência de petróleo no Brasil, o que lhe valeu uma polêmica com Monteiro Lobato a quem é atribuído o descobrimento do petróleo no Brasil. Registre-se que Monteiro Lobato reconheceria, mais trade, o mérito de Otavio Brandão, como o próprio Otavio Brandão se orgulhava em dizer. O ano de 1976 me permitiu reunir condições mais propícias para a minha formação propriamente como um profissional de geografia e, com isso, forjar uma perspectiva teórica que pouco a pouco ganharia seus contornos próprios. Para isso muito contribuíram três experiências vividas em três lugares distintos, a saber: (1) ter ingressado como professor num departamento de Geografia, no caso, na PUC-RJ onde permaneceria até 1987; (2) ter fundado com filósofos, sociólogos, politólogos e historiadores o SOCII – Pesquisadores Associados em Ciências Sociais – e; (3) ter vivenciado uma experiência de forte conteúdo social e de enormes consequências em minha formação teórico-política em Campos dos Goitacazes, município do norte do estado do Rio de Janeiro onde ministrava aulas de Geografia na Faculdade de Filosofia de Campos. Vejamos cada um desses fatos em seu momento-lugar. A convivência com professores-pesquisadores no departamento de Geografia da PUC-RJ me permitiu um mergulho mais profundo e sistemático no campo da Geografia, o que me permitiu ousar escrever, em 1978, o artigo A Geografia está em Crise. Viva a Geografia, ao qual voltarei mais adiante. A convivência na PUC-RJ me proporcionou a oportunidade de produzir de modo mais sistemático enquanto profissional de Geografia, haja vista estar num departamento de Geografia com toda responsabilidade de formar profissionais no campo. Ali, a convivência com o Prof. Orlando Valverde e com o Professor Ruy Moreira, me levaram à convicção da importância de desenvolvermos uma Geografia Crítica implicada com a busca de um espaço mais generoso, mais igualitário, mais democrático. No entanto, dessa vivência na PUC-RJ não posso deixar de registrar, pelas implicações que trariam à minha trajetória intelectual, que é o que aqui nesse Memorial cabe destacar, a influência de um aluno, José Augusto Pádua, hoje Doutor em História e responsável por protagonizar no Brasil um novo campo de conhecimento de enorme interesse para a Geografia, qual seja a História Ambiental. Foi esse brilhante aluno que me apresentara uma nova literatura acerca de um campo que hoje chamaríamos Ecologia Política. Isso, com certeza, fortaleceu minhas convicções acerca da importância de sempre considerarmos a inscrição metabólica da sociedade, o que fortalecia certa perspectiva teórica dentro da Geografia, mas com fortes implicações políticas, sociais e geoecológicas, para ficar com os termos de Carl Troll (1899-1975), ou ecogeográficas, para ficarmos com os termos de Jean Tricart (1920-2003). Foi esse aluno, por exemplo, que me apresentou um Josué de Castro que desconhecia, profundamente implicado com a questão ambiental sem deixar de vê-la profundamente implicada com a questão social, do modo próprio como J. de Castro a via sempre mediada pela questão da fome e do subdesenvolvimento, a ponto de afirmar o “subdesenvolvimento: causa primeira da poluição”, título de sua apresentação no Colóquio sobre o Meio durante a Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, em junho de 1972. Assim, através de José Augusto Pádua esse aluno-professor, reforçava minhas afinidades com os temas agrário e ambiental, com uma Geografia Crítica preocupada com as relações sociais com a natureza. A experiência no SOCII – Pesquisadores Associados em Ciências Sociais – onde convivi com cientistas sociais de diferentes formações acadêmicas e de posições teórico-políticas variadas mas que também se reivindicavam como pensamento crítico, me permitiu não só um maior domínio da complexidade do social que nossa formação de geógrafos tende a ignorar com a visão dominante de um homem genérico (“ação antrópica”, “ação humana”, argh!!!!), como também a ver a amplitude do pensamento crítico, mais amplo que o marxismo que abraçava. (5) Entre as minhas atividades no SOCII, merece destaque o fato de, por cerca de 8 anos, ter ministrado um curso de “Leitura de Marx”, inicialmente sob a direção intelectual do sociólogo Michel Misse. Ali, coletivamente lemos desde “As Diferenças entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro”, que Marx escrevera ainda muito jovem, até as cartas à Vera Zasulich que Marx escrevera já em 1882. Essas leituras, que não deixaram de passar por O Capital: Contribuição à Crítica da Economia Política e pelo Capítulo Inédito, me levaram à firme convicção do caráter abarcador do capitalismo na conformação do sistema mundo que vivemos e da necessidade de sua superação para podermos pensar uma sociedade mais justa e também ecologicamente responsável, já começava a dizer à época, o que já me colocava numa posição estranha ao marxismo estrutural funcionalista e de forte inspiração na economia política. Minha abertura à diversidade cultural, em grande parte derivada de minhas aulas de Antropologia, mas que, de modo próprio, acompanha a história da geografia como insistiam meus professores na graduação de inspiração hartshorneana – a geografia como estudo de diferenciação de áreas – ou de inspiração lablacheana – com seus gêneros de vida –, além da convivência com múltiplas visões que se reivindicam do campo do pensamento crítico nas Ciências Sociais, me levaram, confesso, a prestar mais atenção ao subtítulo de O Capital - Contribuição à Crítica da Economia Política - do que ao título propriamente dito. Fui formando a convicção, que hoje tenho como segura, de que Karl Marx (1818-1883) foi, na verdade, o primeiro grande antropólogo da sociedade capitalista moderna e industrial ao nos revelar como uma determinada sociedade institui relações sociais e de poder que põem a economia no centro do imaginário e das suas práticas. Daí que O Capital mais que um livro de Economia Política ser uma contribuição à crítica da economia política o que tem sérias implicações epistêmicas e políticas, entre outras, a de que a luta para superar o capitalismo não é uma luta para, simplesmente, instaurar um outro modo de produção, como se fosse a produção que devesse comandar todo processo de instituição social. Mas antes que essa ideia ganhasse a convicção que hoje tenho a respeito da questão, embora com certeza foi nesse momento que ela começava a fazer sentido para mim, foi a emergência das lutas sociais no Brasil de finais dos anos 1970, que me levaram a buscar e encontrar novos caminhos de investigação científica. Comecei a entender que embora conhecesse razoavelmente bem o que no jargão marxista chamamos “lógica do capital”, eu conhecia muito pouco a lógica dos que resistiam ao capital, se é que cabe essa expressão aqui. E não era qualquer coisa, pois o movimento operário que começava a mostrar sua força no ABCD paulista, vinha acompanhado de movimentos de bairro, de movimentos contra a carestia, de movimentos de mulheres, enfim, de uma série de outros movimentos sociais, como o movimento ecológico, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento gay, como inicialmente se afirmaram grupos sociais com outra opções de gênero, e que mereceu uma fina análise em uma tese que viria a ser livro com o belo título “Quando Novos Personagens entram em Cena”, de Eder Sader. (6) Desde então, percebi que compreender a lógica do capital (7), embora necessária, não era suficiente, o que implicava buscar entender melhor a luta dos grupos/classes sociais que lutam para afirmar o que consideram uma vida digna e justa. Que há lutas contra o capital mais além das lutas de classes, até mesmo “lutas de classes sem classe” como afirmaria o historiador marxista E.P. Thompson com quem cada vez mais me afinava. E também uma aproximação com um sociólogo não-marxista, como Pierre Bourdieu, que afirmara certa vez não gostar de teoria teórica, o que me chamou muito atenção até porque a frase é densa, pois não se trata de não gostar de teoria, mas sim de não gostar daquelas teorias que abandonam o mundo e caminham, no pior sentido que a palavra teoria muitas vezes adquire, qual seja, de se desligar do mundo mundano, do mundo sublunar. Enfim, isso me levou a um interesse direto em estudar as lutas sociais, em termos mais precisos conceitualmente, investigar movimentos e conflitos sociais, temas que, a rigor, não fazem parte da tradição da Geografia. Confesso que ao longo dos anos 1980 isso se constituiu num verdadeiro dilema para mim, enfim, como trabalhar geografia e movimentos sociais? Esse dilema só começou a ser resolvido em finais dos anos 1980, mas tem uma relação direta, e que só mais tarde perceberia, com a experiência vivida em 1976 no município de Campos dos Goitacazes. Revisitemo-la. Mais uma vez, agora em Campos dos Goitacazes, os estudantes tiveram papel decisivo na minha educação. Afinal, foram eles que me envolveram numa experiência que se tornaria decisiva em minha formação. O município de Campos, tradicionalmente produtor de cana de açúcar, é dominado politicamente por uma poderosa e quincentenária oligarquia latifundiária. (8) Pois bem, naquele momento, as oligarquias latifundiárias da cana viviam um novo momento de sua afirmação e, mais uma vez, com um projeto de grande interesse político, como acontecera no período da invasão/conquista colonial, agora se apresentando como protagonista de um novo projeto de interesse nacional, o Proálcool. À época, o país passava por um grave problema de abastecimento de combustíveis em função da dependência das importações de petróleo e que tinha graves implicações no balanço de pagamentos pelo elevado custo de importação de petróleo, agravado pelo primeiro choque do petróleo de 1973. A solução técnica de produzir etanol a partir da biomassa de cana resolvia, em parte, a crise do país e, assim, os latifundiários da cana resolviam seus problemas de acumulação de capital e, mais uma vez, se tornavam heróis (9) de projetos políticos estatais. Essas ligações atávicas patrimonialistas, hoje rebatizadas como parceria público-privada, sempre estiveram presentes em nossa formação social desde as sesmarias (os latifúndios que ainda nos comandam) até as concessões dos espaços das ondas magnéticas de transmissão de rádio e televisão (os latifúndios do ar). Afinal, os “homens de cabedal” foram atraídos para investir no Brasil com o favor dos Reis de Portugal que lhes concederam sesmarias que seriam devolutas caso não conseguissem ocupar o território, objetivo maior do Estado colonial. Assim, os “homens de cabedal”, os filhos de alguém (fi’d’algo), amigos do rei recebiam sesmarias e, caso conseguissem ganhar dinheiro explorando o Brasil na empreitada, afirmavam o interesse do Estado português de conquistar o território. Como se vê as lógicas capitalista e territorialista se complementam. (10) E observemos que, desde os primeiros momentos de nossa formação dependente e colonial que “os donos do poder” (Raimundo Faoro) se forjaram com íntimas relações entre o público e o privado, o nosso estado patrimonialista e cartorial. E não só isso, o fizeram tanto no século XVI, desde 1532, como no século XX a partir de 1974 (Proálcool), sempre com o mais sofisticado desenvolvimento tecnológico de cada época, haja vista não haver, na Europa, no século XVI, engenhos de açúcar vocacionados para exportar para o mercado mundial (já commoditties?), como havia em Campos e em Pernambuco (e também em Cuba e na Ilha de São Domingos, Haiti incluído). Enfim, nos anos 1970 a modernização conservadora se atualiza com a produção de energia a partir de biomassa de cana com o Proálcool. Nada mais moderno, e colonial, do que o latifúndio monocultor de exportação, suas tecnologias modernas e injustiça social com a super-exploração da natureza e do trabalho, inclusive com o renascimento do trabalho escravo. O agrobusiness tem 500 anos! Como sempre ocorrera com esses projetos de acumulação e conquista territorial não foram poucos os conflitos e não foram poucas as tensões de territorialidades como, mais tarde, eu haveria de nomear essas conflitividades. Meus alunos da disciplina de Geografia Humana no curso de História da Faculdade de Filosofia de Campos, onde eu trabalhava naqueles idos de 1976, vieram me buscar para que eu fizesse um relatório que ajudasse a defesa dos camponeses - agricultores e pescadores – do distrito de Ponta Grossa dos Fidalgos, cujos principais líderes estavam, naquele momento, presos por lutarem contra uma obra que aprofundava o canal de Barra do Furado que comunicava a Lagoa Feia com o mar. O aprofundamento desse canal fazia com que a água da Lagoa Feia vazasse e, assim, diminuía a área da lagoa e ampliava a área disponível para o cultivo de cana de açúcar que se expandia estimulada pelo Proálcool. Os agricultores-pescadores que antes tinham acesso à lagoa nas imediações de suas casas passavam a ter que percorrer distâncias cada vez maiores para acessar seus barcos e poder pescar. Meus estudos para tal relatório acerca daquela lagoa revelaram, através de fotografias aéreas que, em apenas 8 anos, entre 1968 e 1976, a área da Lagoa Feia diminuíra de 350 Km² para 172 Km², ou seja, a lagoa perdera mais de 50% de sua área. Registre-se que à época vivíamos sob uma ditadura empresarial-militar e que um dos maiores latifundiários da região, o Sr. Alair Ferreira, era também dono da empresa Cobráulica – Companhia Brasileira de Obras Hidráulicas – além de ser Presidente da Arena, partido oficial da ditadura e, ainda, dono dos principais meios de comunicação do município. Ali me vi implicado, pela primeira vez, diretamente num conflito na condição de profissional de Geografia. Enfim, a questão da relação entre geografia e conflito social começava a entrar na minha vida, embora ainda não entrasse em minhas formulações teóricas de Geografia. Aliás, essa desconexão entre estar implicado com a luta social e a teoria geográfica propriamente dita, me acompanharia alguns anos, com se poderá ver mais adiante. Enfim, em Campos me vi entrando na Lagoa, acompanhando agricultores-pescadores, para tentar entender o que se passava e argumentar tecnicamente sobre a situação que, hoje, chamamos conflito socioambiental ou conflito territorial. Confesso, que o que mais me chamou a atenção naquele momento e que já, desde ali, me marcaria do ponto de vista teórico-político foi ver que aqueles camponeses, a partir de outros recursos cognitivos, tinham um refinado conhecimento da dinâmica lagunar. Ali, também, me sentira muito à vontade pelo domínio que eu tinha da dinâmica lagunar em geral por todo o aprendizado que tivera nas pesquisas de Geomorfologia Costeira com o professor Dieter Muehe. Aquela convicção que a dinâmica ecogeográfica ou geoecológica é fundamental para o devir social ganhava ali um conteúdo empírico-concreto com enormes implicações epistêmicas e políticas para mim. Enfim, formei a convicção que há muitas matrizes de racionalidade distintas e, assim, múltiplas epistemes desenvolvidas por diferentes povos/comunidades/etnias/grupos/classes sociais. Aqui se juntavam meus múltiplos encontros (1) com meus professores como Luitgarde Cavalcanti, Dieter Muehe, Waldemar Mendes, Orlando Valverde e Otávio Brandão que, embora muito diferentes entre si, me inspiraram a ser como sou do ponto de vista teórico e político; (2) com meus amigos do SOCII que tanto me deram em termos de compreender a complexidade do social e a abertura teórico-política e, porque não dizer, ideológica, ainda que não abrindo mão do marxismo e (3) com o diálogo de saberes advindo da cultura popular. O primeiro esboço de afirmação desses princípios enquanto geógrafo se deu com meu artigo A Geografia Está em Crise. Viva a Geografia! apresentado no Encontro Nacional de Geógrafos em Fortaleza, em 1978. Esse artigo e essa participação no encontro da AGB associariam definitivamente minha trajetória intelectual com a AGB, com a Geografia Crítica e com a história recente da Geografia brasileira. Ali já esboçara a ideia que não se pode entender a crise da ciência geográfica ignorando a geografia da crise da sociedade em que ela está inserida. Essa ideia que ali começara a germinar ganharia consistência com minha aproximação com outro intelectual marxista, Cornelius Castoriadis, que fundara o Grupo Socialismo ou Barbárie. Desde então, passei a entender que não basta buscar outros paradigmas para substituir os paradigmas existentes, mas a entender que os paradigmas não caem dos céus. Ao contrário, são instituídos no terreno movediço da história – a geografia – por grupos/classes sociais que os instituem através de processos determinados que, eles mesmos, de alguma forma constituem e por eles são constituídos. Enfim, reforçava-se a tese que as ideias sobre o mundo são ideias do mundo e nascem em geografias determinadas situadas em tempos determinados. O que só reforçava a ideia de estudar cada vez os movimentos sociais. Começo a vislumbrar um possível caminho teórico onde vejo que as lutas sociais e os conflitos são momentos/lugares privilegiados do ponto de vista epistemológico. Afinal, num conflito determinado existem, pelo menos, duas visões de um determinado problema que está sendo posto como questão por aqueles e aquelas diretamente interessados/as. Assim, a contradição deixa de ser uma lógica (dialética?) abstrata e passa a ser entendida como contradição em estado prático e, desse modo, aberta às vicissitudes históricas e geográficas por meio das quais os grupos/classes sociais se forjam. Assim, os grupos/classes sociais não se forjam antes, seja em termos lógicos ou cronológicos, às relações sociais e de poder que contraditoriamente engendram e que os/as engendra. Como diria E. P. Thompson, na expressão luta de classes o termo forte é luta e não classe, cito de memória, pois é no conflito que os lados se conformam, que as identidades se forjam. O velho e bom antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira já afirmara, nos anos 1960, que toda identidade é contrastiva. Enfim, a ideia de uma geografia dos conflitos estava latente e viria a ganhar sentido em finais dos anos 1980. Não poderia deixar de registrar esse meu primeiro momento de reflexão teórica com relação à Geografia pelo significado do momento de inflexão na geografia brasileira que, por fortuna, me vi diretamente envolvido em 1978, no III Encontro Nacional de Geógrafos da AGB, em Fortaleza. Registre-se que minha presença naquele evento se deu por insistência do Professor Roberto Lobato Correa por minha interpretação gramsciana dos vários artigos que ele havia indicado em sua disciplina sobre teoria e método em Geografia. Entretanto, seu reconhecimento de que o paper final que eu apresentara à sua disciplina e que ele insistira para que eu apresentasse no encontro da AGB não me deixava seguro para o que, no fundo, me preocupava, ou seja, a consistência para a formulação de uma teoria social crítica ao capitalismo. Com todo o respeito que eu tinha, e tenho, pelo Prof. Lobato Correa, levei o texto para um refinamento crítico junto aos meus colegas do Socii. Reitera-se aqui, como se vê, a ambiguidade que me acompanhava entre ser profissional de geografia e um ativista implicado com as lutas sociais anticapitalistas. Todavia, registro que o aval do Prof. Lobato Correa foi decisivo para me indicar que esse caminho era, de algum modo, possível. Ver assistindo minha exposição no III ENG em Fortaleza a figura de meu mestre Orlando Valverde ao lado de Caio Prado Jr. e de Milton Santos foi tão inspirador como conhecer outros geógrafos que buscavam uma geografia crítica com inspiração marxista, como Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Armén Mamigonian e Armando Correia da Silva para não dizer do sopro de entusiasmo trazido pela protagônica participação dos estudantes naquele histórico encontro da AGB de 1978. Por fortuna, o título de meu artigo seria uma boa epígrafe para o que ali se sucedia: A Geografia está em Crise. Viva a Geografia! Mais uma vez, a AGB se tornaria um verdadeiro território livre para a formação de geógrafos por fora dos controles acadêmicos, território esse que, por exemplo, proporcionou que talentos como Orlando Valverde e Milton Santos, entre outros, se afirmassem junto à comunidade geográfica. Milton Santos, por exemplo, começara a frequentar as assembleias da AGB na condição de professor de ginásio e, por seu talento reconhecido por professores como Manoel Correia de Andrade, Orlando Valverde e Pasquale Petrone, passara a receber convites para continuar participando das reuniões da AGB. Mais tarde, no ano 2000, na condição de Presidente da AGB tive a honra de assistir à última participação do Professor Milton Santos no XII Encontro Nacional de Geógrafos, em Florianópolis, cuja participação, registre-se, se deu em condições limite de seu estado de saúde e por insistência dele. Sua gratidão para com a AGB está registrada não só pelo documento O Papel Ativo da Geografia: Um Manifesto que ali lançaria como também pelo convite que faz em seu artigo na Folha de São Paulo no dia 16/07/2000, dia da abertura do encontro da AGB, para que a sociedade brasileira prestasse a atenção ao que os geógrafos debateriam naquele encontro. Enfim, como se pode ver minha trajetória intelectual teórico-política estaria definitivamente marcada por esse território aberto que contraditoriamente tem sido a AGB. E não se pode dissociar todo esse processo de invenção de um pensamento crítico na Geografia brasileira ao momento de luta contra a ditadura empresarial-militar (1964-1985) que, fechando espaços de participação política, fez com que a sociedade investisse em espaços não abertamente políticos, como a AGB e a SBPC, como fóruns de debate político. Afinal, como a crítica é inerente ao campo científico e filosófico, pelo menos naqueles fóruns era possível pensar criticamente o Brasil e o mundo. Enfim, desde os finais dos anos 1970 e sobretudo na década de 1980, num contexto de renovação crítica da Geografia e de luta da sociedade brasileira e latino-americana contra ditaduras civil-militares, começo a participar da formulação de uma teoria social crítica a partir da Geografia onde têm um lugar central (1) a dinâmica sociometabólica(11) e (2) a dinâmica contraditória das relações sociais e de poder com seus conflitos e movimentos sociais que vão geografando o mundo. Minha contribuição junto com intelectuais da antropologia, direito e sociologia implicados com o movimento dos seringueiros na criação das Reservas Extrativistas talvez seja a principal consolidação desses muitos encontros. Identifico esse momento como um aprofundamento do que assinalei no conflito envolvendo camponeses-pescadores em Ponta Grossa dos Fidalgos na Lagoa Feia no município de Campos em 1976. Agora, em finais dos anos 1980, o conflito e o movimento social começam a ganhar estatuto de uma teoria crítica em Geografia de modo explícito e aquela Geografia implicada no sociometabolismo aprendida com O. Valverde e, por sua influência em J. Tricart e Aziz Ab’Saber, se afirma em definitivo e, mais, vinda dos seringais a que tanto se referia Otávio Brandão. Aquela ambiguidade já assinalada várias vezes entre o cidadão ativista preocupado com a transformação social e o geógrafo sem uma teoria crítica que apontasse na mesma direção começa a se dissipar em finais dos anos 1980. Confesso que não foram muitas as companhias que encontrei na geografia brasileira para isso, posto que, à época, ela estava muito influenciada por uma marxismo estrutural-funcionalista prisioneiro de uma economia política onde a economia era determinante em primeira instância. O espaço chegou mesmo a ser considerado uma instância. Entre as influências mais positivas estão Regina Sader, Ariovaldo Umbelino de Oliveira e, já na época, o jovem Marcelo Lopes de Sousa nos oferecia um dos melhores ensaios já produzidos entre geógrafos brasileiros – Espaciologia, uma objeção - e que tomei a iniciativa de recomendar com ênfase à Revista Terra Livre para que o publicasse. O foucaultiano Claude Raffestin e o marxista italiano Massimo Quaini me serviram de referência na formulação de uma teoria social crítica em Geografia. No plano mais amplo das ciências sociais e da filosofia fui buscar referência em E.P. Thompson, Cornelius Castoriadis e Pierre Bourdieu. Esse esforço de reflexão teórica teve uma forte inspiração fora da academia por meu envolvimento, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 1980, com os grupos/classes sociais a partir (1) dos varadouros, dos igarapés, dos furos e dos paranás da Amazônia, e (2) das chapadas e das veredas dos cerrados a princípio a partir do Norte de Minas Gerais com experiências com técnicos, agrônomos e camponeses com práticas agroecológicas e com a América Latina. Enfim, esses encontros marcariam minhas reflexões teórico-políticas emprestando-lhes um maior rigor não só com relação ao campo ambiental, mas também enquanto geógrafo, sobretudo pela relevância que nela tem a problemática sociometabólica. Nessa construção de uma teoria social crítica a partir da Geografia, os grupos/classes sociais em situação de subalternização em luta por justiça territorial e ambiental tiveram uma grande influência nessa formulação, sobretudo nas três regiões acima referidas com as quais venho mantendo uma relação intensa, a saber, no Brasil, os Cerrados e a Amazônia, e, ainda, a América Latina. Nesse encontro com essas regiões e essa gente, houve um intenso diálogo com seus intelectuais tanto os da academia como os de fora dela, como Chico Mendes. EM BUSCA DE UMA TEORIA SOCIAL CRÍTICA A PARTIR DA GEOGRAFIA 1. DESDE A AMAZÔNIA COM SEUS POVOS Devo à Prof.ª Lia Osório, minha orientadora no Doutorado, uma fina observação que me chamou a atenção para o lugar de enunciação, de certa forma afortunado, de minha relação com a Amazônia. Normalmente o debate acerca da Amazônia é mais um debate sobre a Amazônia e que ignora a perspectiva própria dos amazônidas. A Prof.ª Lia Osório me chamou a atenção que eu dominava o discurso sobre a Amazônia e, por minha vivência com os movimentos sociais da região, eu tinha acesso também à visão dos amazônidas e, assim, eu experimentara essa dupla perspectiva, de dentro e de fora. E entre os de dentro da região ganha destaque minha vivência com os grupos sociais em situação de subalternização em luta para superar essa condição, no caso com os seringueiros. Essa observação de Lia Osório havia sido densamente experimentada junto com meu Mestre Orlando Valverde com quem participara, em 1991, da Audiência Pública em Laranjal do Jarí em que se debateu o RIMA para construção da estrada AP-157 que ligava Macapá a Laranjal do Jari e que atravessa a Reserva Extrativista do Cajari (AP). Assessorando o CNS – Conselho Nacional de Seringueiros – lá pudemos experimentar as vicissitudes dos conflitos na Amazônia em que a audiência pública se fez com a proteção da Polícia Federal já que na véspera da audiência a principal liderança camponesa e dirigente do CNS, o Sr. Pedro Ramos, sofrera um atentado. Ali pudemos experimentar como a visão dos de fora combinada com a visão dos de dentro era capaz de potencializar a luta em defesa da Amazônia através de seus povos. Entretanto, foi em minha tese de doutorado defendida junto ao Programa de Pós-graduação em Geografia da UFRJ, em 1998, que de modo mais sistemático expus a relação entre a geografia, conflito e movimentos sociais onde a geografia é declinada em um tempo verbal em movimento como revela o próprio título da tese Geografando nos varadouros do mundo: da territorialidade seringalista (o seringal) à territorialidade seringueira (a reserva extrativista). Registre-se, aqui, a ruptura do paradigma que separa natureza e sociedade haja vista que a RESEX implica o reconhecimento do notório saber das populações acerca das condições materiais de produção-reprodução da vida. Através das RESEXs se politizava a natureza e a cultura através das relações sociais e de poder na apropriação e controle do espaço, enfim, tensão de territorialidades conforme registra o título da tese. Com isso se ratificava o que havia aprendido com os camponeses-agricultores-pescadores de Ponta Grossa dos Fidalgos, em Campos dos Goitacazes, em 1976, em situação de conflito. Mas aqui uma nova luz se abriu para que eu começasse a superar a ambiguidade entre o ativista e o geógrafo. Logo depois do assassinato de Chico Mendes, em 22 de dezembro de 1988, fui convocado pelos seringueiros para assessorá-los num trabalho específico para fazer o memorial descritivo de uma área que pretendiam reivindicar como RESEX, no caso para a área que viria a ser a maior RESEX demarcada, a Reserva Extrativista Chico Mendes envolvendo vários municípios tendo Xapuri como centro, numa área de mais de 1 milhão de hectares. Tal trabalho tinha caráter sigiloso para que as oligarquias acreanas não se antecipassem para impedir a reivindicação. Preparei um mosaico de oito imagens de satélite adquiridas junto ao INPE na escala 1:100.000 e sugeri, no que fui acatado, que tal reunião não tivesse somente as lideranças político-sindicais, mas também as figuras que eles reconhecessem como verdadeiros conhecedores da floresta, como os mateiros, por exemplo. Montado o mosaico de imagens para os cerca de 15 participantes da reunião, esclareci onde estava a cidade de Xapuri, o rio Acre, a BR-317 estrada que liga Rio Branco a Xapuri numa imagem de floresta fechada com marcas de desmatamento ao longo da estrada. Num primeiro momento houve estranhamento entre os participantes, haja vista que eles nunca haviam se visto de cima. Aquela perspectiva não era a deles, mas sim daqueles que veem o espaço do alto, de longe, à distância (seria esse o sentido de sensoriamento remoto?). No momento subsequente comecei a observar que eles moviam seus corpos e identificavam cercas manchas sutis de verde que, pouco a pouco, passaram a ser identificadas por eles como sendo suas “colocações”. Aqui a “colocação” do Assis, ali a “colocação” do Duda, acolá a “colocação” do Raimundão, me refiro à “colocação” de alguns seringueiros que estavam na reunião e que viam, além disso, os varadouros e as varações que as interligavam, marcas essas que, confesso, não reconhecia. A partir de um terceiro momento, se é que assim posso me referir, me dei conta de que eu era o que menos conhecia aquela geografia, haja vista os detalhes com que se referiam àquele espaço rigorosamente sob análise para fazer o memorial descritivo, etapa preliminar de um processo jurídico de demarcação de terra. Num quarto momento cognitivo me dei conta, pela primeira vez, que estava ajudando não só a demarcar a terra, mas a grafar a terra, a geografar. Que era possível grafar a terra a partir de outro lugar que não o Estado, conforme a tradição da Geografia por suas relações íntimas com o Estado que nos pariu. Começara a ficar claro para mim a relação entre movimento e conflito social, de um lado, e uma teoria social crítica a partir da Geografia. A Geografia, o espaço geográfico, mais que um substantivo é também verbo. E, junto com o movimento dos seringueiros, começava a vislumbrar que o conceito de território, naturalizado como base do Estado, estava sendo desnaturalizado posto que num mesmo território de um determinado estado haviam múltiplas territorialidades em disputa. O final dos anos 1980 e sobretudo os anos 1990 consagrariam a perspectiva de uma formulação teórico-política crítica como geógrafo advinda, sobretudo, da aproximação que os movimentos sociais de grupos/classes sociais em situação de subalternização me proporcionaram a partir de uma região periférica de países periféricos de um subcontinente periférico, a Amazônia, que me levariam a aprofundar minhas relações com duas regiões onde pude aprimorar a busca de uma teoria social crítica a partir da Geografia, a saber, os Cerrados e a América Latina. Afinal, a partir do movimento dos seringueiros do Acre ampliei minha relação com outras áreas da Amazônia brasileira, como os Cerrados em seus povos e também com a América Latina, nesse caso a partir dos camponeses de Pando e Beni na Bolívia. 2. EM BUSCA DE UMA TEORIA SOCIAL CRÍTICA DESDE A GEOGRAFIA: A AMÉRICA LATINA Muito embora minha geração tenha vivido um período histórico com as marcas da Revolução Cubana, das guerrilhas, da Aliança para as Américas, das ditaduras de direita (Brasil 1964, Pinochet 1973, ...) e dos governos nacionalistas revolucionários (Velasco Alvarado, no Peru, p.ex.) e, assim, tivesse ouvido Tarancón, Raíces de América(12), Mercedes Sosa, Victor Jara e outros artistas latino-americanos, foi a partir do movimento dos seringueiros que comecei a adentrar com os próprios pés (e mente) a América Latina. A partir desse lugar contraditoriamente privilegiado, Amazônia, pude viver o clima de emergência de um outro léxico teórico-político que só mais tarde viria ter ideia de sua profundidade. Afinal, foi de Trinidad, no Beni, que partiu em direção a La Paz a Iª Marcha por la Vida, la Dignidad y el Territorio. Mais tarde viria saber que da Amazônia equatoriana partira em direção a Quito outra marcha com a mesma consigna por la Vida, la Dignidad y el Territorio. Foi o que pude aprender de perto tanto assessorando movimentos sociais na Amazônia brasileira e boliviana como também nos preparativos da Aliança dos Povos da Floresta para a CNUMAD, a Rio 92. Ali, esses grupos/classes sociais explicitaram os “outros 500”, como se dizia à época, ao associarem o 1992 a 1492. Enfim, a Amazônia e seu indigenato(13) (Darci Ribeiro) ou campesíndios (Armando Bartra) e seus múltiplos povos/etnias/nacionalidades nos traziam ao debate um tempo ancestral, uma história de larga duração diria F. Braudel. Afinal, o que se debatia na CNUMAD era o destino da humanidade que, acreditava-se, estava ameaçado pelo desmatamento da Amazônia e todo um conjunto de questões que já indicavam a gravidade do tema ambiental. E aqueles grupos/classes sociais reivindicavam um lugar próprio nesse debate pelos conhecimentos que detém derivados de um tempo ancestral de convivência e não só na Amazônia, como o Fórum Paralelo à CNUMAD realizado no Aterro do Flamengo haveria de demonstrar com a presença de movimentos sociais do mundo inteiro. O debate ambiental ganhava uma dimensão para além dos gabinetes burocráticos e da academia. Para um geógrafo preocupado com uma geografia com centralidade nos processos sociometabólicos e com protagonismo dos grupos/classes sociais em situação de subalternização em busca de um espaço (um mundo) relativamente mais justo e relativamente mais democrático, para me apropriar de expressão consagrada por I. Wallerstein, o contexto não poderia ser mais alvissareiro. E a tese reivindicada por Milton Santos de que o espaço é acumulação desigual de tempos que nos traz a mesma inspiração de Marc Bloch da “contemporaneidade do não coetâneo” se fazia presente com os campesíndios/indigenatos com esses outros tempos falando através desses lugares marginais. Foi inspirado pelas demandas desses grupos/classes sociais que pude emprestar um sentido político às pesquisas de Azis Ab’ Saber ao correlacioná-las às pesquisas de Darell Posey e William Balée, Ana Roosevelt e Carlos Castaño-Uribe que nos falam da presença humana na região desde 19.500 anos na Formação Cultural Chiribiquete, na atual Amazônia colombiana (Castaño-Uribe e Van der Hammen, 2005)(14) , a 11.200 anos no Sítio de Pedra Pintada, em Monte Alegre, no Pará, (Ana Roosevelt). Ou seja, na Amazônia há ocupação humana antes mesmo da formação dessa imensa floresta equatorial que se formou de 12000 anos aos nossos dias, o que mereceu a caracterização de “floresta tropical cultural úmida” conferida por Darell Posey. A tese de Chico Mendes - “Não há defesa da floresta sem os povos da floresta” - seria materializada na proposta das RESEXs, haja vista que o notório saber daqueles grupos/classes sociais é que lhes conferia autoridade para pleitear a demarcação de seus territórios. Afinal, ninguém vive tanto tempo numa área sem saber coletar, saber caçar, saber pescar, saber se proteger das intempéries (uma arquitetura), sem saber curar-se (uma medicina), enfim sem saber, permitam-me a ênfase e a repetição necessária do saber diante de tanto olvido, como se no fazer não houvesse, sempre, um saber. Aquela ideia surgida em 1976 no conflito de Ponta Grossa dos Fidalgos, na Lagoa Feia, no município de Campos ganhava consistência e, mais uma vez, através de um conflito social, esse lugar privilegiado do ponto de vista epistemológico. Afinal, diferentes matrizes de racionalidade, mais uma vez, eram convocadas a um diálogo intercultural de saberes a partir de grupos/classes sociais em busca do que consideram uma vida digna. Enfim, a consigna Pela Vida, Pela Dignidade e Pelo Território nos indicava que um outro léxico teórico-político estava se colocando no horizonte. Aquela ideia surgida em 1976 no conflito de Ponta Grossa dos Fidalgos, na Lagoa Feia, no município de Campos ganhava consistência e, mais uma vez, através de um conflito social, esse lugar privilegiado do ponto de vista epistemológico. Afinal, diferentes matrizes de racionalidade, mais uma vez, eram convocadas a um diálogo intercultural de saberes a partir de grupos/classes sociais em busca do que consideram uma vida digna. Enfim, a consigna Pela Vida, Pela Dignidade e Pelo Território nos indicava que um outro léxico teórico-político estava se colocando no horizonte. Essa entrada pela Amazônia Profunda/América Profunda ganharia ainda maiores implicações com a aproximação com todo um campo de investigações como o Pensamento Ambiental Latino-americano, como chamaria Enrique Leff, e a Ecologia Política, onde a investigação científica se faz com fortes implicações com os grupos/classes sociais em luta por uma vida digna (ou buen vivir, ou vida plena, ou suma qamaña, ou sumak kausay ...), expressão que ganha centralidade nesse campo. Em 1997 tive a oportunidade de, pela primeira vez, experimentar a América Profunda fora da Amazônia brasileira e boliviana a convite de Enrique Leff para participar do Foro de Ajusco, na UNAM na cidade do México, para proferir uma conferência sobre a luta por território do movimento dos seringueiros. Ali fui convidado por um membro do movimento zapatista para visitar a Serra de Lacandona, em Chiapas, para que falasse diretamente aos campesíndios sobre a luta dos seringueiros. Lá pude conhecer a comunidade de Nuevo Paraíso onde ministrei uma palestra sob uma tenda coberta de palha para mais de 40 membros da comunidade, depois de caminhar mais de 10 Km sob a selva subindo e descendo a montanha. Para minha surpresa, nenhum dos campesíndios presentes me indagou, após a minha exposição, sobre a luta dos seringueiros, ao que eu dera tanta ênfase. Só me perguntavam, e com insistência, sobre o preparo da farinha de mandioca que eu expusera com fotos sobre o modo de vida dos seringueiros. E no meio da conversa é que me dei conta de que, para eles, o fato de o trabalho de preparo da farinha de mandioca implicar um trabalho coletivo durante todo o processo que vai do descascar, do ralar, do colocar no forno de lenha para torrar, tudo isso reunindo gente conversando e cantando, como expus, tinha para eles uma importância que, até ali, não era devidamente considerada por mim. Segundo eles, a mandioca produzia comunidade tanto quanto a comunidade produzia mandioca e farinha. Ou seja, havia uma dimensão para além da econômica, na produção de mandioca, ou melhor, na produção da comunidade. Mais uma vez, o diálogo de diferentes matrizes de racionalidade ampliava o conhecimento. Minhas aulas de antropologia com a Profa. Luitgarde, minhas conversas com o Prof. Orlando Valverde a partir de suas conversas com os camponeses de Barbacena, meu diálogo com os agricultores-pescadores de Ponta Grossa dos Fidalgos, ganhavam consistência com esse encontro com os campesíndios da Serra de Lacandona onde cheguei pelas mãos da ecologia política e do pensamento ambiental latino-americano, especialmente pelas mãos de Enrique Leff mas, sobretudo por meu envolvimento com o movimento dos seringueiros e pelas implicações que a Amazônia passara a ter com sua proposta da Aliança dos Povos da Floresta – “Não há defesa da floresta sem os povos da floresta” -, haja vista a tradição colonial de ver a região como natureza e como vazio demográfico. Talvez aqui se possa ver a importância que atribuo ao título de minha tese de doutorado: Geografando nos varadouros do mundo; da territorialidade seringalista (o seringal) à territorialidade seringueira (a reserva extrativista). Enfim, a geografia se torna verbo e o território, conceito até então naturalizado - território como base natural do estado - é desnaturalizado e, assim, esses movimentos nos mostram que há, sempre, uma tríade conceitual território-territorialidade-territorialização, enfim, tensões territoriais. 3. EM BUSCA DE UMA TEORIA SOCIAL CRÍTICA A PARTIR DA GEOGRAFIA - DESDE OS CERRADOS Desde finais dos anos 1980 passei a ser convidado por jovens agrônomos e técnicos de agronomia que protagonizavam uma ampla luta por uma agricultura alternativa, como se chamava à época, e que mediam forças contra o avanço das grandes monoculturas com amplo uso de agrotóxicos. Quem me abriu esse caminho nos cerrados foi Carlos Eduardo Mazzetto Silva, engenheiro agrônomo que viria, depois, se tornar geógrafo. (15) A princípio não os conhecia pessoalmente e o que nos teria aproximado foi o fato de terem lido meus escritos sobre a problemática ambiental para além de uma perspectiva ecológica, enfim, com minha preocupação com a transformação social necessária para que tenhamos outra relação com a natureza. Nossas afinidades eram muitas, mas talvez a principal fosse a premissa da importância do diálogo entre o saber técnico-científico convencional produzido nas universidades e o conhecimento vernacular de camponeses, indígenas e quilombolas. A partir desse encontro pude sentir de perto e conhecer por dentro as chapadas e as veredas dos cerrados, a princípio a partir do Norte de Minas Gerais. Concretamente foi a partir desse encontro/diálogo que percebi que, além do conhecimento científico e do conhecimento popular, a arte é uma poderosa fonte de produção de conhecimento. Foi a partir desses encontros que descobri a importância da obra de Graciliano Ramos, em particular Grandes Sertões, Veredas. Ali, pude entender que, no próprio título dessa obra, Graciliano Rosa consagrava as duas grandes unidades da passagem, tal como os povos do cerrado marcam a terra: os “grandes sertões” são onde “o mundo carece de fechos”, pois as chapadas são “Geraes”, terra comum a todos (Geral) e onde não há cercas, onde “a água sorveta feito azeitim entrador”, pois infiltra e, diz-nos Rosa, são uma caixa d’ água; e as “veredas” são os lugares onde se planta, o fundo dos vales. Ali pude entender que o diplomata sensível haveria de fazer com que o saber dos geraizeiros se tornasse universal nos mostrando as múltiplas universalidades possíveis no mundo (pluriversalidades?), já que sua obra haveria de ser traduzida para tantas línguas para tantos lugares e culturas. Afinal, qual seria o interesse de um alemão ler Grande Sertão, veredas não houvesse algo comum com os geraizeiros? Novamente minha professora de Antropologia Luitgarde Cavalcanti e meus mestres Orlando Valverde e Otávio Brandão se mostravam inspiração. Ali, a partir do Norte de Minas pude me conectar com todo um movimento de agricultura alternativa, de agroecologia e de tecnologia alternativa que estava sendo posto em prática em várias localidades do país e que tinha na FASE e na Rede AS-PTA uma das suas principais redes de apoio. Ali pude colaborar com o CAA-NM, desde finais dos anos 1980, e com o CEDAC já nos inícios dos anos 2000. Toda a pesquisa que desenvolvi acerca dos cerrados na universidade foi feita com um profundo diálogo com esses saberes dos povos dos cerrados e para fortalecer a afirmação desses grupos/classes sociais. Mais uma vez meus alunos e o movimento social haveriam de aprofundar meus conhecimentos e a firmar a convicção de que o conflito social é um fenômeno privilegiado do ponto de vista epistemológico, pois, no mínimo, nos oferece duas perspectivas diferentes sobre um determinado problema/questão. Desde 1996 comecei a supervisionar a implantação de um curso de formação de professores de Geografia na região do Médio Araguaia, com base no município de Luciara-MT, na UNEMAT, onde também ministrava disciplinas, como a de Formação Territorial do Brasil. Ali tive a fortuna de poder contar com um indígena, Samuel Karajá, também formado em Direito, para ministrar uma aula magna sobre a Formação Territorial do Brasil desde a perspectiva de um indígena(16) deslocando toda a turma para dentro da sua aldeia. A ideia de conflito ou tensão de territorialidade se mostraria com toda força e, anos depois, ouviria de um doutorando, Emerson Guerra, que “o processo de ordenamento territorial do estado é, ao mesmo tempo, um processo de desordenamento territorial”. Emerson Guerra formulara essa ideia a partir do seu trabalho com povos indígenas e saber/experimentar que o ordenamento territorial do Estado é, do ponto de vista indígena, desordenamento territorial. Quem ouvira Samuel Karajá falando da formação territorial do Brasil não poderia deixar passar sem espanto – primeiro ato de reflexão filosófica – a afirmação de Emerson Guerra. A região do Médio Araguaia vem sendo alvo de sucessivos avanços/invasões desde os finais dos anos 1950, sobretudo desde a construção de Brasília e das rodovias de acesso à Amazônia, com todo um movimento de antecipação no confisco/grilagem de terras por parte das oligarquias latifundiárias tradicionais do Mato Grosso pela posse de informações privilegiadas e do controle do aparelho de Estado, processo esse movido com muita violência. Esse processo ganha um novo fôlego na segunda metade dos anos 1990 com a nova ofensiva do agrobusiness através de grandes obras de infraestrutura de arranjo espacial (D. Harvey) para o capital. Na região do Médio Araguaia a obra que se anunciava naquele momento era a Hidrovia do Araguaia para a navegação e transporte, sobretudo de soja e gado. As condições geomorfológicas específicas da região, comandada pelo caráter da ampla planície inundável do rio Araguaia, a segunda maior área continental alagada do planeta com cerca de 2 milhões de hectares, provavelmente traria enormes consequências para os camponeses ribeirinhos e indígenas. Junto com o professor Alexandre Régio da Silva e meus alunos no curso de Geografia fizemos a análise crítica do EIA-RIMA podendo lançar mão dos conhecimentos que os alunos/professores tinham da região já que, em sua quase totalidade, eram filhos de camponeses ribeirinhos e indígenas. O título do documento que produzimos, depois publicado pela Revista Terra Livre da AGB, dá conta das tensões de territorialidades em curso na região – “Navegar é preciso, ... viver não é preciso: estudo sobre o Projeto de Perenização da Hidrovia dos Rios das Mortes, Araguaia e Tocantins” (Terra Livre, 15, ano 2000). O título do estudo/artigo dialogava criticamente com a apropriação que as elites locais faziam em defesa do projeto se apropriando de um verso do poeta Fernando Pessoa que diz que “Navegar é preciso”, conforme panfleto que circulava na região. Depois de analisarmos o EIA-RIMA e revisitarmos Fernando Pessoa vimos a sutileza do poeta que nos ensinava que navegar é coisa do mundo da precisão, do mundo das técnicas – “Navegar é preciso”. Já o viver não se reduz às técnicas, o viver não é do mundo da precisão, daí Pessoa nos dizer: “Viver não é preciso”. Ciência, conflito/movimento social e arte voltavam a se encontrar. Durante esse trabalho junto com alunos do Médio Araguaia muito aprendi com os saberes dessas populações, particularmente com os retireiros, grupo social que vem se constituindo a partir da luta para afirmar a posse comum dessas imensas áreas alagadas da planície do rio Araguaia. Retireiro é um nome que deriva de retiro, pequeno apartado que os vaqueiros destinam para tratar do gado quando precisa de algum cuidado, uma vacina, um curativo, um parto. Na região, é comum que esses vaqueiros trabalhem para fazendeiros e recebam a “quarta”, ou seja, de cada quatro reses a mais do rebanho que cuidam num tempo determinado uma rês é destinada à paga do vaqueiro pelo fazendeiro. Não possuindo terras, os vaqueiros costumam criar seu pequeno rebanho à solta nas terras alagadas do Araguaia enquanto uso comum das terras/águas. Num momento como aquele em que vivíamos na segunda metade dos anos 1990, em que se anunciavam grandes obras que davam acesso àquelas terras, a especulação sobre elas se exacerbava. Eis uma conclusão a que chegamos e que deu origem à luta dos vaqueiros/retireiros em defesa das terras comuns, inicialmente com a proposta de uma RESEX. Não é difícil ver como minha presença nos Cerrados do Médio Araguaia se fazia também com a inspiração amazônica dos seringueiros. Assim, certas práticas sociais que, a princípio, parecem ser locais se mostram passíveis de serem generalizadas e, nesses casos, o papel mediador dos intelectuais se mostra importante. Essa luta desencadeada por esses grupos/classes sociais na região do Araguaia seria responsável mais tarde pela maior arrecadação de terras por parte do Serviço de Patrimônio da União, ou seja, o SPU reivindica como terra pública uma área de um milhão e setecentos mil hectares, em suma, praticamente toda a área alagada do rio Araguaia! Registre-se, ainda, o trabalho que deu origem à demanda por uma UC, inicialmente uma RESEX, com os laudos biológico e socioeconômico necessários para a compreensão da territorialidade e a definição dos limites territoriais, nos proporcionou um intenso diálogo com os saberes/fazeres daqueles grupos/classes sociais. Nessas andanças pelos cerrados e pelos varjões, como os retireiros chamam as áreas sazonalmente alagadas do Araguaia, não era difícil nos ver acompanhados pelos Manoelzões locais, como Rubem Taverny um desses vaqueiros/retireiros. Todo esse mergulho nas chapadas e veredas dos cerrados me valeria um convite para que assessorasse a Articulação dos Povos dos Cerrados que, a partir de inícios dos anos 2000, várias entidades camponesas, quilombolas, indígenas, de pescadores e de técnicos de agronomia e agrônomos preocupados com a agroecologia passaram a conformar em defesa dos cerrados e seus povos. Dezenas de viagens e reuniões pelos cerrados de todos os estados dominados por essa formação biogeográfica foram realizadas onde pude aprender com não menos de 50/60 lideranças comunitárias por vez que traziam dos fundos das veredas ou das chapadas um enorme acervo de conhecimentos que se constituía num importante suporte para a defesa de seus territórios. A tese de Chico Mendes de que “não há defesa da floresta sem os povos da floresta” se generalizava sendo amplamente recriada como “Não há defesa dos cerrados sem os povos dos cerrados”. Ponta Grossa dos Fidalgos se mostrava um fio condutor e o Brasil dos seringais, dos canaviais, dos cacauais de Otávio Brandão energia também dos Cerrados. Do ponto de vista propriamente científico talvez seja relevante destacar a tese que emanou desse encontro de saberes, a saber, que os cerrados não correspondem somente à área de aproximadamente 22% do território brasileiro, como a ciência convencional vem salientando. O mapa de Aziz Ab’Saber reproduzido acima nos faz ver que a maior parte do território hoje ocupado pelo Brasil era dominada pelos cerrados, inclusive grande parte da Amazônia, há 12.000 anos antes do presente. Desde o Holoceno, quando as condições macroclimáticas do planeta passaram a conformar o período atual, que as formações florestais começam a ampliar sua área, como a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica e a Mata de Araucária. Nessa expansão das formações florestais sobre áreas de cerrados se conformam ecótonos, áreas de tensão ecológica, que abrangem entre 12% a 14 % do território brasileiro, o que nos mostra que à core-area dos cerrados devemos acrescentar de 12% a 14% de áreas de tensão, o que implica dizer que essa formação biogeográfica estaria presente em cerca de 34% a 36% do território brasileiro. O domínio biogeográfico dos cerrados é o único que mantém contato com as três grandes formações biográficas florestais do país, e ainda com a Caatinga. Entre essas áreas de tensão ecológica se incluem não só as duas maiores áreas continentais sazonalmente alagadas do planeta – O Pantanal e o Araguaia – como também duas áreas de altíssima complexidade ecológica como o são a Zona dos Cocais e o próprio Pantanal. E, mais, pela complexidade implicada nessas áreas de tensão ecológica, o conhecimento de detalhe, o conhecimento local, é imprescindível e essa é, talvez, a principal virtude do conhecimento camponês e dos povos que ocupam ancestralmente esses espaços. Sendo, assim, para a compreensão e conhecimento dessas áreas esses povos, com seus saberes/fazeres, são imprescindíveis. Como se pode ver, uma teoria social crítica a partir da Geografia vai sendo forjada a partir dos conflitos e dos movimentos sociais. QUANDO A MEMÓRIA ATUA, É ATUAL Dois outros encontros ocorridos nos anos 2000 vieram dar os contornos atuais dessa trajetória até aqui memorializada que, em termos acadêmicos, estou chamando de construção de uma teoria social crítica desde a Geografia: 1º: o encontro com o pensamento decolonial que se inscreve como parte do rico acervo do pensamento crítico latino-americano e; 2º: o encontro com a Comissão Pastoral da Terra. Comecemos pelo encontro com a CPT até porque eles se encontrarão mais adiante, como veremos. Minha trajetória pessoal se encontra com a da CPT em 2003 embora a criação dessa pastoral, em 1976, tenha se dado em função da intensificação dos conflitos por terra na Amazônia brasileira. Não deixa de ser uma fortuna esse encontro não pelas implicações religiosas que envolvem a CPT, mas por seu compromisso com a luta pela terra junto com os grupos/classes sociais. A CPT tem presença em todos os estados brasileiros e desde 1985 reúne o que, hoje, pode ser considerado o maior acervo de dados sobre conflitos por terra no país, com mais de 30.000 conflitos registrados. Em 2003 fui convidado para contribuir na análise dos dados consolidados dos conflitos para o Caderno de Conflitos no Campo publicação anual da CPT. Desde então, o conflito, conceito que já vinha marcando minha construção teórica, passa a ganhar cada vez maior destaque, como já registrado nesse Memorial em várias passagens anteriores. Insisto que esse encontro tenha sido uma verdadeira fortuna, pois dificilmente um pesquisador isoladamente conseguiria tanta informação qualificada sobre conflito por terra, inclusive por tudo que está implicado sociometabolicamente nesse conceito (Terra(17) -Água(18) -Ar(19) -Sol(20) -Vida(21) ). Desde então, vimos observando, como está registrado em nossas análises anuais do Caderno de Conflitos no Campo, o movimento contraditório desigual e combinado da geografia da sociedade brasileira, cuja melhor expressão é o próprio conflito, enquanto contradição social em estado prático, ou seja, enquanto dialética aberta. O conflito que havia sido experimentado desde Ponta Grossa dos Fidalgos e pelos retireiros do Araguaia passando pelos seringueiros do Acre e da Bolívia ganhava aqui, na relação com a CPT e seu enorme acervo, um caráter mais amplo passível de apreender o movimento contraditório da geografia da sociedade brasileira e como a geografia vai sendo marcada, ou melhor, como a sociedade vai se geografizando em sua inscrição metabólica para significar/fazer-produzir-reproduzir a vida. Esse encontro com a CPT potencializou o aprofundamento de minhas relações com o pensamento crítico latino-americano a partir de minha aproximação com a América Profunda pela Amazônia boliviana com os camponeses/gomeros, em inícios dos anos 1990, com os campesíndios maias da Serra de Lacandona, em 1997. Essa aproximação com os movimentos sociais se enriqueceu com as leituras e aprendizados com as novas vertentes da rica tradição do pensamento crítico latino-americano, como o pensamento ambiental, desde finais dos anos 1980, com os Seminários Universidade e Meio Ambiente, liderados intelectualmente por Enrique Leff, e que se reforçara com minha participação no Foro de Ajusco, em 1997, realizado na cidade do México. Essa potencialização a que me referi acima foi possível a partir de 2001 quando, em Guadalajara, participo da Conferência do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais e, pela primeira vez, entro em contato com o que viria ser caracterizado como pensamento decolonial. A leitura do livro “A Colonialidade do Saber: eurocentrismo e ciências sociais”(22) coordenado pelo sociólogo venezuelano Edgardo Lander me aproximaria dessa vertente que começava a ganhar visibilidade. Foi interessante me ver, logo depois, sendo convidado a participar de um GT de CLACSO sobre Economia Internacional que, logo depois, seria rebatizado como GT Hegemonias e Emancipações sob a coordenação de Ana Ester Ceceña. Não deixa de ser curioso o fato de minha relação com os cientistas sociais estrito senso novamente implicar um deslocamento da ênfase econômica, que tanto marca certo pensamento de crítico de esquerda, para uma maior atenção à dinâmica contraditória das relações sociais e de poder, acompanhando mais de perto os grupos/classes sociais em movimento. Como destaquei antes quando de meus cursos de Leitura de Marx, no SOCII, foram me levando para a compreensão mais ampla da “lógica do capital” levando mais a sério a tese de Marx que, sendo o capital uma relação social e, mais, uma relação social contraditória e histórico-geograficamente situada é sua dialética aberta pelos próprios interessados que deve ser observada e não as leis da dialética já dadas, seja por Hegel ou por qualquer outro “filósofo dialético”. O encontro com o pensamento decolonial me levaria a apurar de modo mais sistemático o que agora estou chamando de construção de uma teoria social crítica a partir da Geografia com a ideia de pensar a geograficidade do social, aliás, título de um artigo publicado por CLACSO a partir de um convite que me foi feito por Atílio Borón para que explicitasse uma leitura geográfica do social, ele que me ouvira num seminário sobre o pensamento de Milton Santos realizado em Salvador, Bahia, quando nos conhecemos. Para mim, enquanto geógrafo, o encontro com essa tradição de pensamento decolonial que vimos construindo é, na verdade, um aprofundamento do que vários pensadores já vinham destacando como giro espacial desde os anos 1970 e ganha centralidade para pensar o lugar da geografia na construção de uma teoria social crítica. Isso fica explícito, por exemplo, no título de um artigo de Walter Mignolo: “Espacios Geograficos e Localizaciones Epistemológicas”(23) questão que, a rigor, o pensamento crítico da Geografia não havia se colocado, qual seja, a de que as epistemes têm lugares de enunciação e não lugares como metáfora social para lugar de classe, por exemplo, mas, sem deixar de ser isso, ser também lugar geográfico de enunciação. Enfim, é preciso deixar os lugares falarem através das diferentes perspectivas que se forjam a partir deles. O colonialismo deixa de ser somente um período histórico que, todavia, é, mas também, ser um padrão de saber e de poder que sobrevive a esse período, como na tese seminal de Anibal Quijano que nos diz que na América Latina o fim do colonialismo não significou o fim da colonialidade. A primeira vez que incluí em minhas pesquisas algum resultado que poderia ser associado a essa aproximação se deu, justamente, e de modo não intencional em minhas análises dos conflitos por terra no Brasil, em 2003. Que uma espécie de “espírito de época” estivesse no ar é o que posso identificar em meu livro “Amazônia, Amazônias”, de 2001, que embora não lance mão do repertório teórico-conceitual advindo dessa tradição em construção começa, justamente, com a desconstrução da visão que se tem sobre a Amazônia que, via de regra, não deixa os amazônidas falarem. Ou seja, a região não fala, sobretudo seus grupos/classes sociais em situação de subalternização/opressão/exploração.(24) Esse livro, ao final, oferece ao leitor a palavra desses grupos/classes sociais em luta reunindo sua palavra através dos encontros e manifestos dos movimentos sociais que vêm forjando outras visões/práticas acerca das amazônias, da Amazônia. Em suma, como se vê a decolonialidade é sentida como parte das lutas sociais e não somente como uma prática discursiva que, todavia, também é, como o é qualquer teoria. Meu livro “Os (Des)caminhos do Meio Ambiente”, de 1989, já desafiava frontalmente a “lógica identitária atomístico-individualista” da instituição imaginária da sociedade capitalista e sua modernidade, mas sem diálogo com o pensamento pós-colonial e decolonial. O pensamento decolonial se fez presente em minhas pesquisas quando, pela primeira vez, mapeei os conflitos por terra de 2003 e, para minha surpresa, constatei que os estados onde mais intensa fora a conflitividade e a violência foram os estados de Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins, estados marcados pela expansão/consolidação da agricultura empresarial com tecnologia de ponta, moderna. Não era no Nordeste da chamada oligarquia tradicional onde estavam os estados com maior intensidade de conflitos e violência, conforme índices que elaboramos. No momento em que analisava esses mapas com a dinâmica contraditória dos conflitos me dei conta de que era preciso descolonizar o pensamento, até porque desde o primeiro momento de nossa formação territorial o latifúndio monocultor de exportação, com base na super-exploração do trabalho(25) e da natureza e com tecnologia de ponta já estavam presentes. Os engenhos de açúcar se constituíam nas primeiras fábricas modernas e, já podemos dizer, coloniais. O Brasil, assim, como Cuba e Haiti, exportava açúcar e não matéria prima, a cana. E não era produto de pouco valor agregado, ao contrário, era o que mais agregava valor no capitalismo que ali nascia, inclusive com o capital se imiscuindo no circuito metabólico da produção ao criar uma planta industrial para acumular capital, inclusive com trabalho escravo. Somos modernos, e coloniais, a 500 anos! A modernidade tecnológica não está a serviço daquele que produz a riqueza. O capital, com sua colonialidade e seu racismo se mostra estruturando nossas classes sociais. A consigna de luta pela Vida, Dignidad e Territorio que vi nascer em 1990 nas Terras Baixas bolivianas, no Beni, em marcha em direção a La Paz e que, depois, já mais latinoamericanizado, soube que havia sido mobilizada também no Equador pelos indígenas marchando da Amazônia em direção Quito, me fazia sentir/pensar que uma geografia crítica se fazia a partir da geografia em crise da sociedade através da mobilização de seus grupos/classes sociais que saíam do fundo do mundo e nos faziam ver que “Outros 500” haviam nos 500 anos de moderno-colonialidade, como pude assistir durante a CNUMAD, a Rio 92, como já indiquei. O conceito de território congelado por uma geografia que olha o mundo de cima, de sobrevoo, que sente remotamente, (26) epistemologicamente comprometida com um lugar de enunciação a parir do estado que nos pariu, me permitam repetir a expressão, estava sendo desnaturalizado por aqueles grupos/classes sociais em situação mais profundamente subalternizada/oprimida/explorada. Território é, sempre, movimento de territorialização através do que os grupos/classes sociais se inventam simbólica-materialmente. Não há apropriação material sem sentido, sem significação. O Estado, mal chamado nacional, se mostra colonial ao ignorar/invisibilizar/inviabilizar as múltiplas nacionalidades, as múltiplas territorialidades que habitam um mesmo território que se quer nacional. A teoria do colonialismo interno, tal e qual formulara Pablo Gonzalez Casanova nos anos 1970, mostra toda sua validade. Daí emana um outro léxico teórico-político que mais que estado nacional fala de plurinacionalidade; mais que dominação da natureza, nos propõem a natureza como portadora de direitos, como inscrevem nas Cartas Magnas da Bolívia e do Equador; em lugar de intangibilidade da natureza, nos falam de Pachamama; mais que superar o subdesenvolvimento com o desenvolvimento, seja sustentável ou sustentado, propugnam por alternativas ao desenvolvimento, pelo Buen Vivir, pela Vida em Plenitude (Suma Qamaña, Sumak kausay); em vez de multiculturalismo nos falam de interculturalidade (Catherine Walsh). A luta contra o patriarcalismo e o racismo desafiam a centralidade da classe social assim como sua exclusividade diante das complexas relações sociais e de poder, ainda que sem negá-la. Convidam, por exemplo, que a consciência da classe proletária não mais olvide aquelas que cuidam da prole, como se o trabalho não-pago da mulher não proporcionasse ampliar ainda mais a mais valia que a classe proletária produz sob e para (submetida a) o capital; que cada forma de opressão, ao desvalorizar de distintas maneiras os corpos, autoriza/possibilita maior exploração. Não olvidemos que mutirão ou putirum é uma palavra de origem tupi - motyrõ - que significa "trabalho em comum", nome que se atribui a uma prática generalizada nas periferias urbanas de nosso país, indicando que há uma outra colonização de nossas cidades vinda de baixo, se é que colonização faz sentido para os de baixo. No mundo andino, se pratica nas periferias urbanas a minga, que em língua quechua-aymara também significa trabalho em comum. Se buscamos outros horizontes de sentido para a vida como, hoje, nos convida Aníbal Quijano e, nos anos 1920, nos convidava José Carlos Mariategui, e não queremos simplesmente um novo modo de produção, assim nos mantendo prisioneiros do mundo da produção e da economia, talvez aqui resida a possibilidade de encontrarmos outros caminhos para grafar a terra, para grafar o mundo. Quem sabe seja isso que esteja a nos sugerir o agrônomo quéchua-equatoriano Luis Macas que, em diálogo com Catherine Walsh, afirmara que “nossa luta é epistêmica e política”. Até mesmo a ideia de América Latina, tão cara às elites criollas e às esquerdas por seu caráter antinorteamericano frente a América Anglo-Saxônica, é posta em questão quando esses grupos/classes sociais que emergem à cena política batizam o continente como Abya Yala assinalando que dar nome próprio é um modo de apropriar-se da terra, do território. Não sem sentido tantos santos, sobretudo cristãos, dão nomes a cidades quando não expressam valores dos invasores como o dinheiro – argenta – da Argentina e seus rios de prata; de Venezuela, como pequena Veneza; ou Colômbia em homenagem a Colombo num país predominantemente indígena, negro embora também mestiço; ou de Bolívia em homenagem a Bolívar em um país predominantemente quechua-aymara e com mais 34 povos/etnias/nacionalidades. Como vemos essas geografias em movimento bem valem mais que uma missa! E todo esse repertório teórico-político se desenvolve num momento de crise das esquerdas logo após a queda de muro de Berlim nos anos 1990. Ou, quem sabe, justamente por causa da crise das esquerdas(27), e vemos emergir um pensamento crítico latino-americano anticapitalista e anticolonial onde, por exemplo, questões tradicionais embora não-exclusivas da Geografia se fazem presentes, como a relação sociedade-natureza através da ecologia política e do pensamento ambiental latino-americano, assim como a geografia se torna verbo e o território se vê em movimento enquanto tensões territoriais. Afinal, movimento implica mudança de lugar e, assim, todo movimento social implica, em algum grau, mudança da ordem que está situado. Vários grupos/classes sociais se constituem ao se mobilizarem com/contra a ordem social instituída, seja para ampliar os direitos constituídos, seja para inventar direitos, seja para transcender essa mesma ordem e, assim, entram em tensão com o modo como as coisas/os entes estão dispostos enquanto espaço social. Como nos ensinara Walter Mignolo, as epistemes têm lugar. A América, sobretudo a América Latina/Abya Yala e o Caribe são espaços privilegiados para entendermos o sistema mundo capitalista moderno-colonial, porque é a partir de 1492 que esse sistema mundo se constitui com sua geografia desigual, assimétrica, centro-periférica quando se dá o “encobrimento da América”, como chamou o filósofo Enrique Dussel a esse encontro que Étienne La Boétie chamaria de mal encontro. Não olvidemos que até 1453/1492 todos os caminhos levavam ao Oriente, a ponto de nos ter legado um verbo que indicaria o caminho certo a ser percorrido - orientar-se -, tal e como no Império Romano todos os caminhos levavam a Roma que nos dava o rumo certo que os romeiros haveriam de fazer suas (?) romarias. A geografia se faz verbo como se vê não só materialmente, mas também literalmente. Somente com a exploração da América é que a Europa ganha centralidade geohistórica, geopolítica, geocultural, geoeconômica. Enfim, a modernidade eurocêntrica implica a colonialidade! Essa geografia de larga duração nos atravessa ainda hoje. Depois de 500 anos ainda se fazem presentes no Brasil 305 etnias ocupando uma área de 110 milhões de hectares e aqui se falam 274 línguas. Quanta opressão, quantos massacres, quanta violência e esses povos/etnias/nacionalidades se reinventam, r-existem. Mesmo numa formação social como a nossa, em que tanto se destaca seus pilares no latifúndio, na monocultura e na escravidão, e se olvide de nosso pilar racista, como se a escravidão o abarcasse, os negros escravizados inventaram territórios de liberdade em pleno território da escravidão, como nos quilombos que, hoje, marcam 44 milhões de hectares de nosso território. O mesmo pode ser dito do branco pobre que foi se apossando da terra de trabalho pelos interiores do Brasil e que vão r-existir nas cabanagens, nas balaiadas, nas sabinadas, em Belo Monte, nome atualmente em voga por razões que, de certa forma, são as mesmas do Belo Monte de Antônio Conselheiro, massacrado em Canudos, cujas terras também estão de baixo d’água pelas hidrelétricas do São Francisco, tal e como o Beato José Maria também foi massacrado com seus pares no Contestado. Enfim, por todo lado o conflito fundiário, esse pilar estruturante de nossa injusta formação social, explode no campo brasileiro conformando geografias que indicam outros limites, cerne da política como nos ensinam os gregos e, agora vemos, os novos bárbaros. E o fazem dizendo que mais que luta pela terra é de luta por território que se trata. E não se luta pela terra, mas também de luta pela Terra. Afinal, está em curso uma grande transformação que vimos observando desde abajo, como se diz em bom espanhol, de onde vislumbramos outras grafias na terra, outras geografias. De um lado, a dinâmica metabólica do capital se desloca para a Ásia, para a Índia, sobretudo para a China, onde se concentra o maior parque industrial do mundo. Pela primeira vez, desde 1492, esse centro geográfico deixa de estar no Atlântico Norte (28). De outra perspectiva, nós do Brasil nos vemos obrigados a nos latino-americanizar, nós que olhamos soberbamente para a América Latina que, para o pensamento conservador brasileiro, é lugar de caudilhos e de revoluções onde se criaram repúblicas quando nós nos vimos como Império e nos inspiramos nos Estados Unidos da América do Norte, com seu federalismo fundado na pequena e média propriedade, mas aqui para afirmar a propriedade concentrada do latifúndio! Enquanto lá o liberalismo se abre para a esquerda por aqui nos dá o que há de mais conservador! As ideias têm lugar! Sendo o Brasil um país do Atlântico, o deslocamento geográfico do centro metabólico industrial do capitalismo para a Ásia, nos obriga a considerar a América Latina. Mas nossas elites continuam a olhar para fora e menos para seu próprio povo e seus territórios. É o que se viu com a IIRSA – Iniciativa de Integração Regional Sul Americana – desencadeada por FHC, no ano 2000, e posta em prática por Lula da Silva a partir de 2003. Dez EIDs – Eixos de Integração e Desenvolvimento – passaram a ser construídos como corredores(29) com portos, aeroportos, estradas, canais, hidrelétricas onde o que se visava era a conexão com a Ásia através dos portos do Pacífico. Mais interessava o fluxo que o fixo; o corredor mais do que o território; a mercadoria mais que as gentes. Os EIDs eram, na verdade não só Eixos de Integração e Desenvolvimento, mas também de violência e devastação. Enfim, a integração por cima desintegrava por baixo. É nesse contexto conflitivo que outras geografias vêm sendo engendradas. E desses lugares de r-existência é que tenho retirado grande parte de minha inspiração para esboçar uma teoria social crítica desde a Geografia a partir dos que vêm grafando a terra, geografando. NOTAS Embora o historiador marxista britânico E. P. Thompson (1924-1993) tenha afirmado que, após a segunda metade do século XX, esses grupos de socialização primárias vêm perdendo a primazia de formar as necessidades de seus filhos. 2 Em particular com a Liga Operária, uma pequena organização operária socialista e trotskista brasileira, fundada em 1972 e que existiu até 1978, e que teve papel importante nas lutas estudantis e operárias na década de 1970 e na organização da Convergência Socialista e do Partido dos Trabalhadores. 3 Aliás, como se pode observar de modo intenso na obra A Formação do Brasil Contemporâneo, de outro amigo de Orlando Valverde, no caso o doublé de geógrafo e historiador Caio Prado Jr. que nos mostra como o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia foi sendo sentida no processo de ocupação territorial do país. Tive om prazer de ministra um curso de Sociedade e Natureza no Brasil a partir desse livro. 4 Mais tarde esse conceito seria explorado, no Brasil, por Milton Santos e Ruy Moreira como Formação Socioespacial ou simplesmente Formação Espacial, por proporcionar uma compreensão do movimento desigual e combinado da sociedade enquanto espaço geográfico 5 Sou eternamente grato às companheiras e aos companheiros – socii em latim - Ana Maria Motta, Antônio do Amaral Serra, Dílson Mota, Dráuzio Gonzaga, Gisálio Cerqueira, Gislene Neder e Michel Misse. 6 Anos depois viria saber que Eder Sader era casado com Regina Sader da USP, uma geógrafa admirável e de notável sensibilidade sociológica e antropológica pioneira no estudo de movimentos sociais em Geografia. 7 Até porque se o capital é uma relação social em si mesma contraditória, qual seria a lógica do capital se não a lógica de suas contradições histórica e geograficamente situadas? Desafortunadamente, a primazia na “lógica do capital” tem deixado de fora as classes que se formam em luta. 8 Registre-se que Campos dispunha, então, do segundo mais antigo jornal do país - O Monitor Campista – que só não era mais antigo do que O Jornal do Commercio de Recife, fundado pela oligarquia latifundiária quincentenária canavieira de Pernambuco. Como se vê, as oligarquias latifundiárias sempre souberam da importância dos meios de comunicação para afirmar sua hegemonia. 9 Devo confessar que essa expressão herói vem à mente por lembrar a infeliz expressão do ex-Presidente Lula da Silva de chamar de heróis nacionais aos grandes produtores de combustíveis de biomassa, quando ele buscava se recobrir de legitimidade ambiental com os chamados biocombustíveis. Logo depois o mesmo presidente se mostraria igualmente mobilizado pelos combustíveis fósseis, depois da descoberta do Pré-Sal. 10 Diga-se, de passagem, que brasileiro, em Portugal durante o período colonial, era aquele que vivia de explorar o Brasil, assim como mineiro é o que vive de explorar as minas e o madeireiro o que vive de explorar as matas e as madeiras. Afinal, que outro adjetivo pátrio termina em eiro? 11 Um pequeno artigo “Notas para uma interpretação não-ecologista do problema ecológico”, publicado em 1982 começa a delinear a problemática que me acompanharia para sempre, inclusive pela tensão que acompanha o próprio título, o que pode ser visto em meus dois primeiros livros – Paixão da Terra: ensaios críticos de ecologia e Geografia (Ed. Rocco-Socii, 1984) e Os (Des)Caminhos do Meio Ambiente (Ed. Contexto, 1989); em minha dissertação de Mestrado sob o título Os Limites d’Os Limites do Crescimento (UFRJ, 1984) em que realizo uma investigação crítica sobre Os Limites do Crescimento, documento também conhecido como Relatório Meadows e que embasou a convocação da Iª. Conferência da ONU sobre Meio Ambiente realizada em Estocolmo, em 1972. 12 Até onde sei, Raíces de América, criado em 1979, é o primeiro grupo musical formado no Brasil inteiramente dedicado à música latino-americana. A Revolução Cubana teve um grande impacto na formação de uma consciência latino-americana e, até mesmo, um torneio de futebol latino-americano passou a ser disputado em 1960 que, a partir de 1965, adotou o sugestivo nome de Copa Libertadores da América. 13 Darci Ribeiro designa como indigenato um campesinato etnicamente diferenciado. Essa ideia me abriu uma luz a respeito de uma característica do campesinato pouco acentuada na literatura sociológica, qual seja, o caráter culturalmente diferenciado do campesinato, haja vista o conhecimento materializado nas práticas culturais geralmente ricas no conhecimento local da dinâmica metabólica da natureza (terra, solo, água, topografia-relevo, insolação, fauna, flora). Diga-se, de passagem, que esse caráter local do conhecimento camponês tem servido, via de regra, para desqualificar esse conhecimento. Enfim, colonialidade do saber, colonialidade do poder, diria mais tarde. 14 Castaño-Uribe, Carlos & Van der Hammen, Thomas (editores) (2005). Visiones y alucinaciones del Cosmos Felino y Chamanístico de Chiribiquete. UASESPNN Ministerio del Medio Ambiente, Fundación Tropenbos-Colombia, Embajada Real de los Países Bajos. (Pág. 227) y versión CD-Magnético. Bogotá. 15 De quem viria ser co-orientador em sua pesquisa de Mestrado, na UFMG, e orientador em sua tese de Doutorado, na UFF. C.E. Mazzetto Silva me ensinaria que o olhar do agrônomo e do geógrafo formam uma das melhores combinações possíveis, haja vista que um, o agrônomo, tem uma expertise que lhe permite organizar o espaço à escala da propriedade, mas em geral ignora as escalas que se forjam fora da porteira, o que o geógrafo melhor domina. Por isso, a importância desse diálogo entre geógrafos e agrônomos, ele costumava afirmar. 16 A área indígena onde morava Samuel Karajá ficava a não mais de 3 km da universidade. 17A terra como solo a se cultivar e controle de sua extensão (estrutura fundiária). 18 A água para saciar a sede, controle de seu acesso, fonte de energia, poluição e fonte de vida (pesca). 19 O ar como fonte de energia, como veículo da poluição (fumigação), cada vez mais fonte de expropriação. 20 O Sol como fonte da fotossíntese, da vida e, como tal, o controle da extensão de terras é, também, controle dessa energia vital, o que não é qualquer coisa num país tropical como o nosso, o que nos ajuda, em muito, a entender nossa inserção subordinada no sistema capitalista moderno-colonial. 21 A vida enquanto manifestação neguentrópica (E. Leff), autopoiética (H. Maturana), na qual se inscrevem metabolicamente os próprios grupos sociais e toda diversidade fruto das complexas relações biocenóticas que conformam os lugares/biotas. 22 Mais tarde eu sugeriria que esse livro fosse traduzido ao português, o que se efetuou em 2006, em que contribuí com a revisão técnica da sua tradução e ainda fui honrado com o convite para prefaciar essa edição em português, o que viria associar minha produção a essa tradição de pensamento crítico em construção. 23 Logo, logo eu solicitaria a Walter Mignolo que me autorizasse a publicar no Brasil esse artigo, no que fui atendido. Está publicado na Revista Geographia do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFF. 24 Talvez aqui a influência que pode ter se manifestado, ainda que inconscientemente, seja a do livro “O Orientalismo”, de Eduard Said, que havia lido por recomendação insistente de Lia Osório. Esse livro é considerado um dos marcos do pensamento pós-colonial que se fez sobretudo em língua inglesa, com toda a geopolítica do conhecimento que daí deriva. 25 Inclusive com o trabalho escravo. 26 Não seria esse o verdadeiro sentido de sensoriamento remoto? 27 Pelo menos é o que se pode depreender quando vemos lideranças camponesas históricas e que um dia abraçaram o marxismo se apresentem, hoje, como lideranças indígenas, como o peruano Hugo Blanco e o aymará-boliviano Felipe Quispe. 28 Inicialmente, no século XVI, na península ibérica. Depois na Holanda e, logo a seguir, na Inglaterra. Já no século XX, nos EEUU, sobretudo nos seus polos industriais do Nordeste (Detroit, Michigan, Pittsburg) que agora se desindustrializa e cujo desemprego acaba de eleger Donald Trump. Um novo fenômeno sociogeográfico emerge na principal potência do mundo com a desurbanização (desproletarização?), como por exemplo em Detroit cidade que abrigara 3 milhões de habitantes e hoje abriga 1,5 milhão! 29 Corredor é um conceito operativo amplamente usado nos documentos oficiais que são sustentação teórica à IIRSA.
CARLOS WALTER PORTO-GONÇALVES MEMORIAL UMA GEOBIOGRAFIA TÉORICO-POLÍTICA: EM BUSCA DE UMA TEORIA SOCIAL CRÍTICA A PARTIR DA GEOGRAFIA Carlos Walter Porto-Gonçalves Setembro/2017 INTRODUÇÃO A circunstância desse concurso proporciona a oportunidade de fazer um Memorial que abarque a trajetória intelectual, enfim, uma biografia. Gostaria de sugerir uma geobiografia. Por força da tradição do pensamento hegemônico de matriz eurocêntrica e seus pares dicotômicos – espírito e matéria, natureza e cultura, sujeito e objeto, espaço e tempo entre tantos - quando se fala de biografia a linha do tempo se impõe. Embora pensada com a sobrevalorização do tempo sobre o espaço, em si mesma problemática, nas diferentes biografias acabam aparecendo os encontros que temos com pessoas e ideias nunca fora de lugares. Afinal, a biografia, como o nome indica – bio+grafia - é a trajetória de nosso corpo e, como sabemos, do espaço não dá para tirar o corpo fora. O corpo não está no espaço, o corpo na sua materialidade é o conjunto de nossas relações com outros corpos através do que constitui o espaço que nos constitui. Tanto naturalmente (somos a água que bebemos, o oxigênio que respiramos, os minerais que comemos) como socioculturalmente (através do que significamos praticamente) somos o que produzimos-extraímos-criamos-transformamos. Além disso, sublinhemos, o componente atomístico individualista que conforma a instituição imaginária da sociedade (Castoriadis) capitalista moderna com sua egosofia tão bem representada na máxima cartesiana “[Eu] penso, logo [eu] existo” que não só privilegia o pensamento antes da existência como ignora que o “eu penso, logo eu existo”, ao ser dito como linguagem já é social pela simples impossibilidade de haver uma língua individual. A linguagem é, sempre, construção de sentidos em comum (comun+icação) e, portanto, social. A abertura que nossos corpos têm – como diria o poeta “a tua presença entra pelos sete buracos da minha cabeça” – dá conta de nossa incompletude tanto natural como social. Assim, uma geobiografia procura dar conta de uma relação que vai mais além do indivíduo que a enuncia. Assim vamos, assim estamos. Duas advertências preliminares devem ser feitas: a primeira, diz respeito ao fato de que toda memória, embora recorra ao passado é, sempre, o presente que fala. Assim, muitas vezes aparecerão como escolhas racionais coerentes o que, na verdade, foi decidido nas circunstâncias segundo critérios de momento. Ficarão registradas aqui aquelas escolhas que, hoje, me dão o equilíbrio existencial e permitem que me suporte a mim mesmo. A segunda advertência, é que ficarão de fora aquilo que diz respeito à minha vida privada, embora devo, de antemão, agradecer aos familiares os longos períodos longe de casa fruto das muitas viagens, e não foram poucas, além dos momentos que ficamos longe mesmo estando em casa. Enfim, o que temos aqui é uma geobiografia intelectual, aceitando a tese de Walter Mignolo de que as epistemologias estão implicadas com o espaço geográfico (Mignolo in “Espacios Geográficos e Localizaciones Epistemológicas”) onde os homens e mulheres em cada momento histórico operam/criam. Enfim, esse memorial registra os Encontros com pessoas e grupos/classes sociais e as geografias com seus lugares, espaços, regiões, territórios e paisagens com os quais formei meu pensamento, minha trajetória intelectual. O Engenho Novo, bairro da Central do Brasil onde fui criado, no Rio de Janeiro, a cidade onde nasci; o distrito de Ponta Grossa dos Fidalgos, na Lagoa Feia pela experiência seminal; a Amazônia e seus povos; os Cerrados e seus povos; a América Latina e seus povos. A ORIGEM Os psicólogos e educadores não se cansam de chamar a atenção para o papel que os grupos de socialização primárias – a família e a comunidade mais próxima – têm na conformação da subjetividade, para a formação do caráter de cada quem. (1) E falar desses grupos é falar dos lugares e dos espaços que constituem e que nos constituem (a casa e o bairro), sobretudo pela escola, pelo lugar que ocupa na geografia do sistema mundo capitalista moderno colonial que nos habita e sua afirmação como estado nacional, com toda colonialidade implicada nessa ideologia. E aqui se juntam a minha condição de filho de família operária e, como tal, o bairro operário onde vivenciei as vicissitudes dessa condição de classe e, nascido em 1949, ter vivido o nacional-desenvolvimentismo dos anos 50’ e 60’, quando a migração rural-urbana vai acompanhada da ideia de inserção social através dos direitos, como a educação. Ainda hoje lembro das primeiras professoras primárias - Terezinha Cardoso e Iracema Guaranis Melo - pela autoridade que gozavam diante dos pais e pela dignidade com que eram respeitadas pela comunidade. Sempre estudei em escolas públicas desde a Escola Sarmiento ao Colégio Pedro II até a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fiz a graduação e a Pós-graduação tanto o Mestrado como o Doutorado. A Escola Sarmiento e o Colégio Pedro II estão localizados no bairro operário onde morava, o Engenho Novo, no ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil, como as camadas populares designavam os bairros do Rio de Janeiro ao longo das estradas de ferro Central do Brasil e o ramal da Leopoldina, antes da cidade ser colonizada pela Zona Sul e pela Rede Globo. Experimentei ali o espírito comunitário organizando as festas juninas – fazer bandeirinhas, preparar a fogueira, os balões, ajudar nas compras e preparo das comidas – os blocos carnavalescos auto-organizados, os times e torneios de futebol, os jogos de botões, de bolas de gude, soltar pipa e balões assim como a convivência de ajuda mútua de tomar emprestado ou emprestar o sal, o açúcar, enfim, o necessário para viver de acordo com as circunstâncias, além de cuidar dos filhos dos vizinhos ou ficar na casa dos vizinhos, as mudanças frequentes de vizinhos, não raro provocadas por despejos judiciais, cenas que acompanhava com tristeza e que me marcaram. Enfim, podemos sair desse lugar, como saímos, mas esse lugar nunca não sai da gente! Sei da força da ideia de que o espaço geográfico é co-formador da nossa subjetividade. Nossos habitus (Bourdieu), nosso habitat. Assim, habitamos o espaço que nos habita. Do ponto de vista intelectual trago da Escola secundária, do Colégio Pedro II, o gosto pelas Humanidades, haja vista que no que então se chamava Nível Médio, fiz o curso Clássico onde a Literatura, a Filosofia, a História e a Geografia eram ensinadas junto com Latim e Grego. Mais tarde, quando vários interlocutores me alertavam para o fato de eu gostar de brincar com as palavras, o que me deixa aborrecido, pois o que eu faço é justamente o contrário, ou seja, levar as palavras a sério, é que ao tentar entender de onde eu tinha esse interesse pelas palavras e pela língua é que me dei conta de que as palavras tinham história e que as palavras tinham designação diferentes de acordo com o lugar que ocupavam na formação dos sentidos das frases. Foi quando me dei conta de que havia estudado grego e latim, ainda que de modo introdutório no colégio de nível médio. A Geografia, por exemplo, viria mais tarde se tornar verbo, qual seja, o ato, as ações de marcar e dar sentido à vida na terra: geo-grafia. O ENCONTRO COM A GEOGRAFIA ACADÊMICA Em 1969 fui aprovado no vestibular de Geografia da UFRJ e passo a frequentar até 1972 o curso no Largo de São Francisco, no Centro do Rio de Janeiro. Fui da última turma antes que o curso fosse transferido para a Ilha do Fundão. Tempos difíceis, tempos do AI-5 e do Artigo 477 com que a ditadura fechara a Congresso Nacional e proibia qualquer atividade política nas universidades. Embora houvesse resistência houve também professores que deduravam seus colegas e ameaçavam estudantes. Lembro bem da sala do Diretório Acadêmico com um mapa geológico do Brasil com pequenos sacos com amostras de minérios sobre as localidades em que havia exploração por empresas estrangeiras. Confesso que foi a primeira emoção com algo chamado Brasil, que deveria ser nosso, como diziam aqueles mapas. Essa ideia, mais tarde, ganhará um sentido mais elaborada intelectualmente e criticamente racionalizada. De minha formação acadêmica na graduação, além de uma Geografia tradicional descritiva e bastante conservadora e, com exceção de algumas aulas com descrições densas, como as boas aulas de Geografia do Brasil da conservadoríssima Prof.ª. Maria do Carmo Correia Galvão, pouca coisa ficou na memória. Registre-se algum ar de pensamento crítico da, então, iniciante Prof.ª Sonia Bogado à época substituindo professores eventualmente licenciados. Entretanto, me marcariam definitivamente as aulas de Antropologia e duas experiências vividas com a Geografia Física. As aulas de Antropologia com a Prof.ª Luigarde Cavalcanti me ensinaram um valor que levaria para o resto da minha vida, a saber, que a riqueza maior da humanidade é a sua diversidade e, com base nisso, a necessidade da crítica ao etnocentrismo e ao racismo. E ela bem sabia disso por sua nordestinidade alagoana vivendo o mundo acadêmico entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Com relação à Geografia Física me marcou a amplitude de conhecimento e a generosidade do Professor de Pedologia, o agrônomo Waldemar Mendes, de quem fui bolsista de Iniciação Científica. Sua visão estratégica do estudo dos solos para o desenvolvimento da sociedade brasileira – ele que fora responsável pela Comissão de Solos do Ministério da Agricultura de 1947 a 1967 - me convenceria também para o resto da minha vida da relevância do estudo das condições naturais para que se tenha uma sociedade mais justa e generosa. Esta visão estava associada ao fato do Professor Waldemar Mendes ser comunista, como me confessara certo dia quando a universidade estava “sendo convidada” a cerrar suas portas para garantir a segurança do então ditador de Portugal, o Sr. Marcelo Caetano, em visita ao Brasil e que circulava pelo Centro da cidade do Rio de Janeiro onde ficava o Departamento de Geografia, no Largo de São Francisco. O Prof. Waldemar Mendes, para minha surpresa, me dissera naquele momento que a única ditadura passível de ser aceita era a ditadura do proletariado porque se propunha a acabar coma exploração do homem pelo homem. Independentemente do que isso significava para mim naquele momento entendi o que movia aquele homem admirado pelos alunos por sua generosidade e dedicação, sobretudo nos trabalhos de campo, ou seja, que o conhecimento das ciências naturais, no caso dos solos, era fundamental para uma sociedade mais justa, sem exploradores e explorados. Outra experiência com a Geografia Física que haveria de me marcar definitivamente se deu como bolsista de Iniciação Científica em Geomorfologia Costeira durante 2 anos sob a coordenação do Prof. Dieter Muehe. A experiência de recolher amostras em campo com uso do trado, na então pouco urbanizada Barra da Tijuca, para depois analisar em laboratório sua granulometria e fazer estratigrafias, me levou ao domínio das diferentes fases da pesquisa científica, do planejamento da malha de recolhimento das amostras, das técnicas de recolhimento à formulação de hipóteses a partir de cotejamento teórico com a literatura. Essa experiência, embora não tivesse guiada pelas mesmas motivações éticas e políticas que eu aprendera com o Professor Waldemar Mendes teria, por outras razões, implicações inesperadas na minha trajetória intelectual enquanto geógrafo dedicado a temas sociais sempre de modo ambientalmente ancorado. Registre-se que as duas experiências me levaram a respeitar as metodologias e técnicas da pesquisa em Ciências Naturais, o que só seria fortalecido por outros encontros que a vida me proporcionaria, particularmente para minha formação como geógrafo. O Início de Uma Visão Crítica - Em 1970 tive a oportunidade de estagiar por um curto período de tempo no IBGE, experiência que, por razões alheias à instituição, haveria de ter consequências definitivas em minha formação científica e política. Embora estagiando numa seção de demografia sob a responsabilidade de um geógrafo que se enamorava pela geografia quantitativa, como o Sr. Espiridião Faissol, acabei me tornando amigo e discípulo de outro geógrafo, o Professor Orlando Valverde, que trabalhava nas antípodas teóricas e políticas de meu chefe imediato com quem, aliás, pouco convivi. Foi o Prof. Orlando Valverde que me levou à paixão pela Amazônia e pela questão agrária. A convite dele passei a frequentar as atividades promovidas pela CNDDA – Campanha Nacional de Defesa e pelo Desenvolvimento da Amazônia – apesar de meu desconforto com certos militares nacionalistas que também faziam parte daquela Campanha. O nacionalismo valverdeano estava atravessado pela visão anti-imperialista de sua formação comunista, ele que fora expulso ainda cadete da Escola Militar, para quem a Amazônia haveria de ser a verdadeira “hipótese de guerra”, aliás como nos anos 1980 se tornaria. Foi o Prof. Orlando Valverde que me indicou insistentemente o primeiro livro marxista que li atentamente, a saber, A Questão Agrária, de Karl Kautsky. Com isso, começava a firmar meu interesse por teoria e, como se vê, por fora da academia tive a fortuna de conhecer esse que foi um dos mais importantes geógrafos brasileiros. A paixão pelo marxismo foi se consolidando por influência desses grandes mestres, como Orlando Valverde e Irene Garrido, sua inseparável companheira de trabalho no IBGE e também ativista da CNDDA. Daí meu interesse em me aproximar de grupos de esquerda clandestina (2)Recém-formado na universidade vivi uma dessas experiências definitivas e, mais uma vez, com o Prof. Orlando Valverde em um trabalho de campo. Convidado pelo Mestre fomos a campo, na região da Zona da Mata Mineira, para um trabalho de geografia agrária. Naquele “mar de morros” característico da região, como bem caracteriza a região o geógrafo Aziz A’ Saber, amigo do Prof. Valverde, em determinado momento no alto de um vale, numa posição privilegiada para observar a paisagem e o mosaico de pequenos estabelecimentos onde se praticava uma agricultura de autosustentação, o Prof. Valverde, para minha surpresa e até mesmo desconfiança, começara a dissertar sobre o sistema de uso da terra, no caso, sobre o sistema de rotação de culturas que ali se que foi a minha verdadeira escola de formação teórica, onde aprendi os fundamentos do materialismo histórico. Assim como vários dos amigos e amigas do que viria a ser uma das vertentes da Geografia Crítica, a marxista, não foi na academia que nos formamos cientificamente. Buscávamos uma ciência transformadora que fosse contrária à Geografia conservadora que aprendemos nas universidades, de forte cunho funcionalista ou positivista. Só depois saberíamos que movimentos semelhantes se passavam na Europa – Revista Hèrodote - e nos Estados Unidos – Antipode, a radical journey of Geography - com uma renovação da Geografia comprometida com a transformação social, movimento que renovava a Geografia de modo diferente de tanta renovação com que esse campo sempre se reivindica tal como Il Gattopardo de Giuseppe Lampedusa. AS FONTES, CONSTRUINDO UM PENSAMENTO PRÓPRIO Recém-formado na universidade vivi uma dessas experiências definitivas e, mais uma vez, com o Prof. Orlando Valverde em um trabalho de campo. Convidado pelo Mestre fomos a campo, na região da Zona da Mata Mineira, para um trabalho de geografia agrária. Naquele “mar de morros” característico da região, como bem caracteriza a região o geógrafo Aziz A’ Saber, amigo do Prof. Valverde, em determinado momento no alto de um vale, numa posição privilegiada para observar a paisagem e o mosaico de pequenos estabelecimentos onde se praticava uma agricultura de autosustentação, o Prof. Valverde, para minha surpresa e até mesmo desconfiança, começara a dissertar sobre o sistema de uso da terra, no caso, sobre o sistema de rotação de culturas que ali se praticava. A chave daquela leitura, nos explicara mais tarde, eram os diferentes estágios de capoeira que ele vislumbrara e que permitia ler os passos que aquelas famílias deram com seu uso da terra. Seus muitos anos de trabalho de campo autorizavam a interpretação. Mas não ficamos por aí: baixamos ao fundo do vale e fomos entrevistar os agricultores. Em meio a um diálogo, que eu observava e anotava atentamente, o Prof. Valverde pergunta ao agricultor camponês qual era a extensão da terra que cultivava. A resposta do camponês foi de que a terra que trabalhava era de tantos litros, não me lembro bem do número. O fato de que a terra se media em litros simplesmente me deixara desconcertado e mais desconcertado ainda fiquei com o fato de a resposta não ter gerado nenhum estranhamento ao Professor Valverde. Confesso que acreditei me encontrar diante de outra língua, que não entendia: medir a área em litros me deixara sem rumo. Ao final do dia, depois de um bom banho e de um bom jantar, como sempre recomendava o Professor, nos sentávamos para avaliar o dia, nossas principais observações e dúvidas. Aproveitei para falar que não conseguira acompanhar mais a conversa do Professor com o Camponês depois daquela unidade de medida de área estranha, o litro. Foi quando o Professor me esclareceu dizendo que era comum em várias regiões do país (e do mundo, viria saber depois) o fato dos camponeses medirem a terra que cultivam pela quantidade de litros de sementes que conseguem cultivar e, assim, essa unidade de medida tem a ver com o sistema de uso da terra, com as técnicas e práticas culturais de cada grupo, com os modos como criam diante das condições de possibilidade que o meio oferece. E também como era sentido o meio ecogeográfico, para usar um conceito-chave de Jean Tricart, de quem o Professor Orlando Valverde era amigo e discípulo. E a expressão “como o meio era sentido” tem aqui um sentido forte, pois o relevo, o clima, o solo e a umidade são sentidos e experimentados (3) e, a partir, daí são elaborados criativamente também através das trocas de conhecimentos tradicionalmente experimentados e transmitidos. Mais tarde viria encontrar no historiador marxista E. P. Thompson a riqueza do conceito de experiência, de que aqui me vali para superar certo marxismo estrutural-funcionalista que tanto mal viria fazer à Geografia e que subestima a importância da experiência e da cultura, vistas como superestrutura. Enfim, começavam a ganhar sentido de modo mais concreto para mim as aulas de Antropologia da Professora Luitgarde Cavalcanti, agora com forte sentido geográfico e social, pois mergulhavam no mundo camponês com as feições sociogeográficas da Zona da Mata Mineira à época. Na segunda metade dos anos 1970, um encontro fortuito me aguçaria uma perspectiva propriamente geográfica das contradições da sociedade brasileira quando conheci um dos fundadores do Partido Comunista brasileiro, o Sr. Otavio Brandão. Por fortuna da vida o conheci como vizinho no conjunto Equitativa, em Santa Tereza onde morávamos. Otávio Brandão vivera no ostracismo no final de sua vida quando o conheci. Com ele aprendi que, em 1928, o PCB ainda na clandestinidade lançara o primeiro operário como candidato à Presidência da República pelo Bloco Operário-Camponês, o marmorista de Magé Minervino de Oliveira. De Otavio Brandão me ficou a firme convicção de que é preciso conhecer por dentro a diversidade sociogeográfica do país, como insistira em me dizer que o jornal A Classe Operária, que fundara em 1925 junto com Astrogildo Pereira, deveria manter correspondentes nos seringais da Amazônia, nos cacauais da Bahia, nos canaviais do Nordeste, para ficar com os exemplos que guardo na memória explicitamente citados por ele. Posso afirmar que a convivência com Otávio Brandão me trouxe um conhecimento decisivo da importância (1) do estudo da formação social (4) do capitalismo no Brasil e reforçara (2) a convicção da importância do estudo das condições naturais para os processos emancipatórios, haja vista Otavio Brandão ser farmacêutico e ter grande interesse em História Natural, como não se cansara de me afirmar. E pode ser constatado em seu livro Canais e Lagoas, onde registra pela primeira vez a existência de petróleo no Brasil, o que lhe valeu uma polêmica com Monteiro Lobato a quem é atribuído o descobrimento do petróleo no Brasil. Registre-se que Monteiro Lobato reconheceria, mais trade, o mérito de Otavio Brandão, como o próprio Otavio Brandão se orgulhava em dizer. O ano de 1976 me permitiu reunir condições mais propícias para a minha formação propriamente como um profissional de geografia e, com isso, forjar uma perspectiva teórica que pouco a pouco ganharia seus contornos próprios. Para isso muito contribuíram três experiências vividas em três lugares distintos, a saber: (1) ter ingressado como professor num departamento de Geografia, no caso, na PUC-RJ onde permaneceria até 1987; (2) ter fundado com filósofos, sociólogos, politólogos e historiadores o SOCII – Pesquisadores Associados em Ciências Sociais – e; (3) ter vivenciado uma experiência de forte conteúdo social e de enormes consequências em minha formação teórico-política em Campos dos Goitacazes, município do norte do estado do Rio de Janeiro onde ministrava aulas de Geografia na Faculdade de Filosofia de Campos. Vejamos cada um desses fatos em seu momento-lugar. A convivência com professores-pesquisadores no departamento de Geografia da PUC-RJ me permitiu um mergulho mais profundo e sistemático no campo da Geografia, o que me permitiu ousar escrever, em 1978, o artigo A Geografia está em Crise. Viva a Geografia, ao qual voltarei mais adiante. A convivência na PUC-RJ me proporcionou a oportunidade de produzir de modo mais sistemático enquanto profissional de Geografia, haja vista estar num departamento de Geografia com toda responsabilidade de formar profissionais no campo. Ali, a convivência com o Prof. Orlando Valverde e com o Professor Ruy Moreira, me levaram à convicção da importância de desenvolvermos uma Geografia Crítica implicada com a busca de um espaço mais generoso, mais igualitário, mais democrático. No entanto, dessa vivência na PUC-RJ não posso deixar de registrar, pelas implicações que trariam à minha trajetória intelectual, que é o que aqui nesse Memorial cabe destacar, a influência de um aluno, José Augusto Pádua, hoje Doutor em História e responsável por protagonizar no Brasil um novo campo de conhecimento de enorme interesse para a Geografia, qual seja a História Ambiental. Foi esse brilhante aluno que me apresentara uma nova literatura acerca de um campo que hoje chamaríamos Ecologia Política. Isso, com certeza, fortaleceu minhas convicções acerca da importância de sempre considerarmos a inscrição metabólica da sociedade, o que fortalecia certa perspectiva teórica dentro da Geografia, mas com fortes implicações políticas, sociais e geoecológicas, para ficar com os termos de Carl Troll (1899-1975), ou ecogeográficas, para ficarmos com os termos de Jean Tricart (1920-2003). Foi esse aluno, por exemplo, que me apresentou um Josué de Castro que desconhecia, profundamente implicado com a questão ambiental sem deixar de vê-la profundamente implicada com a questão social, do modo próprio como J. de Castro a via sempre mediada pela questão da fome e do subdesenvolvimento, a ponto de afirmar o “subdesenvolvimento: causa primeira da poluição”, título de sua apresentação no Colóquio sobre o Meio durante a Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, em junho de 1972. Assim, através de José Augusto Pádua esse aluno-professor, reforçava minhas afinidades com os temas agrário e ambiental, com uma Geografia Crítica preocupada com as relações sociais com a natureza. A experiência no SOCII – Pesquisadores Associados em Ciências Sociais – onde convivi com cientistas sociais de diferentes formações acadêmicas e de posições teórico-políticas variadas mas que também se reivindicavam como pensamento crítico, me permitiu não só um maior domínio da complexidade do social que nossa formação de geógrafos tende a ignorar com a visão dominante de um homem genérico (“ação antrópica”, “ação humana”, argh!!!!), como também a ver a amplitude do pensamento crítico, mais amplo que o marxismo que abraçava. (5) Entre as minhas atividades no SOCII, merece destaque o fato de, por cerca de 8 anos, ter ministrado um curso de “Leitura de Marx”, inicialmente sob a direção intelectual do sociólogo Michel Misse. Ali, coletivamente lemos desde “As Diferenças entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro”, que Marx escrevera ainda muito jovem, até as cartas à Vera Zasulich que Marx escrevera já em 1882. Essas leituras, que não deixaram de passar por O Capital: Contribuição à Crítica da Economia Política e pelo Capítulo Inédito, me levaram à firme convicção do caráter abarcador do capitalismo na conformação do sistema mundo que vivemos e da necessidade de sua superação para podermos pensar uma sociedade mais justa e também ecologicamente responsável, já começava a dizer à época, o que já me colocava numa posição estranha ao marxismo estrutural funcionalista e de forte inspiração na economia política. Minha abertura à diversidade cultural, em grande parte derivada de minhas aulas de Antropologia, mas que, de modo próprio, acompanha a história da geografia como insistiam meus professores na graduação de inspiração hartshorneana – a geografia como estudo de diferenciação de áreas – ou de inspiração lablacheana – com seus gêneros de vida –, além da convivência com múltiplas visões que se reivindicam do campo do pensamento crítico nas Ciências Sociais, me levaram, confesso, a prestar mais atenção ao subtítulo de O Capital - Contribuição à Crítica da Economia Política - do que ao título propriamente dito. Fui formando a convicção, que hoje tenho como segura, de que Karl Marx (1818-1883) foi, na verdade, o primeiro grande antropólogo da sociedade capitalista moderna e industrial ao nos revelar como uma determinada sociedade institui relações sociais e de poder que põem a economia no centro do imaginário e das suas práticas. Daí que O Capital mais que um livro de Economia Política ser uma contribuição à crítica da economia política o que tem sérias implicações epistêmicas e políticas, entre outras, a de que a luta para superar o capitalismo não é uma luta para, simplesmente, instaurar um outro modo de produção, como se fosse a produção que devesse comandar todo processo de instituição social. Mas antes que essa ideia ganhasse a convicção que hoje tenho a respeito da questão, embora com certeza foi nesse momento que ela começava a fazer sentido para mim, foi a emergência das lutas sociais no Brasil de finais dos anos 1970, que me levaram a buscar e encontrar novos caminhos de investigação científica. Comecei a entender que embora conhecesse razoavelmente bem o que no jargão marxista chamamos “lógica do capital”, eu conhecia muito pouco a lógica dos que resistiam ao capital, se é que cabe essa expressão aqui. E não era qualquer coisa, pois o movimento operário que começava a mostrar sua força no ABCD paulista, vinha acompanhado de movimentos de bairro, de movimentos contra a carestia, de movimentos de mulheres, enfim, de uma série de outros movimentos sociais, como o movimento ecológico, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento gay, como inicialmente se afirmaram grupos sociais com outra opções de gênero, e que mereceu uma fina análise em uma tese que viria a ser livro com o belo título “Quando Novos Personagens entram em Cena”, de Eder Sader. (6) Desde então, percebi que compreender a lógica do capital (7), embora necessária, não era suficiente, o que implicava buscar entender melhor a luta dos grupos/classes sociais que lutam para afirmar o que consideram uma vida digna e justa. Que há lutas contra o capital mais além das lutas de classes, até mesmo “lutas de classes sem classe” como afirmaria o historiador marxista E.P. Thompson com quem cada vez mais me afinava. E também uma aproximação com um sociólogo não-marxista, como Pierre Bourdieu, que afirmara certa vez não gostar de teoria teórica, o que me chamou muito atenção até porque a frase é densa, pois não se trata de não gostar de teoria, mas sim de não gostar daquelas teorias que abandonam o mundo e caminham, no pior sentido que a palavra teoria muitas vezes adquire, qual seja, de se desligar do mundo mundano, do mundo sublunar. Enfim, isso me levou a um interesse direto em estudar as lutas sociais, em termos mais precisos conceitualmente, investigar movimentos e conflitos sociais, temas que, a rigor, não fazem parte da tradição da Geografia. Confesso que ao longo dos anos 1980 isso se constituiu num verdadeiro dilema para mim, enfim, como trabalhar geografia e movimentos sociais? Esse dilema só começou a ser resolvido em finais dos anos 1980, mas tem uma relação direta, e que só mais tarde perceberia, com a experiência vivida em 1976 no município de Campos dos Goitacazes. Revisitemo-la. Mais uma vez, agora em Campos dos Goitacazes, os estudantes tiveram papel decisivo na minha educação. Afinal, foram eles que me envolveram numa experiência que se tornaria decisiva em minha formação. O município de Campos, tradicionalmente produtor de cana de açúcar, é dominado politicamente por uma poderosa e quincentenária oligarquia latifundiária. (8) Pois bem, naquele momento, as oligarquias latifundiárias da cana viviam um novo momento de sua afirmação e, mais uma vez, com um projeto de grande interesse político, como acontecera no período da invasão/conquista colonial, agora se apresentando como protagonista de um novo projeto de interesse nacional, o Proálcool. À época, o país passava por um grave problema de abastecimento de combustíveis em função da dependência das importações de petróleo e que tinha graves implicações no balanço de pagamentos pelo elevado custo de importação de petróleo, agravado pelo primeiro choque do petróleo de 1973. A solução técnica de produzir etanol a partir da biomassa de cana resolvia, em parte, a crise do país e, assim, os latifundiários da cana resolviam seus problemas de acumulação de capital e, mais uma vez, se tornavam heróis (9) de projetos políticos estatais. Essas ligações atávicas patrimonialistas, hoje rebatizadas como parceria público-privada, sempre estiveram presentes em nossa formação social desde as sesmarias (os latifúndios que ainda nos comandam) até as concessões dos espaços das ondas magnéticas de transmissão de rádio e televisão (os latifúndios do ar). Afinal, os “homens de cabedal” foram atraídos para investir no Brasil com o favor dos Reis de Portugal que lhes concederam sesmarias que seriam devolutas caso não conseguissem ocupar o território, objetivo maior do Estado colonial. Assim, os “homens de cabedal”, os filhos de alguém (fi’d’algo), amigos do rei recebiam sesmarias e, caso conseguissem ganhar dinheiro explorando o Brasil na empreitada, afirmavam o interesse do Estado português de conquistar o território. Como se vê as lógicas capitalista e territorialista se complementam. (10) E observemos que, desde os primeiros momentos de nossa formação dependente e colonial que “os donos do poder” (Raimundo Faoro) se forjaram com íntimas relações entre o público e o privado, o nosso estado patrimonialista e cartorial. E não só isso, o fizeram tanto no século XVI, desde 1532, como no século XX a partir de 1974 (Proálcool), sempre com o mais sofisticado desenvolvimento tecnológico de cada época, haja vista não haver, na Europa, no século XVI, engenhos de açúcar vocacionados para exportar para o mercado mundial (já commoditties?), como havia em Campos e em Pernambuco (e também em Cuba e na Ilha de São Domingos, Haiti incluído). Enfim, nos anos 1970 a modernização conservadora se atualiza com a produção de energia a partir de biomassa de cana com o Proálcool. Nada mais moderno, e colonial, do que o latifúndio monocultor de exportação, suas tecnologias modernas e injustiça social com a super-exploração da natureza e do trabalho, inclusive com o renascimento do trabalho escravo. O agrobusiness tem 500 anos! Como sempre ocorrera com esses projetos de acumulação e conquista territorial não foram poucos os conflitos e não foram poucas as tensões de territorialidades como, mais tarde, eu haveria de nomear essas conflitividades. Meus alunos da disciplina de Geografia Humana no curso de História da Faculdade de Filosofia de Campos, onde eu trabalhava naqueles idos de 1976, vieram me buscar para que eu fizesse um relatório que ajudasse a defesa dos camponeses - agricultores e pescadores – do distrito de Ponta Grossa dos Fidalgos, cujos principais líderes estavam, naquele momento, presos por lutarem contra uma obra que aprofundava o canal de Barra do Furado que comunicava a Lagoa Feia com o mar. O aprofundamento desse canal fazia com que a água da Lagoa Feia vazasse e, assim, diminuía a área da lagoa e ampliava a área disponível para o cultivo de cana de açúcar que se expandia estimulada pelo Proálcool. Os agricultores-pescadores que antes tinham acesso à lagoa nas imediações de suas casas passavam a ter que percorrer distâncias cada vez maiores para acessar seus barcos e poder pescar. Meus estudos para tal relatório acerca daquela lagoa revelaram, através de fotografias aéreas que, em apenas 8 anos, entre 1968 e 1976, a área da Lagoa Feia diminuíra de 350 Km² para 172 Km², ou seja, a lagoa perdera mais de 50% de sua área. Registre-se que à época vivíamos sob uma ditadura empresarial-militar e que um dos maiores latifundiários da região, o Sr. Alair Ferreira, era também dono da empresa Cobráulica – Companhia Brasileira de Obras Hidráulicas – além de ser Presidente da Arena, partido oficial da ditadura e, ainda, dono dos principais meios de comunicação do município. Ali me vi implicado, pela primeira vez, diretamente num conflito na condição de profissional de Geografia. Enfim, a questão da relação entre geografia e conflito social começava a entrar na minha vida, embora ainda não entrasse em minhas formulações teóricas de Geografia. Aliás, essa desconexão entre estar implicado com a luta social e a teoria geográfica propriamente dita, me acompanharia alguns anos, com se poderá ver mais adiante. Enfim, em Campos me vi entrando na Lagoa, acompanhando agricultores-pescadores, para tentar entender o que se passava e argumentar tecnicamente sobre a situação que, hoje, chamamos conflito socioambiental ou conflito territorial. Confesso, que o que mais me chamou a atenção naquele momento e que já, desde ali, me marcaria do ponto de vista teórico-político foi ver que aqueles camponeses, a partir de outros recursos cognitivos, tinham um refinado conhecimento da dinâmica lagunar. Ali, também, me sentira muito à vontade pelo domínio que eu tinha da dinâmica lagunar em geral por todo o aprendizado que tivera nas pesquisas de Geomorfologia Costeira com o professor Dieter Muehe. Aquela convicção que a dinâmica ecogeográfica ou geoecológica é fundamental para o devir social ganhava ali um conteúdo empírico-concreto com enormes implicações epistêmicas e políticas para mim. Enfim, formei a convicção que há muitas matrizes de racionalidade distintas e, assim, múltiplas epistemes desenvolvidas por diferentes povos/comunidades/etnias/grupos/classes sociais. Aqui se juntavam meus múltiplos encontros (1) com meus professores como Luitgarde Cavalcanti, Dieter Muehe, Waldemar Mendes, Orlando Valverde e Otávio Brandão que, embora muito diferentes entre si, me inspiraram a ser como sou do ponto de vista teórico e político; (2) com meus amigos do SOCII que tanto me deram em termos de compreender a complexidade do social e a abertura teórico-política e, porque não dizer, ideológica, ainda que não abrindo mão do marxismo e (3) com o diálogo de saberes advindo da cultura popular. O primeiro esboço de afirmação desses princípios enquanto geógrafo se deu com meu artigo A Geografia Está em Crise. Viva a Geografia! apresentado no Encontro Nacional de Geógrafos em Fortaleza, em 1978. Esse artigo e essa participação no encontro da AGB associariam definitivamente minha trajetória intelectual com a AGB, com a Geografia Crítica e com a história recente da Geografia brasileira. Ali já esboçara a ideia que não se pode entender a crise da ciência geográfica ignorando a geografia da crise da sociedade em que ela está inserida. Essa ideia que ali começara a germinar ganharia consistência com minha aproximação com outro intelectual marxista, Cornelius Castoriadis, que fundara o Grupo Socialismo ou Barbárie. Desde então, passei a entender que não basta buscar outros paradigmas para substituir os paradigmas existentes, mas a entender que os paradigmas não caem dos céus. Ao contrário, são instituídos no terreno movediço da história – a geografia – por grupos/classes sociais que os instituem através de processos determinados que, eles mesmos, de alguma forma constituem e por eles são constituídos. Enfim, reforçava-se a tese que as ideias sobre o mundo são ideias do mundo e nascem em geografias determinadas situadas em tempos determinados. O que só reforçava a ideia de estudar cada vez os movimentos sociais. Começo a vislumbrar um possível caminho teórico onde vejo que as lutas sociais e os conflitos são momentos/lugares privilegiados do ponto de vista epistemológico. Afinal, num conflito determinado existem, pelo menos, duas visões de um determinado problema que está sendo posto como questão por aqueles e aquelas diretamente interessados/as. Assim, a contradição deixa de ser uma lógica (dialética?) abstrata e passa a ser entendida como contradição em estado prático e, desse modo, aberta às vicissitudes históricas e geográficas por meio das quais os grupos/classes sociais se forjam. Assim, os grupos/classes sociais não se forjam antes, seja em termos lógicos ou cronológicos, às relações sociais e de poder que contraditoriamente engendram e que os/as engendra. Como diria E. P. Thompson, na expressão luta de classes o termo forte é luta e não classe, cito de memória, pois é no conflito que os lados se conformam, que as identidades se forjam. O velho e bom antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira já afirmara, nos anos 1960, que toda identidade é contrastiva. Enfim, a ideia de uma geografia dos conflitos estava latente e viria a ganhar sentido em finais dos anos 1980. Não poderia deixar de registrar esse meu primeiro momento de reflexão teórica com relação à Geografia pelo significado do momento de inflexão na geografia brasileira que, por fortuna, me vi diretamente envolvido em 1978, no III Encontro Nacional de Geógrafos da AGB, em Fortaleza. Registre-se que minha presença naquele evento se deu por insistência do Professor Roberto Lobato Correa por minha interpretação gramsciana dos vários artigos que ele havia indicado em sua disciplina sobre teoria e método em Geografia. Entretanto, seu reconhecimento de que o paper final que eu apresentara à sua disciplina e que ele insistira para que eu apresentasse no encontro da AGB não me deixava seguro para o que, no fundo, me preocupava, ou seja, a consistência para a formulação de uma teoria social crítica ao capitalismo. Com todo o respeito que eu tinha, e tenho, pelo Prof. Lobato Correa, levei o texto para um refinamento crítico junto aos meus colegas do Socii. Reitera-se aqui, como se vê, a ambiguidade que me acompanhava entre ser profissional de geografia e um ativista implicado com as lutas sociais anticapitalistas. Todavia, registro que o aval do Prof. Lobato Correa foi decisivo para me indicar que esse caminho era, de algum modo, possível. Ver assistindo minha exposição no III ENG em Fortaleza a figura de meu mestre Orlando Valverde ao lado de Caio Prado Jr. e de Milton Santos foi tão inspirador como conhecer outros geógrafos que buscavam uma geografia crítica com inspiração marxista, como Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Armén Mamigonian e Armando Correia da Silva para não dizer do sopro de entusiasmo trazido pela protagônica participação dos estudantes naquele histórico encontro da AGB de 1978. Por fortuna, o título de meu artigo seria uma boa epígrafe para o que ali se sucedia: A Geografia está em Crise. Viva a Geografia! Mais uma vez, a AGB se tornaria um verdadeiro território livre para a formação de geógrafos por fora dos controles acadêmicos, território esse que, por exemplo, proporcionou que talentos como Orlando Valverde e Milton Santos, entre outros, se afirmassem junto à comunidade geográfica. Milton Santos, por exemplo, começara a frequentar as assembleias da AGB na condição de professor de ginásio e, por seu talento reconhecido por professores como Manoel Correia de Andrade, Orlando Valverde e Pasquale Petrone, passara a receber convites para continuar participando das reuniões da AGB. Mais tarde, no ano 2000, na condição de Presidente da AGB tive a honra de assistir à última participação do Professor Milton Santos no XII Encontro Nacional de Geógrafos, em Florianópolis, cuja participação, registre-se, se deu em condições limite de seu estado de saúde e por insistência dele. Sua gratidão para com a AGB está registrada não só pelo documento O Papel Ativo da Geografia: Um Manifesto que ali lançaria como também pelo convite que faz em seu artigo na Folha de São Paulo no dia 16/07/2000, dia da abertura do encontro da AGB, para que a sociedade brasileira prestasse a atenção ao que os geógrafos debateriam naquele encontro. Enfim, como se pode ver minha trajetória intelectual teórico-política estaria definitivamente marcada por esse território aberto que contraditoriamente tem sido a AGB. E não se pode dissociar todo esse processo de invenção de um pensamento crítico na Geografia brasileira ao momento de luta contra a ditadura empresarial-militar (1964-1985) que, fechando espaços de participação política, fez com que a sociedade investisse em espaços não abertamente políticos, como a AGB e a SBPC, como fóruns de debate político. Afinal, como a crítica é inerente ao campo científico e filosófico, pelo menos naqueles fóruns era possível pensar criticamente o Brasil e o mundo. Enfim, desde os finais dos anos 1970 e sobretudo na década de 1980, num contexto de renovação crítica da Geografia e de luta da sociedade brasileira e latino-americana contra ditaduras civil-militares, começo a participar da formulação de uma teoria social crítica a partir da Geografia onde têm um lugar central (1) a dinâmica sociometabólica(11) e (2) a dinâmica contraditória das relações sociais e de poder com seus conflitos e movimentos sociais que vão geografando o mundo. Minha contribuição junto com intelectuais da antropologia, direito e sociologia implicados com o movimento dos seringueiros na criação das Reservas Extrativistas talvez seja a principal consolidação desses muitos encontros. Identifico esse momento como um aprofundamento do que assinalei no conflito envolvendo camponeses-pescadores em Ponta Grossa dos Fidalgos na Lagoa Feia no município de Campos em 1976. Agora, em finais dos anos 1980, o conflito e o movimento social começam a ganhar estatuto de uma teoria crítica em Geografia de modo explícito e aquela Geografia implicada no sociometabolismo aprendida com O. Valverde e, por sua influência em J. Tricart e Aziz Ab’Saber, se afirma em definitivo e, mais, vinda dos seringais a que tanto se referia Otávio Brandão. Aquela ambiguidade já assinalada várias vezes entre o cidadão ativista preocupado com a transformação social e o geógrafo sem uma teoria crítica que apontasse na mesma direção começa a se dissipar em finais dos anos 1980. Confesso que não foram muitas as companhias que encontrei na geografia brasileira para isso, posto que, à época, ela estava muito influenciada por uma marxismo estrutural-funcionalista prisioneiro de uma economia política onde a economia era determinante em primeira instância. O espaço chegou mesmo a ser considerado uma instância. Entre as influências mais positivas estão Regina Sader, Ariovaldo Umbelino de Oliveira e, já na época, o jovem Marcelo Lopes de Sousa nos oferecia um dos melhores ensaios já produzidos entre geógrafos brasileiros – Espaciologia, uma objeção - e que tomei a iniciativa de recomendar com ênfase à Revista Terra Livre para que o publicasse. O foucaultiano Claude Raffestin e o marxista italiano Massimo Quaini me serviram de referência na formulação de uma teoria social crítica em Geografia. No plano mais amplo das ciências sociais e da filosofia fui buscar referência em E.P. Thompson, Cornelius Castoriadis e Pierre Bourdieu. Esse esforço de reflexão teórica teve uma forte inspiração fora da academia por meu envolvimento, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 1980, com os grupos/classes sociais a partir (1) dos varadouros, dos igarapés, dos furos e dos paranás da Amazônia, e (2) das chapadas e das veredas dos cerrados a princípio a partir do Norte de Minas Gerais com experiências com técnicos, agrônomos e camponeses com práticas agroecológicas e com a América Latina. Enfim, esses encontros marcariam minhas reflexões teórico-políticas emprestando-lhes um maior rigor não só com relação ao campo ambiental, mas também enquanto geógrafo, sobretudo pela relevância que nela tem a problemática sociometabólica. Nessa construção de uma teoria social crítica a partir da Geografia, os grupos/classes sociais em situação de subalternização em luta por justiça territorial e ambiental tiveram uma grande influência nessa formulação, sobretudo nas três regiões acima referidas com as quais venho mantendo uma relação intensa, a saber, no Brasil, os Cerrados e a Amazônia, e, ainda, a América Latina. Nesse encontro com essas regiões e essa gente, houve um intenso diálogo com seus intelectuais tanto os da academia como os de fora dela, como Chico Mendes. EM BUSCA DE UMA TEORIA SOCIAL CRÍTICA A PARTIR DA GEOGRAFIA 1. DESDE A AMAZÔNIA COM SEUS POVOS Devo à Prof.ª Lia Osório, minha orientadora no Doutorado, uma fina observação que me chamou a atenção para o lugar de enunciação, de certa forma afortunado, de minha relação com a Amazônia. Normalmente o debate acerca da Amazônia é mais um debate sobre a Amazônia e que ignora a perspectiva própria dos amazônidas. A Prof.ª Lia Osório me chamou a atenção que eu dominava o discurso sobre a Amazônia e, por minha vivência com os movimentos sociais da região, eu tinha acesso também à visão dos amazônidas e, assim, eu experimentara essa dupla perspectiva, de dentro e de fora. E entre os de dentro da região ganha destaque minha vivência com os grupos sociais em situação de subalternização em luta para superar essa condição, no caso com os seringueiros. Essa observação de Lia Osório havia sido densamente experimentada junto com meu Mestre Orlando Valverde com quem participara, em 1991, da Audiência Pública em Laranjal do Jarí em que se debateu o RIMA para construção da estrada AP-157 que ligava Macapá a Laranjal do Jari e que atravessa a Reserva Extrativista do Cajari (AP). Assessorando o CNS – Conselho Nacional de Seringueiros – lá pudemos experimentar as vicissitudes dos conflitos na Amazônia em que a audiência pública se fez com a proteção da Polícia Federal já que na véspera da audiência a principal liderança camponesa e dirigente do CNS, o Sr. Pedro Ramos, sofrera um atentado. Ali pudemos experimentar como a visão dos de fora combinada com a visão dos de dentro era capaz de potencializar a luta em defesa da Amazônia através de seus povos. Entretanto, foi em minha tese de doutorado defendida junto ao Programa de Pós-graduação em Geografia da UFRJ, em 1998, que de modo mais sistemático expus a relação entre a geografia, conflito e movimentos sociais onde a geografia é declinada em um tempo verbal em movimento como revela o próprio título da tese Geografando nos varadouros do mundo: da territorialidade seringalista (o seringal) à territorialidade seringueira (a reserva extrativista). Registre-se, aqui, a ruptura do paradigma que separa natureza e sociedade haja vista que a RESEX implica o reconhecimento do notório saber das populações acerca das condições materiais de produção-reprodução da vida. Através das RESEXs se politizava a natureza e a cultura através das relações sociais e de poder na apropriação e controle do espaço, enfim, tensão de territorialidades conforme registra o título da tese. Com isso se ratificava o que havia aprendido com os camponeses-agricultores-pescadores de Ponta Grossa dos Fidalgos, em Campos dos Goitacazes, em 1976, em situação de conflito. Mas aqui uma nova luz se abriu para que eu começasse a superar a ambiguidade entre o ativista e o geógrafo. Logo depois do assassinato de Chico Mendes, em 22 de dezembro de 1988, fui convocado pelos seringueiros para assessorá-los num trabalho específico para fazer o memorial descritivo de uma área que pretendiam reivindicar como RESEX, no caso para a área que viria a ser a maior RESEX demarcada, a Reserva Extrativista Chico Mendes envolvendo vários municípios tendo Xapuri como centro, numa área de mais de 1 milhão de hectares. Tal trabalho tinha caráter sigiloso para que as oligarquias acreanas não se antecipassem para impedir a reivindicação. Preparei um mosaico de oito imagens de satélite adquiridas junto ao INPE na escala 1:100.000 e sugeri, no que fui acatado, que tal reunião não tivesse somente as lideranças político-sindicais, mas também as figuras que eles reconhecessem como verdadeiros conhecedores da floresta, como os mateiros, por exemplo. Montado o mosaico de imagens para os cerca de 15 participantes da reunião, esclareci onde estava a cidade de Xapuri, o rio Acre, a BR-317 estrada que liga Rio Branco a Xapuri numa imagem de floresta fechada com marcas de desmatamento ao longo da estrada. Num primeiro momento houve estranhamento entre os participantes, haja vista que eles nunca haviam se visto de cima. Aquela perspectiva não era a deles, mas sim daqueles que veem o espaço do alto, de longe, à distância (seria esse o sentido de sensoriamento remoto?). No momento subsequente comecei a observar que eles moviam seus corpos e identificavam cercas manchas sutis de verde que, pouco a pouco, passaram a ser identificadas por eles como sendo suas “colocações”. Aqui a “colocação” do Assis, ali a “colocação” do Duda, acolá a “colocação” do Raimundão, me refiro à “colocação” de alguns seringueiros que estavam na reunião e que viam, além disso, os varadouros e as varações que as interligavam, marcas essas que, confesso, não reconhecia. A partir de um terceiro momento, se é que assim posso me referir, me dei conta de que eu era o que menos conhecia aquela geografia, haja vista os detalhes com que se referiam àquele espaço rigorosamente sob análise para fazer o memorial descritivo, etapa preliminar de um processo jurídico de demarcação de terra. Num quarto momento cognitivo me dei conta, pela primeira vez, que estava ajudando não só a demarcar a terra, mas a grafar a terra, a geografar. Que era possível grafar a terra a partir de outro lugar que não o Estado, conforme a tradição da Geografia por suas relações íntimas com o Estado que nos pariu. Começara a ficar claro para mim a relação entre movimento e conflito social, de um lado, e uma teoria social crítica a partir da Geografia. A Geografia, o espaço geográfico, mais que um substantivo é também verbo. E, junto com o movimento dos seringueiros, começava a vislumbrar que o conceito de território, naturalizado como base do Estado, estava sendo desnaturalizado posto que num mesmo território de um determinado estado haviam múltiplas territorialidades em disputa. O final dos anos 1980 e sobretudo os anos 1990 consagrariam a perspectiva de uma formulação teórico-política crítica como geógrafo advinda, sobretudo, da aproximação que os movimentos sociais de grupos/classes sociais em situação de subalternização me proporcionaram a partir de uma região periférica de países periféricos de um subcontinente periférico, a Amazônia, que me levariam a aprofundar minhas relações com duas regiões onde pude aprimorar a busca de uma teoria social crítica a partir da Geografia, a saber, os Cerrados e a América Latina. Afinal, a partir do movimento dos seringueiros do Acre ampliei minha relação com outras áreas da Amazônia brasileira, como os Cerrados em seus povos e também com a América Latina, nesse caso a partir dos camponeses de Pando e Beni na Bolívia. 2. EM BUSCA DE UMA TEORIA SOCIAL CRÍTICA DESDE A GEOGRAFIA: A AMÉRICA LATINA Muito embora minha geração tenha vivido um período histórico com as marcas da Revolução Cubana, das guerrilhas, da Aliança para as Américas, das ditaduras de direita (Brasil 1964, Pinochet 1973, ...) e dos governos nacionalistas revolucionários (Velasco Alvarado, no Peru, p.ex.) e, assim, tivesse ouvido Tarancón, Raíces de América(12), Mercedes Sosa, Victor Jara e outros artistas latino-americanos, foi a partir do movimento dos seringueiros que comecei a adentrar com os próprios pés (e mente) a América Latina. A partir desse lugar contraditoriamente privilegiado, Amazônia, pude viver o clima de emergência de um outro léxico teórico-político que só mais tarde viria ter ideia de sua profundidade. Afinal, foi de Trinidad, no Beni, que partiu em direção a La Paz a Iª Marcha por la Vida, la Dignidad y el Territorio. Mais tarde viria saber que da Amazônia equatoriana partira em direção a Quito outra marcha com a mesma consigna por la Vida, la Dignidad y el Territorio. Foi o que pude aprender de perto tanto assessorando movimentos sociais na Amazônia brasileira e boliviana como também nos preparativos da Aliança dos Povos da Floresta para a CNUMAD, a Rio 92. Ali, esses grupos/classes sociais explicitaram os “outros 500”, como se dizia à época, ao associarem o 1992 a 1492. Enfim, a Amazônia e seu indigenato(13) (Darci Ribeiro) ou campesíndios (Armando Bartra) e seus múltiplos povos/etnias/nacionalidades nos traziam ao debate um tempo ancestral, uma história de larga duração diria F. Braudel. Afinal, o que se debatia na CNUMAD era o destino da humanidade que, acreditava-se, estava ameaçado pelo desmatamento da Amazônia e todo um conjunto de questões que já indicavam a gravidade do tema ambiental. E aqueles grupos/classes sociais reivindicavam um lugar próprio nesse debate pelos conhecimentos que detém derivados de um tempo ancestral de convivência e não só na Amazônia, como o Fórum Paralelo à CNUMAD realizado no Aterro do Flamengo haveria de demonstrar com a presença de movimentos sociais do mundo inteiro. O debate ambiental ganhava uma dimensão para além dos gabinetes burocráticos e da academia. Para um geógrafo preocupado com uma geografia com centralidade nos processos sociometabólicos e com protagonismo dos grupos/classes sociais em situação de subalternização em busca de um espaço (um mundo) relativamente mais justo e relativamente mais democrático, para me apropriar de expressão consagrada por I. Wallerstein, o contexto não poderia ser mais alvissareiro. E a tese reivindicada por Milton Santos de que o espaço é acumulação desigual de tempos que nos traz a mesma inspiração de Marc Bloch da “contemporaneidade do não coetâneo” se fazia presente com os campesíndios/indigenatos com esses outros tempos falando através desses lugares marginais. Foi inspirado pelas demandas desses grupos/classes sociais que pude emprestar um sentido político às pesquisas de Azis Ab’ Saber ao correlacioná-las às pesquisas de Darell Posey e William Balée, Ana Roosevelt e Carlos Castaño-Uribe que nos falam da presença humana na região desde 19.500 anos na Formação Cultural Chiribiquete, na atual Amazônia colombiana (Castaño-Uribe e Van der Hammen, 2005)(14) , a 11.200 anos no Sítio de Pedra Pintada, em Monte Alegre, no Pará, (Ana Roosevelt). Ou seja, na Amazônia há ocupação humana antes mesmo da formação dessa imensa floresta equatorial que se formou de 12000 anos aos nossos dias, o que mereceu a caracterização de “floresta tropical cultural úmida” conferida por Darell Posey. A tese de Chico Mendes - “Não há defesa da floresta sem os povos da floresta” - seria materializada na proposta das RESEXs, haja vista que o notório saber daqueles grupos/classes sociais é que lhes conferia autoridade para pleitear a demarcação de seus territórios. Afinal, ninguém vive tanto tempo numa área sem saber coletar, saber caçar, saber pescar, saber se proteger das intempéries (uma arquitetura), sem saber curar-se (uma medicina), enfim sem saber, permitam-me a ênfase e a repetição necessária do saber diante de tanto olvido, como se no fazer não houvesse, sempre, um saber. Aquela ideia surgida em 1976 no conflito de Ponta Grossa dos Fidalgos, na Lagoa Feia, no município de Campos ganhava consistência e, mais uma vez, através de um conflito social, esse lugar privilegiado do ponto de vista epistemológico. Afinal, diferentes matrizes de racionalidade, mais uma vez, eram convocadas a um diálogo intercultural de saberes a partir de grupos/classes sociais em busca do que consideram uma vida digna. Enfim, a consigna Pela Vida, Pela Dignidade e Pelo Território nos indicava que um outro léxico teórico-político estava se colocando no horizonte. Aquela ideia surgida em 1976 no conflito de Ponta Grossa dos Fidalgos, na Lagoa Feia, no município de Campos ganhava consistência e, mais uma vez, através de um conflito social, esse lugar privilegiado do ponto de vista epistemológico. Afinal, diferentes matrizes de racionalidade, mais uma vez, eram convocadas a um diálogo intercultural de saberes a partir de grupos/classes sociais em busca do que consideram uma vida digna. Enfim, a consigna Pela Vida, Pela Dignidade e Pelo Território nos indicava que um outro léxico teórico-político estava se colocando no horizonte. Essa entrada pela Amazônia Profunda/América Profunda ganharia ainda maiores implicações com a aproximação com todo um campo de investigações como o Pensamento Ambiental Latino-americano, como chamaria Enrique Leff, e a Ecologia Política, onde a investigação científica se faz com fortes implicações com os grupos/classes sociais em luta por uma vida digna (ou buen vivir, ou vida plena, ou suma qamaña, ou sumak kausay ...), expressão que ganha centralidade nesse campo. Em 1997 tive a oportunidade de, pela primeira vez, experimentar a América Profunda fora da Amazônia brasileira e boliviana a convite de Enrique Leff para participar do Foro de Ajusco, na UNAM na cidade do México, para proferir uma conferência sobre a luta por território do movimento dos seringueiros. Ali fui convidado por um membro do movimento zapatista para visitar a Serra de Lacandona, em Chiapas, para que falasse diretamente aos campesíndios sobre a luta dos seringueiros. Lá pude conhecer a comunidade de Nuevo Paraíso onde ministrei uma palestra sob uma tenda coberta de palha para mais de 40 membros da comunidade, depois de caminhar mais de 10 Km sob a selva subindo e descendo a montanha. Para minha surpresa, nenhum dos campesíndios presentes me indagou, após a minha exposição, sobre a luta dos seringueiros, ao que eu dera tanta ênfase. Só me perguntavam, e com insistência, sobre o preparo da farinha de mandioca que eu expusera com fotos sobre o modo de vida dos seringueiros. E no meio da conversa é que me dei conta de que, para eles, o fato de o trabalho de preparo da farinha de mandioca implicar um trabalho coletivo durante todo o processo que vai do descascar, do ralar, do colocar no forno de lenha para torrar, tudo isso reunindo gente conversando e cantando, como expus, tinha para eles uma importância que, até ali, não era devidamente considerada por mim. Segundo eles, a mandioca produzia comunidade tanto quanto a comunidade produzia mandioca e farinha. Ou seja, havia uma dimensão para além da econômica, na produção de mandioca, ou melhor, na produção da comunidade. Mais uma vez, o diálogo de diferentes matrizes de racionalidade ampliava o conhecimento. Minhas aulas de antropologia com a Profa. Luitgarde, minhas conversas com o Prof. Orlando Valverde a partir de suas conversas com os camponeses de Barbacena, meu diálogo com os agricultores-pescadores de Ponta Grossa dos Fidalgos, ganhavam consistência com esse encontro com os campesíndios da Serra de Lacandona onde cheguei pelas mãos da ecologia política e do pensamento ambiental latino-americano, especialmente pelas mãos de Enrique Leff mas, sobretudo por meu envolvimento com o movimento dos seringueiros e pelas implicações que a Amazônia passara a ter com sua proposta da Aliança dos Povos da Floresta – “Não há defesa da floresta sem os povos da floresta” -, haja vista a tradição colonial de ver a região como natureza e como vazio demográfico. Talvez aqui se possa ver a importância que atribuo ao título de minha tese de doutorado: Geografando nos varadouros do mundo; da territorialidade seringalista (o seringal) à territorialidade seringueira (a reserva extrativista). Enfim, a geografia se torna verbo e o território, conceito até então naturalizado - território como base natural do estado - é desnaturalizado e, assim, esses movimentos nos mostram que há, sempre, uma tríade conceitual território-territorialidade-territorialização, enfim, tensões territoriais. 3. EM BUSCA DE UMA TEORIA SOCIAL CRÍTICA A PARTIR DA GEOGRAFIA - DESDE OS CERRADOS Desde finais dos anos 1980 passei a ser convidado por jovens agrônomos e técnicos de agronomia que protagonizavam uma ampla luta por uma agricultura alternativa, como se chamava à época, e que mediam forças contra o avanço das grandes monoculturas com amplo uso de agrotóxicos. Quem me abriu esse caminho nos cerrados foi Carlos Eduardo Mazzetto Silva, engenheiro agrônomo que viria, depois, se tornar geógrafo. (15) A princípio não os conhecia pessoalmente e o que nos teria aproximado foi o fato de terem lido meus escritos sobre a problemática ambiental para além de uma perspectiva ecológica, enfim, com minha preocupação com a transformação social necessária para que tenhamos outra relação com a natureza. Nossas afinidades eram muitas, mas talvez a principal fosse a premissa da importância do diálogo entre o saber técnico-científico convencional produzido nas universidades e o conhecimento vernacular de camponeses, indígenas e quilombolas. A partir desse encontro pude sentir de perto e conhecer por dentro as chapadas e as veredas dos cerrados, a princípio a partir do Norte de Minas Gerais. Concretamente foi a partir desse encontro/diálogo que percebi que, além do conhecimento científico e do conhecimento popular, a arte é uma poderosa fonte de produção de conhecimento. Foi a partir desses encontros que descobri a importância da obra de Graciliano Ramos, em particular Grandes Sertões, Veredas. Ali, pude entender que, no próprio título dessa obra, Graciliano Rosa consagrava as duas grandes unidades da passagem, tal como os povos do cerrado marcam a terra: os “grandes sertões” são onde “o mundo carece de fechos”, pois as chapadas são “Geraes”, terra comum a todos (Geral) e onde não há cercas, onde “a água sorveta feito azeitim entrador”, pois infiltra e, diz-nos Rosa, são uma caixa d’ água; e as “veredas” são os lugares onde se planta, o fundo dos vales. Ali pude entender que o diplomata sensível haveria de fazer com que o saber dos geraizeiros se tornasse universal nos mostrando as múltiplas universalidades possíveis no mundo (pluriversalidades?), já que sua obra haveria de ser traduzida para tantas línguas para tantos lugares e culturas. Afinal, qual seria o interesse de um alemão ler Grande Sertão, veredas não houvesse algo comum com os geraizeiros? Novamente minha professora de Antropologia Luitgarde Cavalcanti e meus mestres Orlando Valverde e Otávio Brandão se mostravam inspiração. Ali, a partir do Norte de Minas pude me conectar com todo um movimento de agricultura alternativa, de agroecologia e de tecnologia alternativa que estava sendo posto em prática em várias localidades do país e que tinha na FASE e na Rede AS-PTA uma das suas principais redes de apoio. Ali pude colaborar com o CAA-NM, desde finais dos anos 1980, e com o CEDAC já nos inícios dos anos 2000. Toda a pesquisa que desenvolvi acerca dos cerrados na universidade foi feita com um profundo diálogo com esses saberes dos povos dos cerrados e para fortalecer a afirmação desses grupos/classes sociais. Mais uma vez meus alunos e o movimento social haveriam de aprofundar meus conhecimentos e a firmar a convicção de que o conflito social é um fenômeno privilegiado do ponto de vista epistemológico, pois, no mínimo, nos oferece duas perspectivas diferentes sobre um determinado problema/questão. Desde 1996 comecei a supervisionar a implantação de um curso de formação de professores de Geografia na região do Médio Araguaia, com base no município de Luciara-MT, na UNEMAT, onde também ministrava disciplinas, como a de Formação Territorial do Brasil. Ali tive a fortuna de poder contar com um indígena, Samuel Karajá, também formado em Direito, para ministrar uma aula magna sobre a Formação Territorial do Brasil desde a perspectiva de um indígena(16) deslocando toda a turma para dentro da sua aldeia. A ideia de conflito ou tensão de territorialidade se mostraria com toda força e, anos depois, ouviria de um doutorando, Emerson Guerra, que “o processo de ordenamento territorial do estado é, ao mesmo tempo, um processo de desordenamento territorial”. Emerson Guerra formulara essa ideia a partir do seu trabalho com povos indígenas e saber/experimentar que o ordenamento territorial do Estado é, do ponto de vista indígena, desordenamento territorial. Quem ouvira Samuel Karajá falando da formação territorial do Brasil não poderia deixar passar sem espanto – primeiro ato de reflexão filosófica – a afirmação de Emerson Guerra. A região do Médio Araguaia vem sendo alvo de sucessivos avanços/invasões desde os finais dos anos 1950, sobretudo desde a construção de Brasília e das rodovias de acesso à Amazônia, com todo um movimento de antecipação no confisco/grilagem de terras por parte das oligarquias latifundiárias tradicionais do Mato Grosso pela posse de informações privilegiadas e do controle do aparelho de Estado, processo esse movido com muita violência. Esse processo ganha um novo fôlego na segunda metade dos anos 1990 com a nova ofensiva do agrobusiness através de grandes obras de infraestrutura de arranjo espacial (D. Harvey) para o capital. Na região do Médio Araguaia a obra que se anunciava naquele momento era a Hidrovia do Araguaia para a navegação e transporte, sobretudo de soja e gado. As condições geomorfológicas específicas da região, comandada pelo caráter da ampla planície inundável do rio Araguaia, a segunda maior área continental alagada do planeta com cerca de 2 milhões de hectares, provavelmente traria enormes consequências para os camponeses ribeirinhos e indígenas. Junto com o professor Alexandre Régio da Silva e meus alunos no curso de Geografia fizemos a análise crítica do EIA-RIMA podendo lançar mão dos conhecimentos que os alunos/professores tinham da região já que, em sua quase totalidade, eram filhos de camponeses ribeirinhos e indígenas. O título do documento que produzimos, depois publicado pela Revista Terra Livre da AGB, dá conta das tensões de territorialidades em curso na região – “Navegar é preciso, ... viver não é preciso: estudo sobre o Projeto de Perenização da Hidrovia dos Rios das Mortes, Araguaia e Tocantins” (Terra Livre, 15, ano 2000). O título do estudo/artigo dialogava criticamente com a apropriação que as elites locais faziam em defesa do projeto se apropriando de um verso do poeta Fernando Pessoa que diz que “Navegar é preciso”, conforme panfleto que circulava na região. Depois de analisarmos o EIA-RIMA e revisitarmos Fernando Pessoa vimos a sutileza do poeta que nos ensinava que navegar é coisa do mundo da precisão, do mundo das técnicas – “Navegar é preciso”. Já o viver não se reduz às técnicas, o viver não é do mundo da precisão, daí Pessoa nos dizer: “Viver não é preciso”. Ciência, conflito/movimento social e arte voltavam a se encontrar. Durante esse trabalho junto com alunos do Médio Araguaia muito aprendi com os saberes dessas populações, particularmente com os retireiros, grupo social que vem se constituindo a partir da luta para afirmar a posse comum dessas imensas áreas alagadas da planície do rio Araguaia. Retireiro é um nome que deriva de retiro, pequeno apartado que os vaqueiros destinam para tratar do gado quando precisa de algum cuidado, uma vacina, um curativo, um parto. Na região, é comum que esses vaqueiros trabalhem para fazendeiros e recebam a “quarta”, ou seja, de cada quatro reses a mais do rebanho que cuidam num tempo determinado uma rês é destinada à paga do vaqueiro pelo fazendeiro. Não possuindo terras, os vaqueiros costumam criar seu pequeno rebanho à solta nas terras alagadas do Araguaia enquanto uso comum das terras/águas. Num momento como aquele em que vivíamos na segunda metade dos anos 1990, em que se anunciavam grandes obras que davam acesso àquelas terras, a especulação sobre elas se exacerbava. Eis uma conclusão a que chegamos e que deu origem à luta dos vaqueiros/retireiros em defesa das terras comuns, inicialmente com a proposta de uma RESEX. Não é difícil ver como minha presença nos Cerrados do Médio Araguaia se fazia também com a inspiração amazônica dos seringueiros. Assim, certas práticas sociais que, a princípio, parecem ser locais se mostram passíveis de serem generalizadas e, nesses casos, o papel mediador dos intelectuais se mostra importante. Essa luta desencadeada por esses grupos/classes sociais na região do Araguaia seria responsável mais tarde pela maior arrecadação de terras por parte do Serviço de Patrimônio da União, ou seja, o SPU reivindica como terra pública uma área de um milhão e setecentos mil hectares, em suma, praticamente toda a área alagada do rio Araguaia! Registre-se, ainda, o trabalho que deu origem à demanda por uma UC, inicialmente uma RESEX, com os laudos biológico e socioeconômico necessários para a compreensão da territorialidade e a definição dos limites territoriais, nos proporcionou um intenso diálogo com os saberes/fazeres daqueles grupos/classes sociais. Nessas andanças pelos cerrados e pelos varjões, como os retireiros chamam as áreas sazonalmente alagadas do Araguaia, não era difícil nos ver acompanhados pelos Manoelzões locais, como Rubem Taverny um desses vaqueiros/retireiros. Todo esse mergulho nas chapadas e veredas dos cerrados me valeria um convite para que assessorasse a Articulação dos Povos dos Cerrados que, a partir de inícios dos anos 2000, várias entidades camponesas, quilombolas, indígenas, de pescadores e de técnicos de agronomia e agrônomos preocupados com a agroecologia passaram a conformar em defesa dos cerrados e seus povos. Dezenas de viagens e reuniões pelos cerrados de todos os estados dominados por essa formação biogeográfica foram realizadas onde pude aprender com não menos de 50/60 lideranças comunitárias por vez que traziam dos fundos das veredas ou das chapadas um enorme acervo de conhecimentos que se constituía num importante suporte para a defesa de seus territórios. A tese de Chico Mendes de que “não há defesa da floresta sem os povos da floresta” se generalizava sendo amplamente recriada como “Não há defesa dos cerrados sem os povos dos cerrados”. Ponta Grossa dos Fidalgos se mostrava um fio condutor e o Brasil dos seringais, dos canaviais, dos cacauais de Otávio Brandão energia também dos Cerrados. Do ponto de vista propriamente científico talvez seja relevante destacar a tese que emanou desse encontro de saberes, a saber, que os cerrados não correspondem somente à área de aproximadamente 22% do território brasileiro, como a ciência convencional vem salientando. O mapa de Aziz Ab’Saber reproduzido acima nos faz ver que a maior parte do território hoje ocupado pelo Brasil era dominada pelos cerrados, inclusive grande parte da Amazônia, há 12.000 anos antes do presente. Desde o Holoceno, quando as condições macroclimáticas do planeta passaram a conformar o período atual, que as formações florestais começam a ampliar sua área, como a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica e a Mata de Araucária. Nessa expansão das formações florestais sobre áreas de cerrados se conformam ecótonos, áreas de tensão ecológica, que abrangem entre 12% a 14 % do território brasileiro, o que nos mostra que à core-area dos cerrados devemos acrescentar de 12% a 14% de áreas de tensão, o que implica dizer que essa formação biogeográfica estaria presente em cerca de 34% a 36% do território brasileiro. O domínio biogeográfico dos cerrados é o único que mantém contato com as três grandes formações biográficas florestais do país, e ainda com a Caatinga. Entre essas áreas de tensão ecológica se incluem não só as duas maiores áreas continentais sazonalmente alagadas do planeta – O Pantanal e o Araguaia – como também duas áreas de altíssima complexidade ecológica como o são a Zona dos Cocais e o próprio Pantanal. E, mais, pela complexidade implicada nessas áreas de tensão ecológica, o conhecimento de detalhe, o conhecimento local, é imprescindível e essa é, talvez, a principal virtude do conhecimento camponês e dos povos que ocupam ancestralmente esses espaços. Sendo, assim, para a compreensão e conhecimento dessas áreas esses povos, com seus saberes/fazeres, são imprescindíveis. Como se pode ver, uma teoria social crítica a partir da Geografia vai sendo forjada a partir dos conflitos e dos movimentos sociais. QUANDO A MEMÓRIA ATUA, É ATUAL Dois outros encontros ocorridos nos anos 2000 vieram dar os contornos atuais dessa trajetória até aqui memorializada que, em termos acadêmicos, estou chamando de construção de uma teoria social crítica desde a Geografia: 1º: o encontro com o pensamento decolonial que se inscreve como parte do rico acervo do pensamento crítico latino-americano e; 2º: o encontro com a Comissão Pastoral da Terra. Comecemos pelo encontro com a CPT até porque eles se encontrarão mais adiante, como veremos. Minha trajetória pessoal se encontra com a da CPT em 2003 embora a criação dessa pastoral, em 1976, tenha se dado em função da intensificação dos conflitos por terra na Amazônia brasileira. Não deixa de ser uma fortuna esse encontro não pelas implicações religiosas que envolvem a CPT, mas por seu compromisso com a luta pela terra junto com os grupos/classes sociais. A CPT tem presença em todos os estados brasileiros e desde 1985 reúne o que, hoje, pode ser considerado o maior acervo de dados sobre conflitos por terra no país, com mais de 30.000 conflitos registrados. Em 2003 fui convidado para contribuir na análise dos dados consolidados dos conflitos para o Caderno de Conflitos no Campo publicação anual da CPT. Desde então, o conflito, conceito que já vinha marcando minha construção teórica, passa a ganhar cada vez maior destaque, como já registrado nesse Memorial em várias passagens anteriores. Insisto que esse encontro tenha sido uma verdadeira fortuna, pois dificilmente um pesquisador isoladamente conseguiria tanta informação qualificada sobre conflito por terra, inclusive por tudo que está implicado sociometabolicamente nesse conceito (Terra(17) -Água(18) -Ar(19) -Sol(20) -Vida(21) ). Desde então, vimos observando, como está registrado em nossas análises anuais do Caderno de Conflitos no Campo, o movimento contraditório desigual e combinado da geografia da sociedade brasileira, cuja melhor expressão é o próprio conflito, enquanto contradição social em estado prático, ou seja, enquanto dialética aberta. O conflito que havia sido experimentado desde Ponta Grossa dos Fidalgos e pelos retireiros do Araguaia passando pelos seringueiros do Acre e da Bolívia ganhava aqui, na relação com a CPT e seu enorme acervo, um caráter mais amplo passível de apreender o movimento contraditório da geografia da sociedade brasileira e como a geografia vai sendo marcada, ou melhor, como a sociedade vai se geografizando em sua inscrição metabólica para significar/fazer-produzir-reproduzir a vida. Esse encontro com a CPT potencializou o aprofundamento de minhas relações com o pensamento crítico latino-americano a partir de minha aproximação com a América Profunda pela Amazônia boliviana com os camponeses/gomeros, em inícios dos anos 1990, com os campesíndios maias da Serra de Lacandona, em 1997. Essa aproximação com os movimentos sociais se enriqueceu com as leituras e aprendizados com as novas vertentes da rica tradição do pensamento crítico latino-americano, como o pensamento ambiental, desde finais dos anos 1980, com os Seminários Universidade e Meio Ambiente, liderados intelectualmente por Enrique Leff, e que se reforçara com minha participação no Foro de Ajusco, em 1997, realizado na cidade do México. Essa potencialização a que me referi acima foi possível a partir de 2001 quando, em Guadalajara, participo da Conferência do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais e, pela primeira vez, entro em contato com o que viria ser caracterizado como pensamento decolonial. A leitura do livro “A Colonialidade do Saber: eurocentrismo e ciências sociais”(22) coordenado pelo sociólogo venezuelano Edgardo Lander me aproximaria dessa vertente que começava a ganhar visibilidade. Foi interessante me ver, logo depois, sendo convidado a participar de um GT de CLACSO sobre Economia Internacional que, logo depois, seria rebatizado como GT Hegemonias e Emancipações sob a coordenação de Ana Ester Ceceña. Não deixa de ser curioso o fato de minha relação com os cientistas sociais estrito senso novamente implicar um deslocamento da ênfase econômica, que tanto marca certo pensamento de crítico de esquerda, para uma maior atenção à dinâmica contraditória das relações sociais e de poder, acompanhando mais de perto os grupos/classes sociais em movimento. Como destaquei antes quando de meus cursos de Leitura de Marx, no SOCII, foram me levando para a compreensão mais ampla da “lógica do capital” levando mais a sério a tese de Marx que, sendo o capital uma relação social e, mais, uma relação social contraditória e histórico-geograficamente situada é sua dialética aberta pelos próprios interessados que deve ser observada e não as leis da dialética já dadas, seja por Hegel ou por qualquer outro “filósofo dialético”. O encontro com o pensamento decolonial me levaria a apurar de modo mais sistemático o que agora estou chamando de construção de uma teoria social crítica a partir da Geografia com a ideia de pensar a geograficidade do social, aliás, título de um artigo publicado por CLACSO a partir de um convite que me foi feito por Atílio Borón para que explicitasse uma leitura geográfica do social, ele que me ouvira num seminário sobre o pensamento de Milton Santos realizado em Salvador, Bahia, quando nos conhecemos. Para mim, enquanto geógrafo, o encontro com essa tradição de pensamento decolonial que vimos construindo é, na verdade, um aprofundamento do que vários pensadores já vinham destacando como giro espacial desde os anos 1970 e ganha centralidade para pensar o lugar da geografia na construção de uma teoria social crítica. Isso fica explícito, por exemplo, no título de um artigo de Walter Mignolo: “Espacios Geograficos e Localizaciones Epistemológicas”(23) questão que, a rigor, o pensamento crítico da Geografia não havia se colocado, qual seja, a de que as epistemes têm lugares de enunciação e não lugares como metáfora social para lugar de classe, por exemplo, mas, sem deixar de ser isso, ser também lugar geográfico de enunciação. Enfim, é preciso deixar os lugares falarem através das diferentes perspectivas que se forjam a partir deles. O colonialismo deixa de ser somente um período histórico que, todavia, é, mas também, ser um padrão de saber e de poder que sobrevive a esse período, como na tese seminal de Anibal Quijano que nos diz que na América Latina o fim do colonialismo não significou o fim da colonialidade. A primeira vez que incluí em minhas pesquisas algum resultado que poderia ser associado a essa aproximação se deu, justamente, e de modo não intencional em minhas análises dos conflitos por terra no Brasil, em 2003. Que uma espécie de “espírito de época” estivesse no ar é o que posso identificar em meu livro “Amazônia, Amazônias”, de 2001, que embora não lance mão do repertório teórico-conceitual advindo dessa tradição em construção começa, justamente, com a desconstrução da visão que se tem sobre a Amazônia que, via de regra, não deixa os amazônidas falarem. Ou seja, a região não fala, sobretudo seus grupos/classes sociais em situação de subalternização/opressão/exploração.(24) Esse livro, ao final, oferece ao leitor a palavra desses grupos/classes sociais em luta reunindo sua palavra através dos encontros e manifestos dos movimentos sociais que vêm forjando outras visões/práticas acerca das amazônias, da Amazônia. Em suma, como se vê a decolonialidade é sentida como parte das lutas sociais e não somente como uma prática discursiva que, todavia, também é, como o é qualquer teoria. Meu livro “Os (Des)caminhos do Meio Ambiente”, de 1989, já desafiava frontalmente a “lógica identitária atomístico-individualista” da instituição imaginária da sociedade capitalista e sua modernidade, mas sem diálogo com o pensamento pós-colonial e decolonial. O pensamento decolonial se fez presente em minhas pesquisas quando, pela primeira vez, mapeei os conflitos por terra de 2003 e, para minha surpresa, constatei que os estados onde mais intensa fora a conflitividade e a violência foram os estados de Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins, estados marcados pela expansão/consolidação da agricultura empresarial com tecnologia de ponta, moderna. Não era no Nordeste da chamada oligarquia tradicional onde estavam os estados com maior intensidade de conflitos e violência, conforme índices que elaboramos. No momento em que analisava esses mapas com a dinâmica contraditória dos conflitos me dei conta de que era preciso descolonizar o pensamento, até porque desde o primeiro momento de nossa formação territorial o latifúndio monocultor de exportação, com base na super-exploração do trabalho(25) e da natureza e com tecnologia de ponta já estavam presentes. Os engenhos de açúcar se constituíam nas primeiras fábricas modernas e, já podemos dizer, coloniais. O Brasil, assim, como Cuba e Haiti, exportava açúcar e não matéria prima, a cana. E não era produto de pouco valor agregado, ao contrário, era o que mais agregava valor no capitalismo que ali nascia, inclusive com o capital se imiscuindo no circuito metabólico da produção ao criar uma planta industrial para acumular capital, inclusive com trabalho escravo. Somos modernos, e coloniais, a 500 anos! A modernidade tecnológica não está a serviço daquele que produz a riqueza. O capital, com sua colonialidade e seu racismo se mostra estruturando nossas classes sociais. A consigna de luta pela Vida, Dignidad e Territorio que vi nascer em 1990 nas Terras Baixas bolivianas, no Beni, em marcha em direção a La Paz e que, depois, já mais latinoamericanizado, soube que havia sido mobilizada também no Equador pelos indígenas marchando da Amazônia em direção Quito, me fazia sentir/pensar que uma geografia crítica se fazia a partir da geografia em crise da sociedade através da mobilização de seus grupos/classes sociais que saíam do fundo do mundo e nos faziam ver que “Outros 500” haviam nos 500 anos de moderno-colonialidade, como pude assistir durante a CNUMAD, a Rio 92, como já indiquei. O conceito de território congelado por uma geografia que olha o mundo de cima, de sobrevoo, que sente remotamente, (26) epistemologicamente comprometida com um lugar de enunciação a parir do estado que nos pariu, me permitam repetir a expressão, estava sendo desnaturalizado por aqueles grupos/classes sociais em situação mais profundamente subalternizada/oprimida/explorada. Território é, sempre, movimento de territorialização através do que os grupos/classes sociais se inventam simbólica-materialmente. Não há apropriação material sem sentido, sem significação. O Estado, mal chamado nacional, se mostra colonial ao ignorar/invisibilizar/inviabilizar as múltiplas nacionalidades, as múltiplas territorialidades que habitam um mesmo território que se quer nacional. A teoria do colonialismo interno, tal e qual formulara Pablo Gonzalez Casanova nos anos 1970, mostra toda sua validade. Daí emana um outro léxico teórico-político que mais que estado nacional fala de plurinacionalidade; mais que dominação da natureza, nos propõem a natureza como portadora de direitos, como inscrevem nas Cartas Magnas da Bolívia e do Equador; em lugar de intangibilidade da natureza, nos falam de Pachamama; mais que superar o subdesenvolvimento com o desenvolvimento, seja sustentável ou sustentado, propugnam por alternativas ao desenvolvimento, pelo Buen Vivir, pela Vida em Plenitude (Suma Qamaña, Sumak kausay); em vez de multiculturalismo nos falam de interculturalidade (Catherine Walsh). A luta contra o patriarcalismo e o racismo desafiam a centralidade da classe social assim como sua exclusividade diante das complexas relações sociais e de poder, ainda que sem negá-la. Convidam, por exemplo, que a consciência da classe proletária não mais olvide aquelas que cuidam da prole, como se o trabalho não-pago da mulher não proporcionasse ampliar ainda mais a mais valia que a classe proletária produz sob e para (submetida a) o capital; que cada forma de opressão, ao desvalorizar de distintas maneiras os corpos, autoriza/possibilita maior exploração. Não olvidemos que mutirão ou putirum é uma palavra de origem tupi - motyrõ - que significa "trabalho em comum", nome que se atribui a uma prática generalizada nas periferias urbanas de nosso país, indicando que há uma outra colonização de nossas cidades vinda de baixo, se é que colonização faz sentido para os de baixo. No mundo andino, se pratica nas periferias urbanas a minga, que em língua quechua-aymara também significa trabalho em comum. Se buscamos outros horizontes de sentido para a vida como, hoje, nos convida Aníbal Quijano e, nos anos 1920, nos convidava José Carlos Mariategui, e não queremos simplesmente um novo modo de produção, assim nos mantendo prisioneiros do mundo da produção e da economia, talvez aqui resida a possibilidade de encontrarmos outros caminhos para grafar a terra, para grafar o mundo. Quem sabe seja isso que esteja a nos sugerir o agrônomo quéchua-equatoriano Luis Macas que, em diálogo com Catherine Walsh, afirmara que “nossa luta é epistêmica e política”. Até mesmo a ideia de América Latina, tão cara às elites criollas e às esquerdas por seu caráter antinorteamericano frente a América Anglo-Saxônica, é posta em questão quando esses grupos/classes sociais que emergem à cena política batizam o continente como Abya Yala assinalando que dar nome próprio é um modo de apropriar-se da terra, do território. Não sem sentido tantos santos, sobretudo cristãos, dão nomes a cidades quando não expressam valores dos invasores como o dinheiro – argenta – da Argentina e seus rios de prata; de Venezuela, como pequena Veneza; ou Colômbia em homenagem a Colombo num país predominantemente indígena, negro embora também mestiço; ou de Bolívia em homenagem a Bolívar em um país predominantemente quechua-aymara e com mais 34 povos/etnias/nacionalidades. Como vemos essas geografias em movimento bem valem mais que uma missa! E todo esse repertório teórico-político se desenvolve num momento de crise das esquerdas logo após a queda de muro de Berlim nos anos 1990. Ou, quem sabe, justamente por causa da crise das esquerdas(27), e vemos emergir um pensamento crítico latino-americano anticapitalista e anticolonial onde, por exemplo, questões tradicionais embora não-exclusivas da Geografia se fazem presentes, como a relação sociedade-natureza através da ecologia política e do pensamento ambiental latino-americano, assim como a geografia se torna verbo e o território se vê em movimento enquanto tensões territoriais. Afinal, movimento implica mudança de lugar e, assim, todo movimento social implica, em algum grau, mudança da ordem que está situado. Vários grupos/classes sociais se constituem ao se mobilizarem com/contra a ordem social instituída, seja para ampliar os direitos constituídos, seja para inventar direitos, seja para transcender essa mesma ordem e, assim, entram em tensão com o modo como as coisas/os entes estão dispostos enquanto espaço social. Como nos ensinara Walter Mignolo, as epistemes têm lugar. A América, sobretudo a América Latina/Abya Yala e o Caribe são espaços privilegiados para entendermos o sistema mundo capitalista moderno-colonial, porque é a partir de 1492 que esse sistema mundo se constitui com sua geografia desigual, assimétrica, centro-periférica quando se dá o “encobrimento da América”, como chamou o filósofo Enrique Dussel a esse encontro que Étienne La Boétie chamaria de mal encontro. Não olvidemos que até 1453/1492 todos os caminhos levavam ao Oriente, a ponto de nos ter legado um verbo que indicaria o caminho certo a ser percorrido - orientar-se -, tal e como no Império Romano todos os caminhos levavam a Roma que nos dava o rumo certo que os romeiros haveriam de fazer suas (?) romarias. A geografia se faz verbo como se vê não só materialmente, mas também literalmente. Somente com a exploração da América é que a Europa ganha centralidade geohistórica, geopolítica, geocultural, geoeconômica. Enfim, a modernidade eurocêntrica implica a colonialidade! Essa geografia de larga duração nos atravessa ainda hoje. Depois de 500 anos ainda se fazem presentes no Brasil 305 etnias ocupando uma área de 110 milhões de hectares e aqui se falam 274 línguas. Quanta opressão, quantos massacres, quanta violência e esses povos/etnias/nacionalidades se reinventam, r-existem. Mesmo numa formação social como a nossa, em que tanto se destaca seus pilares no latifúndio, na monocultura e na escravidão, e se olvide de nosso pilar racista, como se a escravidão o abarcasse, os negros escravizados inventaram territórios de liberdade em pleno território da escravidão, como nos quilombos que, hoje, marcam 44 milhões de hectares de nosso território. O mesmo pode ser dito do branco pobre que foi se apossando da terra de trabalho pelos interiores do Brasil e que vão r-existir nas cabanagens, nas balaiadas, nas sabinadas, em Belo Monte, nome atualmente em voga por razões que, de certa forma, são as mesmas do Belo Monte de Antônio Conselheiro, massacrado em Canudos, cujas terras também estão de baixo d’água pelas hidrelétricas do São Francisco, tal e como o Beato José Maria também foi massacrado com seus pares no Contestado. Enfim, por todo lado o conflito fundiário, esse pilar estruturante de nossa injusta formação social, explode no campo brasileiro conformando geografias que indicam outros limites, cerne da política como nos ensinam os gregos e, agora vemos, os novos bárbaros. E o fazem dizendo que mais que luta pela terra é de luta por território que se trata. E não se luta pela terra, mas também de luta pela Terra. Afinal, está em curso uma grande transformação que vimos observando desde abajo, como se diz em bom espanhol, de onde vislumbramos outras grafias na terra, outras geografias. De um lado, a dinâmica metabólica do capital se desloca para a Ásia, para a Índia, sobretudo para a China, onde se concentra o maior parque industrial do mundo. Pela primeira vez, desde 1492, esse centro geográfico deixa de estar no Atlântico Norte (28). De outra perspectiva, nós do Brasil nos vemos obrigados a nos latino-americanizar, nós que olhamos soberbamente para a América Latina que, para o pensamento conservador brasileiro, é lugar de caudilhos e de revoluções onde se criaram repúblicas quando nós nos vimos como Império e nos inspiramos nos Estados Unidos da América do Norte, com seu federalismo fundado na pequena e média propriedade, mas aqui para afirmar a propriedade concentrada do latifúndio! Enquanto lá o liberalismo se abre para a esquerda por aqui nos dá o que há de mais conservador! As ideias têm lugar! Sendo o Brasil um país do Atlântico, o deslocamento geográfico do centro metabólico industrial do capitalismo para a Ásia, nos obriga a considerar a América Latina. Mas nossas elites continuam a olhar para fora e menos para seu próprio povo e seus territórios. É o que se viu com a IIRSA – Iniciativa de Integração Regional Sul Americana – desencadeada por FHC, no ano 2000, e posta em prática por Lula da Silva a partir de 2003. Dez EIDs – Eixos de Integração e Desenvolvimento – passaram a ser construídos como corredores(29) com portos, aeroportos, estradas, canais, hidrelétricas onde o que se visava era a conexão com a Ásia através dos portos do Pacífico. Mais interessava o fluxo que o fixo; o corredor mais do que o território; a mercadoria mais que as gentes. Os EIDs eram, na verdade não só Eixos de Integração e Desenvolvimento, mas também de violência e devastação. Enfim, a integração por cima desintegrava por baixo. É nesse contexto conflitivo que outras geografias vêm sendo engendradas. E desses lugares de r-existência é que tenho retirado grande parte de minha inspiração para esboçar uma teoria social crítica desde a Geografia a partir dos que vêm grafando a terra, geografando. NOTAS Embora o historiador marxista britânico E. P. Thompson (1924-1993) tenha afirmado que, após a segunda metade do século XX, esses grupos de socialização primárias vêm perdendo a primazia de formar as necessidades de seus filhos. 2 Em particular com a Liga Operária, uma pequena organização operária socialista e trotskista brasileira, fundada em 1972 e que existiu até 1978, e que teve papel importante nas lutas estudantis e operárias na década de 1970 e na organização da Convergência Socialista e do Partido dos Trabalhadores. 3 Aliás, como se pode observar de modo intenso na obra A Formação do Brasil Contemporâneo, de outro amigo de Orlando Valverde, no caso o doublé de geógrafo e historiador Caio Prado Jr. que nos mostra como o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia foi sendo sentida no processo de ocupação territorial do país. Tive om prazer de ministra um curso de Sociedade e Natureza no Brasil a partir desse livro. 4 Mais tarde esse conceito seria explorado, no Brasil, por Milton Santos e Ruy Moreira como Formação Socioespacial ou simplesmente Formação Espacial, por proporcionar uma compreensão do movimento desigual e combinado da sociedade enquanto espaço geográfico 5 Sou eternamente grato às companheiras e aos companheiros – socii em latim - Ana Maria Motta, Antônio do Amaral Serra, Dílson Mota, Dráuzio Gonzaga, Gisálio Cerqueira, Gislene Neder e Michel Misse. 6 Anos depois viria saber que Eder Sader era casado com Regina Sader da USP, uma geógrafa admirável e de notável sensibilidade sociológica e antropológica pioneira no estudo de movimentos sociais em Geografia. 7 Até porque se o capital é uma relação social em si mesma contraditória, qual seria a lógica do capital se não a lógica de suas contradições histórica e geograficamente situadas? Desafortunadamente, a primazia na “lógica do capital” tem deixado de fora as classes que se formam em luta. 8 Registre-se que Campos dispunha, então, do segundo mais antigo jornal do país - O Monitor Campista – que só não era mais antigo do que O Jornal do Commercio de Recife, fundado pela oligarquia latifundiária quincentenária canavieira de Pernambuco. Como se vê, as oligarquias latifundiárias sempre souberam da importância dos meios de comunicação para afirmar sua hegemonia. 9 Devo confessar que essa expressão herói vem à mente por lembrar a infeliz expressão do ex-Presidente Lula da Silva de chamar de heróis nacionais aos grandes produtores de combustíveis de biomassa, quando ele buscava se recobrir de legitimidade ambiental com os chamados biocombustíveis. Logo depois o mesmo presidente se mostraria igualmente mobilizado pelos combustíveis fósseis, depois da descoberta do Pré-Sal. 10 Diga-se, de passagem, que brasileiro, em Portugal durante o período colonial, era aquele que vivia de explorar o Brasil, assim como mineiro é o que vive de explorar as minas e o madeireiro o que vive de explorar as matas e as madeiras. Afinal, que outro adjetivo pátrio termina em eiro? 11 Um pequeno artigo “Notas para uma interpretação não-ecologista do problema ecológico”, publicado em 1982 começa a delinear a problemática que me acompanharia para sempre, inclusive pela tensão que acompanha o próprio título, o que pode ser visto em meus dois primeiros livros – Paixão da Terra: ensaios críticos de ecologia e Geografia (Ed. Rocco-Socii, 1984) e Os (Des)Caminhos do Meio Ambiente (Ed. Contexto, 1989); em minha dissertação de Mestrado sob o título Os Limites d’Os Limites do Crescimento (UFRJ, 1984) em que realizo uma investigação crítica sobre Os Limites do Crescimento, documento também conhecido como Relatório Meadows e que embasou a convocação da Iª. Conferência da ONU sobre Meio Ambiente realizada em Estocolmo, em 1972. 12 Até onde sei, Raíces de América, criado em 1979, é o primeiro grupo musical formado no Brasil inteiramente dedicado à música latino-americana. A Revolução Cubana teve um grande impacto na formação de uma consciência latino-americana e, até mesmo, um torneio de futebol latino-americano passou a ser disputado em 1960 que, a partir de 1965, adotou o sugestivo nome de Copa Libertadores da América. 13 Darci Ribeiro designa como indigenato um campesinato etnicamente diferenciado. Essa ideia me abriu uma luz a respeito de uma característica do campesinato pouco acentuada na literatura sociológica, qual seja, o caráter culturalmente diferenciado do campesinato, haja vista o conhecimento materializado nas práticas culturais geralmente ricas no conhecimento local da dinâmica metabólica da natureza (terra, solo, água, topografia-relevo, insolação, fauna, flora). Diga-se, de passagem, que esse caráter local do conhecimento camponês tem servido, via de regra, para desqualificar esse conhecimento. Enfim, colonialidade do saber, colonialidade do poder, diria mais tarde. 14 Castaño-Uribe, Carlos & Van der Hammen, Thomas (editores) (2005). Visiones y alucinaciones del Cosmos Felino y Chamanístico de Chiribiquete. UASESPNN Ministerio del Medio Ambiente, Fundación Tropenbos-Colombia, Embajada Real de los Países Bajos. (Pág. 227) y versión CD-Magnético. Bogotá. 15 De quem viria ser co-orientador em sua pesquisa de Mestrado, na UFMG, e orientador em sua tese de Doutorado, na UFF. C.E. Mazzetto Silva me ensinaria que o olhar do agrônomo e do geógrafo formam uma das melhores combinações possíveis, haja vista que um, o agrônomo, tem uma expertise que lhe permite organizar o espaço à escala da propriedade, mas em geral ignora as escalas que se forjam fora da porteira, o que o geógrafo melhor domina. Por isso, a importância desse diálogo entre geógrafos e agrônomos, ele costumava afirmar. 16 A área indígena onde morava Samuel Karajá ficava a não mais de 3 km da universidade. 17A terra como solo a se cultivar e controle de sua extensão (estrutura fundiária). 18 A água para saciar a sede, controle de seu acesso, fonte de energia, poluição e fonte de vida (pesca). 19 O ar como fonte de energia, como veículo da poluição (fumigação), cada vez mais fonte de expropriação. 20 O Sol como fonte da fotossíntese, da vida e, como tal, o controle da extensão de terras é, também, controle dessa energia vital, o que não é qualquer coisa num país tropical como o nosso, o que nos ajuda, em muito, a entender nossa inserção subordinada no sistema capitalista moderno-colonial. 21 A vida enquanto manifestação neguentrópica (E. Leff), autopoiética (H. Maturana), na qual se inscrevem metabolicamente os próprios grupos sociais e toda diversidade fruto das complexas relações biocenóticas que conformam os lugares/biotas. 22 Mais tarde eu sugeriria que esse livro fosse traduzido ao português, o que se efetuou em 2006, em que contribuí com a revisão técnica da sua tradução e ainda fui honrado com o convite para prefaciar essa edição em português, o que viria associar minha produção a essa tradição de pensamento crítico em construção. 23 Logo, logo eu solicitaria a Walter Mignolo que me autorizasse a publicar no Brasil esse artigo, no que fui atendido. Está publicado na Revista Geographia do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFF. 24 Talvez aqui a influência que pode ter se manifestado, ainda que inconscientemente, seja a do livro “O Orientalismo”, de Eduard Said, que havia lido por recomendação insistente de Lia Osório. Esse livro é considerado um dos marcos do pensamento pós-colonial que se fez sobretudo em língua inglesa, com toda a geopolítica do conhecimento que daí deriva. 25 Inclusive com o trabalho escravo. 26 Não seria esse o verdadeiro sentido de sensoriamento remoto? 27 Pelo menos é o que se pode depreender quando vemos lideranças camponesas históricas e que um dia abraçaram o marxismo se apresentem, hoje, como lideranças indígenas, como o peruano Hugo Blanco e o aymará-boliviano Felipe Quispe. 28 Inicialmente, no século XVI, na península ibérica. Depois na Holanda e, logo a seguir, na Inglaterra. Já no século XX, nos EEUU, sobretudo nos seus polos industriais do Nordeste (Detroit, Michigan, Pittsburg) que agora se desindustrializa e cujo desemprego acaba de eleger Donald Trump. Um novo fenômeno sociogeográfico emerge na principal potência do mundo com a desurbanização (desproletarização?), como por exemplo em Detroit cidade que abrigara 3 milhões de habitantes e hoje abriga 1,5 milhão! 29 Corredor é um conceito operativo amplamente usado nos documentos oficiais que são sustentação teórica à IIRSA.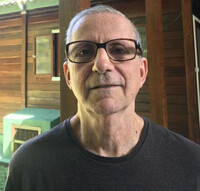 ANTÔNIO JOSÉ TEIXEIRA GUERRA ANTONIO JOSE TEIXEIRA GUERRA Biografia – Pensamento Geográfico 1- DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO TEÓRICO Data de nascimento: 06/09/1951, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Engenho Novo. Meus pais eram geógrafos: Antonio Teixeira Guerra e Ignez Amélia Leal Teixeira Guerra, ambos do IBGE, e meu pai era ainda professor da antiga UEG (atual UERJ), UFF e UFRJ. Naquela época não havia a figura do professor com 40 horas (Dedicação Exclusiva), como existe hoje em dia. Venho de uma família de sete filhos, sendo eu o primogênito e o único que seguiu a carreira de geógrafo. Família típica de classe média, com os pais professores e geógrafos do IBGE, tendo perdido meu pai em 1968, com apenas 44 anos de idade, de AVC. Com essa idade, meu pai deixou 12 livros publicados, pelo IBGE, e quase 100 artigos, em periódicos nacionais e internacionais e minha mãe passou a nos criar sozinha, após a morte do meu pai, quando minha irmã caçula tinha apenas 3 anos de idade. Todos nós conseguimos ir para a Universidade e somos hoje em dia: geógrafo, administrador de empresa, economista, química, advogado e professora de educação física. Todos nós frequentamos sempre escola pública, tanto no ensino fundamental, como médio. Meus pais sempre nos estimularam a ler muito, tínhamos em casa, sempre livros, além das enciclopédias, que meus pais compravam, e nós líamos muito. Nós éramos estimulados a frequentar curso de inglês, bem como aos domingos íamos ao cinema, no bairro do Engenho Novo, onde morávamos. Naquela época, dava para crianças e adolescentes andarem sozinhos pelas ruas. Eu adorava assistir às chanchadas brasileiras, além de filmes estrangeiros. A minha trajetória na Geografia remonta à década de 60, ainda na infância, quando por volta dos 10 anos de idade, começo minhas primeiras incursões de campo ao lado do meu pai Antonio Teixeira Guerra e seus alunos da UFRJ. Embora não pensasse que um dia viesse a me tornar geógrafo, essas saídas de campo, o legado adquirido na convivência com meus pais, ambos geógrafos, e o intercâmbio feito em 1968, por seis meses, nos EUA, tiveram, posteriormente, uma importância fundamental na escolha da minha carreira. Em 1969 fiz vestibular de Geografia para a UFRJ e UERJ, tendo passado em ambas, e fiz opção pela UFRJ, onde passei em 4º lugar e assim dei início à minha vida acadêmica. Optei por fazer, primeiramente, o curso de Bacharel em Geografia, até 1973 e no ano de 1974 fiz o curso de Licenciatura. Durante esse período na academia tive a honra de ter professores como: Maria do Carmo Correa Galvão, Dieter Muehe, Bertha Becker, Elmo da Silva Amador, Maria Regina Mousinho de Meis, Roberto Lobato Correa, Waldemar Mendes, Josette Madelaine Lins César, e muitos outros que foram importantes e contribuíram para meu entendimento da ciência geográfica. Durante a minha graduação, tive a oportunidade de trabalhar com a Profa. Maria Regina Mousinho de Meis, do qual fui bolsista de Iniciação Científica do CNPq, durante um ano. Isso me permitiu, além do aprendizado, me direcionar para uma das vertentes da geografia, a geomorfologia, da qual passei a me interessar bastante. Nessa época, Mousinho, assim como Bigarella, criaram modelos de evolução da paisagem, que tem o clima como o principal agente de denudação e esculturação do relevo. Ainda durante a graduação, comecei a ter experiência com a licenciatura, no qual lecionava durante a noite, para o ensino supletivo (cursos de geografia e inglês). Também tive a oportunidade de trabalhar no Censo Demográfico de 1970, o que me deu uma grande experiência, já que estava fazendo Geografia da População, no 1º ano da faculdade. Sempre me interessei por tudo relacionado à Geografia, durante meu curso na UFRJ, tendo participado de várias reuniões da AGB, tendo feito diversos cursos de extensão, oferecidos pela AGB e pelo Clube de Engenharia, assistido palestras, enfim, não me ative à sala de aula. Como nós tínhamos uma excelente biblioteca em casa, isso facilitava muito minha vida de estudante; eu lia um pouco de tudo, não apenas Geografia. No IBGE, além da minha experiência com o Censo Demográfico, fui estagiário e trabalhei com excelentes geógrafos, como Eugenia Egler, Edgard Khulman e Alfredo Porto Domingues. Esse estágio me possibilitou a entrada na instituição logo após minha conclusão do curso de Geografia em 1973, contratado como geógrafo. Além de participar de vários projetos coordenados por Alfredo Porto Domingos e Edgar Khulman, também escrevi alguns artigos, nesse período. 2- PRINCIPAIS contribuições para a Geografia Brasileira Após alguns anos de trabalho no IBGE, senti necessidade de me aperfeiçoar e ter mais independência e autonomia profissional. A questão ambiental também já me despertava um grande interesse e foi dessa forma que resolvi fazer mestrado em Geografia. Ingressei no mestrado do PPGG, da UFRJ, no ano de 1979. Foi um passo importante na minha formação acadêmica, pois nessa época vivenciava-se um grande debate sobre a temática ambiental, e assim pude explorar esse tema com excelentes professores, do qual destaco aqui o Prof. Dr. Jorge Xavier da Silva, meu orientador - hoje Professor Emérito do Departamento de Geografia, onde somos colegas. Minha dissertação intitulada: Delimitação de Unidades Ambientais na bacia do rio Mazomba – Itaguaí, RJ, defendida em 1983, corroborou ainda mais para meu entendimento do papel que a Geografia representava diante da questão ambiental, e a geomorfologia, a partir desse trabalho, passou a ser vista por mim como de grande importância e valia nos estudos de planejamento e uso da terra. Nessa época, eu já era professor colaborador do departamento de Geografia da UFRJ, uma categoria criada no final da década de 70 pelo MEC. Pensando em novos desafios e buscando aperfeiçoamento, numa época, em que fazer doutorado ainda era um privilégio de poucos, em 1985 enviei meu projeto de tese para o King´s College London, Universidade de Londres, tendo sido não só aprovado pela Universidade, como também pelo Conselho de Reitores da Inglaterra, para desenvolver meu doutorado nessa universidade. Essa aprovação do Conselho de Reitores permitiu que o CNPq, concedesse uma bolsa de doutorado, por quatro anos, bem como pagar minhas taxas à Universidade de Londres, como seu eu fosse um aluno da União Europeia, ou seja, bem mais barato do que um aluno estrangeiro. Considero os cinco anos que fiquei na Inglaterra, como um turning point na minha vida profissional, pois conheci grandes nomes da literatura geomorfológica inglesa (Denis Brunsden, Roy Morgan, John Boardman, Helen Scoging, David Favis-Mortlock, Rita Gardner, John Pitman, Tim Burt, Andrew Goudie, John Gerrard, dentre outros) e direcionei minhas pesquisas à erosão dos solos. Fui orientado por Denis Brunsden, considerado à época um grande nome na geomorfologia inglesa e internacional. Nesse período, participei de várias atividades acadêmicas, como elaboração de artigos, participação e apresentação de trabalhos em congressos na Inglaterra e em outros países europeus. Também criei uma estação experimental, para monitorar erosão dos solos, no sul da Inglaterra, onde o King´s College possuía um campus avançado, bem como construí um simulador de chuvas, o que me serviu como parte experimental e para obtenção de dados, da minha tese. Além disso, dei aulas práticas de laboratório, para os alunos de graduação do departamento de Geografia, bem como um curso sobre Impactos Ambientais Brasileiros, para os alunos de graduação do King´s College London. Fui convidado por Denis Brunsden, durante meu doutorado, para ser seu assistente em dois trabalhos de campo (alunos de graduação e mestrado, aproximadamente 30 alunos por turma). Essas incursões na costa sul da Inglaterra, mais precisamente Dorset (cinco dias) e na costa do Mediterrâneo, na região de Almeria, Espanha (uma semana), me renderam valiosas informações a respeito de erosão dos solos e movimentos de massa, bem como foi uma experiência ímpar para mim, porque ainda como doutorando, eu estava orientando alunos de graduação e de mestrado do King´s College London, o que me deu muita reputação e respeito, por parte dos meus colegas doutorandos e professores do Departamento de Geografia da Universidade. Com relação ao meu doutorado e, concomitantemente às minhas pesquisas de campo, como peguei três anos muito secos, tive que ampliar um pouco o monitoramento da estação experimental e assim minha estada em Londres durou cinco anos. Como a bolsa do CNPq era para apenas quatro anos, fiz prova para o Sistema de Rádio da BBC de Londres e passei. Dessa forma, no meu último ano de doutorado, trabalhei na BBC como repórter ambiental, para ter dinheiro suficiente, para me manter em Londres, e consegui terminar minha tese de doutorado, intitulada: Soil characteristics and erosion, with particular reference to organic matter content, que defendi em janeiro de 1991. Retornei ao Brasil em fevereiro de 1992, onde voltei a ministrar aulas e trabalhar em pesquisa, formação de recursos humanos e extensão no Departamento de Geografia da UFRJ, que será tratado mais adiante. Ainda fazendo parte da minha formação acadêmica, em 1997 fui aceito pela Universidade de Oxford, bem como consegui bolsa de pós-doutorado do CNPq, e passei um ano no Environmental Change Unit, desenvolvendo projeto de pesquisa, em parceria com dois grandes especialistas em erosão dos solos, John Boardman e David Favis-Mortlock. Nesses 12 meses tive atuação intensa, na Universidade de Oxford, através de palestras que ministrei e assisti, bem como alunos de mestrado, daquela universidade que orientei, em projetos relacionados à erosão dos solos. Desenvolvi também projeto em erosão por ravinas, utilizando um simulador de chuvas disponível na School of Geography, em conjunto com os dois pesquisadores mencionados acima. Os dados obtidos desses experimentos foram publicados na Geography Review, Catena e Earth Surface Processes and Landforms, em conjunto com David Favis-Morlock. Durante meu pós-doutorado apresentei trabalhos em dois congressos científicos, um na Holanda e outro em Dundee, na Escócia. Aproveito também para destacar que sou sócio de duas entidades cientificas, das quais participo ativamente, dando parecer em artigos submetidos às suas publicações, como também submetendo artigos, com vários já publicados, em especial na Revista Brasileira de Geomorfologia. As duas entidades são: União da Geomorfologia Brasileira, da qual fui um dos criadores e Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, essa atualmente, apenas como pareceristas de artigos. Minha vida acadêmica mudou bastante, quando da minha volta da Inglaterra, em fevereiro de 1991, com o título de PhD, que obtive, após cinco anos de pesquisa. Adaptei-me perfeitamente ao Departamento de Geografia da UFRJ, iniciando imediatamente minhas atividades de ensino e extensão, pesquisa e produção científica. Assim que cheguei comecei a formar um grupo de pesquisa em movimentos de massa e erosão dos solos, que iria mais tarde ser concretizado no LAGESOLOS (Laboratório de Geomorfologia Ambiental e Degradação dos Solos). Desde essa época comecei a pesquisar o município de Petrópolis, devido aos casos recorrentes de processos de degradação dos solos, do tipo movimentos de massa e erosão dos solos. Ainda no ano de 1991, comecei a fazer levantamentos pedológicos e geomorfológicos, no município, em conjunto com bolsistas de Iniciação Cientifica. No ano seguinte, passei a ter os primeiros mestrandos, e, dessa forma, iniciaram-se os trabalhos de campo com mais frequência a Petrópolis, onde montamos a primeira estação experimental para monitorar processos erosivos (o que eu já havia feito na Inglaterra, durante o meu doutorado). Eu dava andamento à minha carreira de pesquisador e professor universitário, agora com maior conhecimento conceitual, metodológico, técnico e aplicado. O retorno da Inglaterra foi um recomeço na minha vida profissional e, imediatamente, dei entrada em pedido de bolsa de produtividade em pesquisa, ao CNPq, o que ganhei e mantenho até hoje. Na época eu era pesquisador 2 e a partir de 2001, passei a ser 1A. Nos últimos 30 anos, tive 22 projetos aprovados pelo CNPq, incluindo Editais Universais, Bolsa de Produtividade em Pesquisa, Bolsa de IC e AT e, a vinda de professor Mike Fullen, da Universidade de Wolverhampton (duas vezes) e do Prof. Daniel Germain, da Universidade de Quebec, em Montreal, que veio uma vez ao LAGESOLOS, Departamento de Geografia, da UFRJ. Em relação ao Professor Michael Fullen, temos trabalhado em parceria, desde meados da década de 1990, tendo escrito diversos artigos em co-autoria, bem como em 2015, fiz meu segundo pós-doutorado, na Universidade de Wolverhampton, com quem trabalhei, durante sete meses. Foi através desses editais do CNPq e cinco ganhos junto à FAPERJ, sendo que três referem-se a Pesquisador do Nosso Estado, que consegui equipar o LAGESOLOS, com computadores, microscópio, Yodder, GPS, bússola de geólogo, martelo de geólogo e de pedólogo, impressoras, penetrômetro, pHâmetro, balança de precisão, trado de amostra volumétrica, trado holandês, câmera digital, imagens de satélite, fotografias aéreas, livros, e outros equipamentos necessários ao desenvolvimento dos projetos do Laboratório. Com a verba do Pesquisador do Nosso Estado, da FAPERJ, consegui comprar um Fiat Uno Mille Way, que veio facilitar bastante nossos trabalhos de campo. Apesar de ter publicado alguns artigos em periódicos nacionais e em anais de congressos, antes da minha ida para a Inglaterra, foi no retorno que comecei a ter uma produção mais frequente, tanto em periódicos nacionais, como internacionais, a partir das pesquisas realizadas tanto no estado do Rio de Janeiro, como em vários outros estados brasileiros, a partir de convênios e editais aprovados pelo CNPq e pela FAPERJ. Em relação a projetos aprovados por órgãos de fomento, até os dias de hoje, tive vários financiados pelo CNPq, FAPERJ e União Europeia (Projeto Borassus). Esses projetos referem-se a estudos realizados em Petrópolis, bacia do rio Macaé e município de São Luís, mais recentemente. Em relação ao Projeto Borassus, trabalhamos por quatro anos, em conjunto com outros nove países (Inglaterra, Bélgica, Hungria, Lituânia, África do Sul, Gâmbia, Tailândia, China e Vietnam), sob a coordenação do Prof. Michael Fullen, da Universidade de Wolverhampton. Durante esses quatro anos aconteceram reuniões semestrais nesses países e eu organizei uma no Rio de Janeiro, em 2007, levando uma equipe de 30 pesquisadores estrangeiros, para conhecerem nosso trabalho em São Luís (Maranhão). A partir desse projeto de pesquisa e de extensão, voçorocas foram monitoradas e recuperadas em São Luís, com a participação de professores e alunos de graduação, mestrado e doutorado, da UFRJ e UFMA. Houve também a participação efetiva de residentes das comunidades carentes, onde desenvolvemos esses projetos, tanto na produção dos geotêxteis de fibra de buriti, como na aplicação dessas telas, e em projetos de educação ambiental. A partir desse projeto, quatro monografias de graduação foram orientadas, bem como três dissertações de mestrado e duas teses de doutorado. Uma delas foi defendida em 14/03/2011, pelo aluno Jose Fernando Rodrigues Bezerra, que fez um ano do seu doutorado sandwich, na Universidade de Wolverhampton, com co-orientação do Prof. Michael Fullen. Por sinal, o CNPq aprovou a vinda do Prof. Fullen ao Brasil, para a defesa de tese do Fernando, assim como fizemos trabalho de campo na bacia do rio Macaé e outras atividades acadêmicas agendadas. Com esse projeto, consegui consolidar mais uma linha de pesquisa desenvolvida no LAGESOLOS, como o de recuperação de áreas degradadas. Entre janeiro e julho de 2015 desenvolvi trabalho de pesquisa, financiado pelo CNPq, na Universidade de Wolverhampton, na Faculty of Science and Engineering, sendo esse o meu segundo pós-doutorado. Porem, durante esse período fui considerado pela Universidade como Visiting Professor (Professor Visitante), tendo tido a oportunidade de, além de consultar e ler muitos livros e artigos, referentes à erosão dos solos e movimentos de massa, fui convidado pelo Prof. Michael Augustine Fullen, com quem trabalhei nesse período, a dar alguns seminários para professores e doutorandos para a referida faculdade. O primeiro deles foi dado no dia 18/03, em parceria com a doutoranda Maria do Carmo Oliveira Jorge, intitulado: Geoconservation and Geotourism, in Ubatuba - São Paulo State - Brazil, related to soil properties, tema que temos desenvolvido no LAGESOLOS, nos últimos anos, e continuamos a desenvolver na Inglaterra. O segundo deles, também dado em parceria com Maria do Carmo, foi no dia 15/04, intitulado Land Degradation in Brazil – causes and consequences, tema que venho desenvolvendo há mais de 30 anos. Em ambos houve a oportunidade de fazer uma ótima troca de experiência nossa com os responsáveis por projetos de pesquisa que vêm sendo desenvolvidos por professores e doutorandos na Faculty of Science and Engineering, onde desenvolvi o pós-doutorado. A partir desses dois seminários, bem como do trabalho desenvolvido durante sete meses na Universidade de Wolverhampton, surgiram oportunidades de trabalho em cooperação com alguns dos professores dessa Universidade, tais como: Profa. Dra. Lynn Besenyei, grande ecóloga inglesa e o Prof. Dr. Ezekiel Chinyio, importante planejador e arquiteto nigeriano, ambos professores da Universidade de Wolverhampton, com quem tive a oportunidade de trabalhar, nesse período. Não poderia deixar de mencionar a Profa. Dra. Pauline Corbett, Diretora da Faculdade de Ciência e Engenharia, com quem tive diversas conversas acadêmicas e a quem agradeço muito a acolhida, durante o período que passei na Universidade de Wolverhampton. Tive também a oportunidade de assistir a diversos seminários, como o dado pelo Prof. Michael Fullen, no mes de maio, intitulado Developing a Research Publications Strategy, onde consegui colocar minhas posições sobre o tema em questão, para uma audiência de professores e doutorandos da Universidade, enfim, mais uma experiência muito rica, durante meu pós-doutorado. Outro seminário muito interessante que assisti no dia 20/05 foi o Cradle to Cradle, que trata de sustentabilidade nos países europeus. Tudo que eu precisei nesse período, da Profa. Dra. Pauline Cobbert, tive atendimento imediato. Graças ao convite de Michael Fullen, tive também a oportunidade de orientar alunos de uma escola primária de Wolverhampton, sobre a importância do solo na teoria e na prática, em um espaco público, denominado alottment. Foi realmente uma grande experiência profissional, poder estar em contato com uma pequena área rural, dentro da cidade. Tal projeto refere-se à agricultura urbana, com o objetivo de instruir alunos de escola de ensino fundamental, no sentido de os alunos compreenderem o papel que os solos têm no plantio de verduras, frutas e legumes, bem como pode ser melhor compreendido e usado por pessoas que vivem em áreas urbanas. Os alunos participam de todas as fases, desde o preparo da terra, passando pelo plantio e depois a colheita. A coordenadora desse projeto é a professora Keptreene Finch, que vem desenvolvendo essas atividades há algum tempo, na cidade de Wolverhampton. Foi mais um aprendizado, que temos adaptado essa metodologia ao município de Ubatuba (SP), com escolas públicas. A partir de 2013, o LAGESOLOS passou a trabalhar, além de projetos relacionados à erosão dos solos, que vem desenvolvendo, desde a sua fundação, agora também, com geoturismo, geodiversidade e geoconservação. Quatro teses de doutorado foram desenvolvidas, nesse período (Jorge, 2017; Espírito Santo, 2018; Rangel, 2018; Pereira, 2019), além de diversos capítulos de livros (Guerra, 2018; Jorge, 2018) e artigos, em periódicos nacionais e internacionais (Jorge e Guerra, 2016; Jorge et al., 2016; Rangel et al., 2019). Essa é uma linha de pesquisa relativamente recente no país e, para seguí-la, os membros do LAGESOLOS, além da sua produção própria, têm contado com a colaboração de autores como: Mansur (2010 e 2018); Hose (2012); Gray (2013); Brilha (2016), Costa e Oliveira (2018), dentre outros. Quando falamos em geoturismo, geodiversidade e geoconservação, um ponto comum entre essas três áreas de conhecimento, é a erosão que é causada em diversas trilhas, e esse tema de pesquisa tem aparecido em diversos trabalhos desenvolvidos pelo LAGESOLOS, nesses últimos anos (Jorge et al., 2016; Jorge e Guerra, 2016; Jorge, 2017; Espírito Santo, 2018; Guerra, 2018; Rangel, 2018; Pereira, 2019; Rangel et al., 2019). Essas feições aparecem com frequência, em diversas trilhas que temos estudado, tanto em Ubatuba – SP, como em Paraty-RJ, e no Amapá. Sob essa perspectiva, são inúmeros os aspectos que temos abordado, levando em conta essa nova linha de pesquisa adotada no LAGESOLOS, como o patrimônio geológico e geomorfológico, a importância das comunidades locais, bem como os desafios para a sustentabilidade ambiental, os impactos causados nas trilhas e, em especial, o que faz uma ligação com a essência do LAGEOLOS, desde a sua criação, que é o estudo da erosão dos solos e dos movimentos de massa, presentes nos estudos que temos desenvolvido sobre geoturismo, geodiversidade e geoconservação (Jorge et al., 2016; Jorge, 2017; Espírito Santo, 2018; Guerra, 2018; Rangel, 2018; Pereira, 2019; Rangel et al., 2019). Ao longo dos quase 30 anos decorridos entre minha defesa da tese de doutorado (1991) e os dias de hoje, tenho publicado dezenas de artigos em periódicos nacionais e internacionais, bem como em anais de congressos, podendo ser destacados os seguintes; Utilizing biological geotextiles: introduction to the Borassus Project and global perspectives (2011); Biological geotextiles as a tool for soil moisture conservation (2011); Evaluation of geotextiles for reducing runoff and soil loss under various environmental conditions using laboratory and field plot data (2011); Effectiveness of biological geotextiles on soil and water conservation in different agro-environments (2011), todos os quatro artigos, lançados pelo periódico Land Degradation and Development. Encostas Urbanas como unidades de gestão e planejamento, a partir do estudo de áreas a sudoeste da cidade do Recife-PE, publicado na Revista de Geografia (Recife-2007), Mapping hazard risk - A case study of Ubatuba, Brazil, publicado na Geography Review (2009), Mass Movements in Petrópolis, Brazil, também na Geography Review (2007), bem como A simple device to monitor sediment yield from gully erosion -. International Journal of Sediment Research (2005), e The Implications of general circulation model estimates of rainfall for future erosion: a case study from Brazil, publicado na CATENA (1999) são alguns exemplos das minhas publicações. Fui coorganizador, organizador, autor e coautor de 15 livros (todos pela Bertrand Brasil), três dicionários e dois atlas, assim como autor de capítulos em vários livros nacionais e internacionais. Inclusive o que está bastante relacionado ao tema que venho desenvolvendo há muitos anos, intitulado: Predicting soil loss and runoff from forest roads and seasonal cropping systems in Brazil, using WEPP (Guerra, A.J.T. e Soares da Silva, A.), no livro Handbook of erosion modelling, organizado por Roy Morgan e Mark Nearing e publicado por J. Wiley (2011). Todos os livros que saíram pela Bertrand Brasil, desde 1994 são bem conhecidos da comunidade geográfica, bem como de engenheiros, geólogos, ecólogos, arquitetos, agrônomos, urbanistas etc. Gostaria aqui de destacar o primeiro livro que foi Geomorfologia – uma atualização de bases e conceitos, já estando na sua 12ª edição. Esse foi o primeiro de uma série de 15 livros, todos na área da Geomorfologia, Gestão Ambiental, Erosão dos Solos e Movimentos de Massa. Assim que retornei do meu doutorado, senti a necessidade de dar minha contribuição, não só em termos de atividades de ensino e de extensão, mas também na organização e autoria de livros e artigos científicos. Para esse primeiro livro convidei a professora Sandra Baptista da Cunha, colega de departamento naquela época e, a partir de várias reuniões, selecionamos os autores e os capítulos do livro, a maioria deles, nossos colegas do departamento de Geografia, da UFRJ. Outros livros, como Avaliação e Perícia Ambiental, na sua 13ª edição, Erosão e Conservação dos Solos, na 8ª edição, Impactos Ambientais Urbanos no Brasil, na 8ª edição, Geomorfologia Ambiental (5ª edição), A Questão Ambiental – Diferentes Abordagens (7ª edição), Geomorfologia e Meio Ambiente (9ª edição) também foram publicados nesses últimos anos. Geomorfologia Urbana, também foi publicado pela Bertrand Brasil, em março de 2011, o qual sou organizador e autor de um dos capítulos (Encostas Urbanas). O livro aborda uma série de temas que são bem atuais, em especial após as catástrofes ocorridas na região serrana do Rio de Janeiro. O livro contém capítulos sobre Geotecnia Urbana, Bacias Hidrográficas Urbanas, Licenciamento Ambiental Urbano, Solos Urbanos, Antropogeomorfologia Urbana e Geomorfologia Urbana – Conceitos e Temas. O mais recente, saiu agora no ano de 2020, intitulado Geografia e os Riscos Socioambientais, organizado pela Professora Dra. Cristiane Cardoso, da UFRRJ, pela doutoranda da UERJ, Michele Souza e Silva e por mim. O livro foi publicado pela Bertrand Brasil e destaca o papel da Geografia como ciência fundamental para compreendermos a nossa realidade. A ideia do livro surgiu do pós-doutoramento, que a professora Cristiane Cardoso, fez comigo, entre 2018 e 2019, e a Bertrand encampou nosso projeto. Nesse livro eu escrevi um capítulo, em conjunto com minha esposa Maria do Carmo Oliveira Jorge (também geógrafa), com quem tenho desenvolvido diversos projetos, artigos, capítulos e livros, além de termos uma filha - Maria Júlia Jorge Guerra, nossa princesa, de 10 anos de idade. O título do capítulo do referido livro é: A bacia hidrográfica: compreendendo o rio para entender a dinâmica das enchentes e inundações (Jorge e Guerra, 2020). Nessa biografia é importante chamar atenção também para o livro Coletânea de Textos Geográficos de Antonio Teixeira Guerra, que não é apenas uma homenagem a meu pai, que me inspirou para que eu seguisse a carreira de geógrafo, mas também, porque li toda a sua obra, contendo mais de 100 artigos publicados no Brasil e no exterior. Dessas publicações selecionei 13 artigos, que eram de interesse de um grande público, que não tinha mais acesso aos seus trabalhos, todos esgotados, até 1994, quando saiu esse livro. Uma outra publicação que gostaria de chamar atenção é o Novo Dicionário Geológico-Geomorfológico (o antigo Dicionário Geológico-Geomorfológico), escrito por meu pai, no início da década de 1960, e publicado pelo IBGE. Como eu reformulei totalmente a antiga edição do dicionário, bem como acrescentei 500 novos verbetes, minha mãe (também geógrafa) permitiu que eu entrasse como coautor do meu pai e a Bertrand lançou sua 1ª edição em 1997; hoje já está em sua 10ª edição. Atualmente estou escrevendo uma nova edição, com mais 300 novos verbetes e atualização dos existentes. Entre 2005 e 2009 participei de um projeto, em conjunto com o LNCC (Laboratório Nacional de Computação Cientifica), situado em Petrópolis, com a empresa de engenharia Terrae e com a Defesa Civil de Petrópolis, para a criação de um Sistema de Alerta a enchentes e deslizamentos. Diversos mapas de riscos foram elaborados, como parte desse projeto, bem como vistorias de campo foram desenvolvidas, ao longo desses quatro anos. Mais uma vez, tive a oportunidade de dar minha contribuição à sociedade, em um campo de saber, que venho trabalhando há algum tempo. Finalmente, gostaria de abordar minha coordenação do LAGESOLOS, Laboratório que foi criado em 1994, em cooperação com os mestrandos (Antonio Soares da Silva e Rosangela Garrido Botelho) e do doutorando Flavio Gomes de Almeida. Atualmente divido a coordenação do LAGESOLOS, com o Prof. Dr. Raphael David dos Santos Filho, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da UFRJ. Naquela época éramos poucos e hoje em dia somos quase 30 membros, incluindo coordenadores, pesquisadores associados, doutorandos, mestrandos e bolsistas de iniciação cientifica (www.lagesolos.ufrj.br). O Laboratório, ao longo desses 26 anos, produziu mais cem artigos em periódicos nacionais e internacionais, bem como em anais de eventos científicos. Foram defendidas 28 teses de doutorado, 31 dissertações de mestrado e 33 monografias, o que dá uma boa medida da produção cientifica do Laboratório. Esses dados podem ser vistos na edição da Newsletter 2/1010, da European Society for Soil Conservation, onde publiquei o artigo Laboratory of Environmental Geomorphology and Land Degradation of the Federal University of Rio de Janeiro (Brazil) – History, Research Themes and Achievements. O LAGESOLOS atua em várias linhas de pesquisa, com diversos projetos em andamento, como por exemplo: Erosão dos Solos e Movimentos de Massa no Brasil; Geomorfologia Ambiental e Análise Integrada da Paisagem; Micromorfologia dos Solos e Contaminação da Água; Análise das Voçorocas Urbanas em São Luis – Maranhão; Dinâmica dos Sistemas Geomorfológicos Encosta-Calha Fluvial; Planejamento Ambiental em Micro-Bacias Hidrográficas. Essas linhas de pesquisa e projetos espalham-se por diversas partes do território nacional, como: Cáceres, Campo Grande, Coari, Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, Palmas, São Luis, Bacia do rio Macaé, dentre outras. Mais recentemente, temos atuado também em projetos relacionados ao Geoturismo, Geodiversidade e Geoconservação, com apoio financeiro e através de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, da CAPES, CNPq e FAPERJ, tanto no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, como em Ubatuba, no litoral norte paulista. No município de Rio Claro (RJ), temos desenvolvido projetos de monitoramento de voçorocas, bem como estamos utilizando técnicas modernas com uso do VANT e Laser Scanner Terrestre, bem como estamos iniciando projeto de recuperação de voçorocas. 3- AVANÇOS TEÓRICOS E CONTROVÉRSIAS Após ter me formado em Bacharel em Geografia (1973) e Licenciatura em Geografia (1974), pela UFRJ, fui contratado como Geógrafo pelo IBGE (1974), e no final da década de 1970, ingressei no Mestrado em Geografia da UFRJ, onde eu já era professor colaborador. Em 1986 ingressei no doutorado em Geografia do King´s College London, Universidade de Londres, tendo defendido minha tese em 1991, intitulada Soil characteristics and erosion, with particular reference to organic matter contente. A partir daí passei a me dedicar aos estudos de Erosão dos Solos, ou seja, há aproximadamente 30 anos. Minha vida acadêmica, ao longo dos cinco anos na Inglaterra, foi fundamental, devido ter entrado em contato com grandes nomes da ciência geográfica, que trabalhavam com erosão dos solos, movimentos de massa, hidrologia, mudanças climáticas etc. Citando apenas algumas, posso destacar meu orientador Denis Brunsden, mas também John Boardman, Robert Evans, Tim Burt, Roy Morgan, Jean De Ploey, entre tantos. Além disso, tive a oportunidade, depois de passar por processo seletivo, de trabalhar como repórter no Serviço Brasileiro de Rádio da BBC de Londres, entre 1990 e 1991, abordando matérias relativas à dinâmica ambiental, o que foi mais uma experiência profissional na minha vida. Ao retornar ao Brasil, no início de 1991, após ter defendido minha tese de doutorado, comecei a criar um Grupo de Estudos em Erosão dos Solos e Movimentos de Massa, no Departamento de Geografia, da UFRJ, que mais tarde se tornou no LAGESOLOS, criado por mim, Antonio Soares da Silva (professor da UERJ), Rosangela Garrido Botelho (geógrafa do IBGE) e Flavio Gomes de Almeida (professor da UFF). Minhas maiores contribuições conceituais e metodológicas, ao longo da minha carreira acadêmica, relacionam-se à forma como venho tratando a erosão dos solos, no que diz respeito ao monitoramento e classificação de erosão em lençol, ravinas e voçorocas. Tenho seguido a metodologia adotada pela Associação Americana de Ciência do Solo (Soil Science Society of America), que diferencia ravina de voçoroca, no tocante às medidas de largura e profundidade, sendo os limites entre essas duas feições erosivas, 0,5 m de largura e profundidade. Essas medidas caracterizam ravinas, enquanto medidas superiores são classificadas como voçorocas. Essas é uma tendência de limites estabelecidos também por pesquisadores europeus, que tem estudado essas feições, na África, Ásia, América do Sul e na Europa também. O International Symposium on Gully Erosion, desde sua primeira edição, na Universidade de Leuven, na Bélgica, em 2000, onde estive presente, até os vários outros eventos, ao longo dos anos, tem seguido essa metodologia. Essas posições adotadas por mim são amplamente amparadas por referências bibliográficas nacionais e internacionais, que estão citadas, ao longo dessa biografia. O livro que resume boa parte, do que considero uma das minhas contribuições teórico-conceituais e metodológicas, no estudo da erosão dos solos, está retratado em Erosão dos Solos e Movimentos de Massa – Abordagens Geográficas, de minha autoria, que saiu publicado pela Editora CRV, de Curitiba, no ano de 2016. Esse livro, que resume boa parte da minha vida acadêmica, foi escrito, durante meu pós-doutorado na Universidade de Wolverhampton (Inglaterra), no ano de 2015. Os monitoramentos desenvolvidos, em várias partes do país, através das estações experimentais, são mais uma marca do avanço metodológico do LAGESOLOS, onde, sob condições variadas de climas, solos e declividade, conseguimos produzir dados, que deram origem a monografias de graduação, dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos e capítulos de livros. Todos foram fundamentais na produção de conhecimento, bem como na formação de recursos humanos. 4- ELEMENTOS MARCANTES QUE ENTRELAÇAM SUA VIDA PESSOAL E INTELECTUAL. Minha vida pessoal e intelectual se entrelaçam, desde muito cedo, à medida que sempre me identifiquei com a Geografia, não só pelo interesse que tinha desde os 10 anos de idade, ao fazer trabalhos de campo, com meu pai Antonio Teixeira Guerra, e seus alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que me acompanhou por toda a vida, até os dias de hoje. Durante o curso de graduação em Geografia, na UFRJ, entre os anos de 1970 e 1973, sempre me dediquei a leituras de caráter conceitual, metodológica e aplicada, bem como participei de eventos organizados pela AGB, palestras no Clube de Engenharia, bem como fui bolsista de Iniciação Científica do CNPq e estagiário do IBGE. Isso tudo contribuiu sobremaneira para a minha formação profissional, que se seguiu no mestrado em Geografia, da UFRJ, entre os anos de 1979 e 1983, e depois no doutorado, na Universidade de Londres, entre os anos de 1986 e 1991, com tese sobre Erosão dos Solos. Atualmente coordeno o LAGESOLOS, no Departamento de Geografia da UFRJ, onde temos dado continuidade aos trabalhos sobre Erosão dos Solos, Movimentos de Massa, Geoturismo, Geodiversidade e Geoconservação, em conjunto com alunos de graduação, mestrado e doutorado. Pós-doutorandos e pesquisadores associados do LAGESOLOS têm participado ativamente desses projetos, em conjunto com colegas de outras Universidades brasileiras e internacionais. Agências de fomento, como o CNPq, CAPES e FAPERJ têm sido fundamentais para o desenvolvimento dessas linhas de pesquisa, ao longo de mais de 25 anos. A União Europeia, através do Projeto Borassus, entre os anos de 2005 e 2008, também teve importância fundamental, no avanço das nossas pesquisas, uma vez que além do aporte financeiro proporcionado pelo Projeto, tivemos a oportunidade de entrar em contato com dezenas de pesquisadores de nove países, da Europa, Ásia e África, que trabalham com erosão dos solos, não só na perspectiva acadêmica, de produção científica, mas também, de forma aplicada, quando foram recuperadas voçorocas em todos esses países, e no Brasil, recuperamos a voçoroca do Sacavém, em São Luís, após alguns anos de monitoramento, acompanhando sua evolução e, posterior recuperação, feita com geotêxteis produzidos com fibra de buriti, uma palmeira abundante no Maranhão. O referido projeto comprovou a necessidade de conhecimento do processo erosivo, em todos os seus detalhes, de forma a podermos chegar à aplicação do conhecimento científico, na medida que conseguimos recuperar a voçoroca, de forma e não permitir mais sua evolução, o que prejudicava sobremaneira, a população, que vivia no seu entorno. A verba oriunda da União Europeia se constituiu em forma de podermos investir na produção de conhecimento científico, aplicação de técnicas de bioengenharia, bem como em trabalhos de extensão, formação de recursos humanos, através das monografias de graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Além disso tudo, conseguimos gerar renda para a população que vivia no entorno da voçoroca do Sacavém, pois ela foi empregada para fabricar os geotêxteis e para aplicar os mesmos, na recuperação da referida voçoroca, tendo sido uma excelente forma de recuperar a área degradada e aumentar a autoestima da população desassistida pelo poder público de São Luís. 5- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Guerra, A. J. T, Almeida, N.O., Moura, J.R.S. e Lima, I.M.F. (1978). Contribuição ao estudo da erosão dos solos agrícolas no Brasil. Revista Brasileira de Geografia, 36, 68-78. Guerra, A.J.T. (1991). Soil characteristics and erosion, with particular reference to organic matter content. Tese de doutorado, King´s College London, Universidade de Londres, 444p. Guerra, A.J.T. (1994). The effect of organic matter content on soil in simulated rainfall experiments in West Sussex, UK. Soil use and management, 10: 60-64. Guerra, A. J. T. (1995). The catastrophic events in Petrópolis City (Rio de Janeiro State), between 1940 and 1990. Geojournal, Alemanha,37, 349-354. Guerra, A.J.T. (1998). Ravinas: processo de formação e desenvolvimento. Revista da Pós-Graduação em Geografia, UFRJ, 2, 80-95. Guerra, A.J.T. (1998). O uso de simuladores de chuva e dos modelos digitais de elevação no estudo das ravinas. Revista Geosul, 14, 71-74. Guerra, A.J.T. (1999). O início do processo erosivo. In: A. J. T. Guerra, A. S. Silva e R. G. M. B. (Org.). Erosão e conservação dos solos - Conceitos, Temas e aplicações. 1ed.Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 17-55. Guerra, A.J.T. (2000). Gully Erosion in Brazil - a Historical Overview. In: International Symposium on Gully Erosion under Global Change, 2000, Leuven. Book of Abstracts. Leuven: Universidade Católica de Leuven, 1, 69-69. Guerra, A.J.T. (2004). Geomorfologia Aplicada: Algumas Reflexões. In: Jémison Mattos dos Santos. (Org.). Reflexões e Construções geográficas Contemporâneas. Salvador: Universidade do Estado da Bahia, 144-158. Guerra, A.J.T. (2005). Experimentos e Monitoramento em Erosão dos Solos. Revista do Departamento de Geografia (USP), 16, p. 32-37. Guerra, A.J.T. (2007). O papel da geografia física na compreensão do espaço - um estudo de caso das voçorocas urbanas de São Luís MA. Cadernos de Cultura e Ciência (URCA), v. 2, p. 1-12, 2007. Guerra, A.J.T. (2008a). Encostas e a Questão Ambiental. In: A Questão Ambiental – Diferentes Abordagens. Orgs. S.B. Cunha e A.J.T. Guerra. Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 4ª edição, 191-218. Guerra, A. J. T. (2008b). Challenges for the use of soil with quality and efficiency. Newsletter ESSC European Society for soil conservation, The University of Wolverhampton, 3 - 9. Guerra, A. J. T. (2008c). Feições erosivas e uso da terra ao longo da Linha de Transmissão de Energia em Mato Grosso do Sul. In: Dinâmica e Diversidade de Paisagens, 2008, Belo Horizonte - MG. VII Simpósio Nacional de Geomorfologia - 1-10. Guerra, A. J. T. (2008d). Challenges for the use of soil with quality and efficiency. Newsletter ESSC European Society for soil conservation, The University of Wolverhampton, 3 - 9. Guerra, A.J.T. (2009a). Processos Erosivos nas Encostas. In: Geomorfologia - Uma Atualização de Bases e Conceitos. Orgs. A.J.T. Guerra e S.B. Cunha. Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 8ª edição, 149-209. Guerra, A.J.T. (2009b). Processos Erosivos nas Encostas. In: Geomorfologia - Exercícios, Técnicas e Aplicações. Orgs. S.B. Cunha e A.J.T. Guerra. Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 3ª edição, 139-155. Guerra, A.J.T. (2010). O Início do Processo Erosivo. In: Erosão e Conservação dos Solos - Conceitos, Temas e Aplicações. Orgs. A.J.T. Guerra, A.S. Silva e R.G.M. Botelho. Editora Bertrand Brasil, 5ª edição, Rio de Janeiro, 15-55. Guerra, A.J.T. (2011). Encostas Urbanas. In: Geomorfologia Urbana. Organizador: A.J.T. Guerra, Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 13-42. Guerra, A.J.T. (2014). Degradação dos Solos - Conceitos e Temas. In: Antonio Jose Teixeira Guerra;Maria do Carmo Oliveira Jorge. (Org.). Degradação dos Solos no Brasil, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 15-50. Guerra, A.J.T. e Favis-Mortlock, D. (1998). Land degradation in Brazil - the present and the future. Geography Review, 12, 18-23. Guerra, A.J.T. e Rodrigues, M.V.M. (1998). Riscos de degradação ambiental face às mudanças globais – um estudo de caso em Petrópoli – Rio de Janeiro. Revista Geosul, 27, 414-417. Guerra, A.J.T., Coelho, M.C.N. e Marçal, M.S. (1998). Açailândia – cidade ameaçada pela erosão. Revista Ciencia Hoje, 23, 36-45. Guerra, A.J.T. e Botelho, R.G.M. (1998). Erosão dos solos. In: S. B. Cunha e A. J. T. Guerra. (Org.). Geomorfologia do Brasil. 1ed., Bertrand Brasil 181-227. Guerra, A.J.T. e Silva, J. E. (2000). Análise da expansão urbana e das modificações no uso do solo urbano nas sub-bacias do RIo Tindiba e Córrego do Catonho, Jacarepaguá/RJ e suas implicações sobre a erosão do solo. Sociedade e Natureza, 12, 5-20. Guerra, A. J. T. e Silva, J. E. B. (2001). Análise das propriedades dos solos das sub-bacias do rio Tindiba e do Córrego do Catonho, Rio de Janeiro, com fins à identificação de áreas com predisposição à erosão. In: VII Simpósio Nacional de Controle de Erosão, ABGE, 78-83. Guerra, A.J.T., Rocha, A.M. e Oliveira, A.C. (2001). Diagnóstico da degradação ambiental no bairro de Itaipú – Niterói, Rio de Janeiro. In: VII Simpósio Nacional de Controle de Erosão, 2001, Goiânia, ABGE, 95-99. Guerra, A.J.T. e Mortlock, D.F. (2002). Movimientos de Massa en Petrópolis, Rio de Janeiro/Brasil . Desastres Naturales En America Latina, México, 447-460. Guerra, A. J. T., Oliveira, A. C., Oliveira, F. L. e Gonçalves, L. F. H. (2002a). Petrópolis: chuva, deslizamentos e mortes em dezembro de 2001. In: IV Simposio Nacional de Geomorfologia, São Luis do Maranhão. Geomorfologia: Inerfaces, Aplicações e Perspectivas, 34-40. Guerra, A. J. T., Furtado, M. S., Lopes, M. T., Oliveira, F. L., Oliveira, A, L. R., Cruz Júnior, A. J. (2002b). Análise de precipitação antecedente e do mínimo pluviométrico aproximado para o desencadeamento de movimentos de massa no Município de Petrópolis/RJ. In: IV Simpósio Nacional de Geomorfologia, São Luís do Maranhão. Geomorfologia: Interfaces, Aplicações e Perspectivas, 88-93. Guerra, A. J. T. e Ribeiro, S. C. (2003). Fatores sócio-ambientais na aceleração de processos erosivos em áreas urbanas: o bairro Seminário, Crato - Ceará. In: X Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, Rio de Janeiro. Revista GEOUERJ, 2003. v. 1, 1827-1829. Guerra, A.J.T. e Mendonça, J. K.S. (2004). Erosão dos Solos e a Questão Ambiental. In: Antonio Jose T. Guerra, Antonio Carlos Vitte. (Org.). Reflexões sobre a Geografia Física no Brasil. 1ed.Rio de Janeiro: Bertrand Brasil 225-256. Guerra,, A. J. T., Oliveira, F. L. e Gonçalves, L. F. H. (2003). Análise comparativa dos dados históricos de movimentos de massa ocorridos em Petrópolis – Rio de Janeiro, das décadas de 1960 até 1990. In: X Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, 2003, Rio de Janeiro. GEOUERJ, 2003. v. 1, 1175-1180. Guerra, A. J. T., Mendonça, J. K. S., Rego, M. e A, I. S. (2004a). Gully Erosion Monitoring in São Luis City - Maranhão State - Brazil. In: Yong Li; Jean Poesen; Christian Valentin. (Org.). Gully Erosion Under Global Change. 1ed.Chengdu: Sichuan science and technology press, 13-20. Guerra, A. J. T., Rocha, A.M., Marçal, M.S. (2004b). Importância da análise geomorfológica na caracterização ambiental do Parque Nacional da Serra das Confusões - PI. In: V Simpósio Nacional de Geomorfologia, 2004, Santa Maria -RS. Geomorfologia e Riscos Ambientais - V Simpósio Nacional de Geomorfologia, 1-13. Guerra, A. J. T., Corato, R. M. S., Maraschin, T., Nogueira, G. (2004c). Proposta metodológica para diagnóstico e prognóstico de movimentos de massa no Município de Petrópolis - RJ. In: V Simpósio Nacional de Geomorfologia, 2004, Santa Maria - RS. Geomorfologia e Riscos Ambientais - V Simpósio Nacional de Geomorfologia, 38-48. Guerra, A. J. T. e Figueiredo, M. (2005). A simple device to monitor sediment yield from gully erosion. International Journal of Sediment Research, 20, 244-248. Guerra, A.J.T., Assumpção, A.P., Silva, D.C.O.E., Melo, P.B. e Barreto, O.M. (2005). Methodological proposal for the development of a map of landslide risks in the Municipality of Petrópolis. Sociedade e Natureza, 2, 316-326. Guerra, A.J.T., Mendonça, J. K. S., Bezerra, J.F.R., Gonçalves, M.F.P. e Feitosa, A.C. (2005) . Study of rainfall rates and erosive processes at the urban area of Sao Luís – Maranhão State. Sociedade e Natureza, 2, 192-201. Guerra, A.J.T. e Hoffmann, H. (2006). Urban gully erosion in Brazil. Geography Review, 19, 3, 26-29. Guerra, A.J.T., Corrêa, A.C.B. e Girão, O. (2007). Encostas Urbanas como unidades de gestão e planejamento, a partir do estudo de áreas a sudoeste da cidade do Recife-PE. Revista de Geografia (Recife), 24, 238-263. Guerra, A.J.T e Mendonça, J.K.S. (2007). Erosão dos Solos e a Questão Ambiental. In: Reflexões sobre a Geografia Física no Brasil. Organizadores: A.C. Vitte e A.J.T. Guerra. Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2ª edição, 225-256. Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2008). Mapping hazard risk – A case study of Ubatuba, Brazil. Geography Review, 22,3, 11-13. Guerra, A. J. T., Wosny, G., Silveira, P.G. e Guerra, T. T. (2008). Propriedades químicas e físicas dos solos, associadas à erosão, ao longo da linha de transmissão de energia, em Mato Grosso do Sul. In: V Seminário Latino-Americano de Geografia Física, 2008, Santa Maria - RS. V Seminário Latino-Americano de Geografia Física. Santa Maria: Revista Geografia, Ensino e Pesquisa, v. 5, 886-900. Guerra, A.J.T. e Lopes, P.B.M. (2009). APA de Petrópolis: um estudo das características geográficas. In: Guerra, A.J.T.; Coelho, M.C.N. (Org.). Unidades de Conservação: abordagens e características geográficas. 1ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2009, 113-141. Guerra, A.J.T., Mendes, S.P., Lima, F.S., Sahtler, R., Guerra, T.T., Mendonça, J.K.S. e Bezerra, J. F.R. (2009). Erosão Urbana e Recuperação de Áreas Degradadas no Município de São Luis – Maranhão. Revista de Geografia, da UFPE, 85-135. Guerra, A. J. T. et al. (1989) . Um estudo do meio físico com fins de aplicação ao planejamento do uso agrícola da terra no sudoeste de Goiás. Rio de Janeiro: IBGE, v. 1. 212p . Guerra, A. J. T., Jorge, M.C.O. e Marçal, M.S. (2010). Laboratory of Environmental Geomorphology and Land Degradation of the Federal University of Rio de Janeiro (Brazil): History, Research Themes and Achievements. European Society for Soil Conservation 18 - 25. Guerra, A.J.T. (2011). Memorial da prova de prof. Titular do Departamento de Geografia, da UFRJ, impresso, 23p. Guerra, A. J. T., Jorge, M. C. O. e Marçal, M. S. (2010). Laboratory of Environmental Geomorphology and Land Degradation of the Federal University of Rio de Janeiro (Brazil): History, Research Themes and Achievements. European Society of Soil Conservation, p. 18-25. Guerra, A.J.T., Bezerra, J.F.R., Lima, L.D.M., Mendonça, J.K.S., Guerra, T.T. (2010). Land rehabilitation with the use of biological geotextiles in two different countries. Sociedade & Natureza, 22, 431-446. Guerra, A.J.T., Bezerra, J.F.R., Fullen, M.A., J. K. S. Mendonça, J.K.S., Jorge, M.C.O. (2015). The effects of biological geotextiles on gully stabilization in São Luís, Brazil. Natural Hazards, v. 75, p. 2625-2636. Guerra, A.J.T. e Soares da Silva, A. (2011). Predicting soil loss and runoff from forest roads and seasonal cropping systems in Brazil, using WEPP. In : Handbook of Erosion Modelling. Organizadores : R.P.C. Morgan e M.A. Nearing, Willey –Blackwell, Oxford, Inglaterra, 186-194. Guerra, A.J.T., Oliveira, A., Oliveira, F.L. e Gonçalves L.F.H. (2007). Mass Movements in Petrópolis, Brazil. Geography Review, 20, 34-37. Guerra, A. J. T., Mendes, S. P., Lima, F.S., Sathler, R., Guerra, T.T., Mendonça, J. K. S. e Bezerra, J. F. R. (2009). Erosão Urbana e Recuperação de Áreas Degradadas no Município de Sao Luis - Maranhão. Revista de Geografia (Recife), 26, 85-135. Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2012). Geomorfologia do cotidiano a degradação dos solos. Revista Geonorte, 1, 116-135. Guerra, A.J.T., Bezerra, J. F. R., Jorge, M.C.O. e Fullen, M.A. (2013). The geomorphology of Angra dos Reis and Paraty Municipalities, Southern Rio de Janeiro State. Revista Geonorte, 9, 1-21. Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2013a). O solo como um recurso natural: riscos e potencialidades. In: Maria Teresa Duarte Paes; Charlei Aparecido da Silva; Lindon Fonseca Matias. (Org.). X ENANPEGE: Geografias, Políticas Públicas e dinâmicas territoriais. 1ed.Campinas: UFGD, 1, 147-155. Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2013b). Os desastres na região serrana. Revista Pensar Verde, Brasilia, 12 - 15. Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2014). Hazard Risk Assessment: a case study from Brazil. Geography Review, 27: 12-15. Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2014). Geomorfologia Aplicada ao Turismo. In: Raphael de Carvalho Aranha, Antonio Jose Teixeira Guerra. (Organizadores). Geografia Aplicada ao Turismo. 1ed.Sao Paulo: Oficina de Textos, 2014, v. 1, p. 56-77. Guerra, A.J.T., Fullen, M.A., Jorge, M.C.O. e Alexandre, S.T. (2014). Soil erosion and conservation in Brazil. Anuário do Instituto de Geocências. UFRJ 37: 81-91. Guerra, A.J.T.; Cardoso, C.; Silva, M. S. (Organizadores) Geografia e os Riscos Socioambientais. 1. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2020. v. 1. 207p. Guerra, A. J. T.; Santos Filho, R. D.; Terra, C. Arte e Ciência: História e Resiliência da Paisagem. 1. ed. Rio de Janeiro: Rio Books, 2019. v. 1. 491p. Guerra, A. J. T. e Jorge, M. C. O. Geoturismo, geodiversidade e geoconservacão - abordagens geográficas e geológicas. 1. ed. Sao Paulo: Oficina de Textos, 2018. v. 1. 227p. Guerra, A.J.T. Erosão dos Solos e Movimentos de Massa - Abordagens Geográficas. 1. ed. Curitiba: CRV Editora, 2016. v. 1. 222p.
ANTÔNIO JOSÉ TEIXEIRA GUERRA ANTONIO JOSE TEIXEIRA GUERRA Biografia – Pensamento Geográfico 1- DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO TEÓRICO Data de nascimento: 06/09/1951, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Engenho Novo. Meus pais eram geógrafos: Antonio Teixeira Guerra e Ignez Amélia Leal Teixeira Guerra, ambos do IBGE, e meu pai era ainda professor da antiga UEG (atual UERJ), UFF e UFRJ. Naquela época não havia a figura do professor com 40 horas (Dedicação Exclusiva), como existe hoje em dia. Venho de uma família de sete filhos, sendo eu o primogênito e o único que seguiu a carreira de geógrafo. Família típica de classe média, com os pais professores e geógrafos do IBGE, tendo perdido meu pai em 1968, com apenas 44 anos de idade, de AVC. Com essa idade, meu pai deixou 12 livros publicados, pelo IBGE, e quase 100 artigos, em periódicos nacionais e internacionais e minha mãe passou a nos criar sozinha, após a morte do meu pai, quando minha irmã caçula tinha apenas 3 anos de idade. Todos nós conseguimos ir para a Universidade e somos hoje em dia: geógrafo, administrador de empresa, economista, química, advogado e professora de educação física. Todos nós frequentamos sempre escola pública, tanto no ensino fundamental, como médio. Meus pais sempre nos estimularam a ler muito, tínhamos em casa, sempre livros, além das enciclopédias, que meus pais compravam, e nós líamos muito. Nós éramos estimulados a frequentar curso de inglês, bem como aos domingos íamos ao cinema, no bairro do Engenho Novo, onde morávamos. Naquela época, dava para crianças e adolescentes andarem sozinhos pelas ruas. Eu adorava assistir às chanchadas brasileiras, além de filmes estrangeiros. A minha trajetória na Geografia remonta à década de 60, ainda na infância, quando por volta dos 10 anos de idade, começo minhas primeiras incursões de campo ao lado do meu pai Antonio Teixeira Guerra e seus alunos da UFRJ. Embora não pensasse que um dia viesse a me tornar geógrafo, essas saídas de campo, o legado adquirido na convivência com meus pais, ambos geógrafos, e o intercâmbio feito em 1968, por seis meses, nos EUA, tiveram, posteriormente, uma importância fundamental na escolha da minha carreira. Em 1969 fiz vestibular de Geografia para a UFRJ e UERJ, tendo passado em ambas, e fiz opção pela UFRJ, onde passei em 4º lugar e assim dei início à minha vida acadêmica. Optei por fazer, primeiramente, o curso de Bacharel em Geografia, até 1973 e no ano de 1974 fiz o curso de Licenciatura. Durante esse período na academia tive a honra de ter professores como: Maria do Carmo Correa Galvão, Dieter Muehe, Bertha Becker, Elmo da Silva Amador, Maria Regina Mousinho de Meis, Roberto Lobato Correa, Waldemar Mendes, Josette Madelaine Lins César, e muitos outros que foram importantes e contribuíram para meu entendimento da ciência geográfica. Durante a minha graduação, tive a oportunidade de trabalhar com a Profa. Maria Regina Mousinho de Meis, do qual fui bolsista de Iniciação Científica do CNPq, durante um ano. Isso me permitiu, além do aprendizado, me direcionar para uma das vertentes da geografia, a geomorfologia, da qual passei a me interessar bastante. Nessa época, Mousinho, assim como Bigarella, criaram modelos de evolução da paisagem, que tem o clima como o principal agente de denudação e esculturação do relevo. Ainda durante a graduação, comecei a ter experiência com a licenciatura, no qual lecionava durante a noite, para o ensino supletivo (cursos de geografia e inglês). Também tive a oportunidade de trabalhar no Censo Demográfico de 1970, o que me deu uma grande experiência, já que estava fazendo Geografia da População, no 1º ano da faculdade. Sempre me interessei por tudo relacionado à Geografia, durante meu curso na UFRJ, tendo participado de várias reuniões da AGB, tendo feito diversos cursos de extensão, oferecidos pela AGB e pelo Clube de Engenharia, assistido palestras, enfim, não me ative à sala de aula. Como nós tínhamos uma excelente biblioteca em casa, isso facilitava muito minha vida de estudante; eu lia um pouco de tudo, não apenas Geografia. No IBGE, além da minha experiência com o Censo Demográfico, fui estagiário e trabalhei com excelentes geógrafos, como Eugenia Egler, Edgard Khulman e Alfredo Porto Domingues. Esse estágio me possibilitou a entrada na instituição logo após minha conclusão do curso de Geografia em 1973, contratado como geógrafo. Além de participar de vários projetos coordenados por Alfredo Porto Domingos e Edgar Khulman, também escrevi alguns artigos, nesse período. 2- PRINCIPAIS contribuições para a Geografia Brasileira Após alguns anos de trabalho no IBGE, senti necessidade de me aperfeiçoar e ter mais independência e autonomia profissional. A questão ambiental também já me despertava um grande interesse e foi dessa forma que resolvi fazer mestrado em Geografia. Ingressei no mestrado do PPGG, da UFRJ, no ano de 1979. Foi um passo importante na minha formação acadêmica, pois nessa época vivenciava-se um grande debate sobre a temática ambiental, e assim pude explorar esse tema com excelentes professores, do qual destaco aqui o Prof. Dr. Jorge Xavier da Silva, meu orientador - hoje Professor Emérito do Departamento de Geografia, onde somos colegas. Minha dissertação intitulada: Delimitação de Unidades Ambientais na bacia do rio Mazomba – Itaguaí, RJ, defendida em 1983, corroborou ainda mais para meu entendimento do papel que a Geografia representava diante da questão ambiental, e a geomorfologia, a partir desse trabalho, passou a ser vista por mim como de grande importância e valia nos estudos de planejamento e uso da terra. Nessa época, eu já era professor colaborador do departamento de Geografia da UFRJ, uma categoria criada no final da década de 70 pelo MEC. Pensando em novos desafios e buscando aperfeiçoamento, numa época, em que fazer doutorado ainda era um privilégio de poucos, em 1985 enviei meu projeto de tese para o King´s College London, Universidade de Londres, tendo sido não só aprovado pela Universidade, como também pelo Conselho de Reitores da Inglaterra, para desenvolver meu doutorado nessa universidade. Essa aprovação do Conselho de Reitores permitiu que o CNPq, concedesse uma bolsa de doutorado, por quatro anos, bem como pagar minhas taxas à Universidade de Londres, como seu eu fosse um aluno da União Europeia, ou seja, bem mais barato do que um aluno estrangeiro. Considero os cinco anos que fiquei na Inglaterra, como um turning point na minha vida profissional, pois conheci grandes nomes da literatura geomorfológica inglesa (Denis Brunsden, Roy Morgan, John Boardman, Helen Scoging, David Favis-Mortlock, Rita Gardner, John Pitman, Tim Burt, Andrew Goudie, John Gerrard, dentre outros) e direcionei minhas pesquisas à erosão dos solos. Fui orientado por Denis Brunsden, considerado à época um grande nome na geomorfologia inglesa e internacional. Nesse período, participei de várias atividades acadêmicas, como elaboração de artigos, participação e apresentação de trabalhos em congressos na Inglaterra e em outros países europeus. Também criei uma estação experimental, para monitorar erosão dos solos, no sul da Inglaterra, onde o King´s College possuía um campus avançado, bem como construí um simulador de chuvas, o que me serviu como parte experimental e para obtenção de dados, da minha tese. Além disso, dei aulas práticas de laboratório, para os alunos de graduação do departamento de Geografia, bem como um curso sobre Impactos Ambientais Brasileiros, para os alunos de graduação do King´s College London. Fui convidado por Denis Brunsden, durante meu doutorado, para ser seu assistente em dois trabalhos de campo (alunos de graduação e mestrado, aproximadamente 30 alunos por turma). Essas incursões na costa sul da Inglaterra, mais precisamente Dorset (cinco dias) e na costa do Mediterrâneo, na região de Almeria, Espanha (uma semana), me renderam valiosas informações a respeito de erosão dos solos e movimentos de massa, bem como foi uma experiência ímpar para mim, porque ainda como doutorando, eu estava orientando alunos de graduação e de mestrado do King´s College London, o que me deu muita reputação e respeito, por parte dos meus colegas doutorandos e professores do Departamento de Geografia da Universidade. Com relação ao meu doutorado e, concomitantemente às minhas pesquisas de campo, como peguei três anos muito secos, tive que ampliar um pouco o monitoramento da estação experimental e assim minha estada em Londres durou cinco anos. Como a bolsa do CNPq era para apenas quatro anos, fiz prova para o Sistema de Rádio da BBC de Londres e passei. Dessa forma, no meu último ano de doutorado, trabalhei na BBC como repórter ambiental, para ter dinheiro suficiente, para me manter em Londres, e consegui terminar minha tese de doutorado, intitulada: Soil characteristics and erosion, with particular reference to organic matter content, que defendi em janeiro de 1991. Retornei ao Brasil em fevereiro de 1992, onde voltei a ministrar aulas e trabalhar em pesquisa, formação de recursos humanos e extensão no Departamento de Geografia da UFRJ, que será tratado mais adiante. Ainda fazendo parte da minha formação acadêmica, em 1997 fui aceito pela Universidade de Oxford, bem como consegui bolsa de pós-doutorado do CNPq, e passei um ano no Environmental Change Unit, desenvolvendo projeto de pesquisa, em parceria com dois grandes especialistas em erosão dos solos, John Boardman e David Favis-Mortlock. Nesses 12 meses tive atuação intensa, na Universidade de Oxford, através de palestras que ministrei e assisti, bem como alunos de mestrado, daquela universidade que orientei, em projetos relacionados à erosão dos solos. Desenvolvi também projeto em erosão por ravinas, utilizando um simulador de chuvas disponível na School of Geography, em conjunto com os dois pesquisadores mencionados acima. Os dados obtidos desses experimentos foram publicados na Geography Review, Catena e Earth Surface Processes and Landforms, em conjunto com David Favis-Morlock. Durante meu pós-doutorado apresentei trabalhos em dois congressos científicos, um na Holanda e outro em Dundee, na Escócia. Aproveito também para destacar que sou sócio de duas entidades cientificas, das quais participo ativamente, dando parecer em artigos submetidos às suas publicações, como também submetendo artigos, com vários já publicados, em especial na Revista Brasileira de Geomorfologia. As duas entidades são: União da Geomorfologia Brasileira, da qual fui um dos criadores e Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, essa atualmente, apenas como pareceristas de artigos. Minha vida acadêmica mudou bastante, quando da minha volta da Inglaterra, em fevereiro de 1991, com o título de PhD, que obtive, após cinco anos de pesquisa. Adaptei-me perfeitamente ao Departamento de Geografia da UFRJ, iniciando imediatamente minhas atividades de ensino e extensão, pesquisa e produção científica. Assim que cheguei comecei a formar um grupo de pesquisa em movimentos de massa e erosão dos solos, que iria mais tarde ser concretizado no LAGESOLOS (Laboratório de Geomorfologia Ambiental e Degradação dos Solos). Desde essa época comecei a pesquisar o município de Petrópolis, devido aos casos recorrentes de processos de degradação dos solos, do tipo movimentos de massa e erosão dos solos. Ainda no ano de 1991, comecei a fazer levantamentos pedológicos e geomorfológicos, no município, em conjunto com bolsistas de Iniciação Cientifica. No ano seguinte, passei a ter os primeiros mestrandos, e, dessa forma, iniciaram-se os trabalhos de campo com mais frequência a Petrópolis, onde montamos a primeira estação experimental para monitorar processos erosivos (o que eu já havia feito na Inglaterra, durante o meu doutorado). Eu dava andamento à minha carreira de pesquisador e professor universitário, agora com maior conhecimento conceitual, metodológico, técnico e aplicado. O retorno da Inglaterra foi um recomeço na minha vida profissional e, imediatamente, dei entrada em pedido de bolsa de produtividade em pesquisa, ao CNPq, o que ganhei e mantenho até hoje. Na época eu era pesquisador 2 e a partir de 2001, passei a ser 1A. Nos últimos 30 anos, tive 22 projetos aprovados pelo CNPq, incluindo Editais Universais, Bolsa de Produtividade em Pesquisa, Bolsa de IC e AT e, a vinda de professor Mike Fullen, da Universidade de Wolverhampton (duas vezes) e do Prof. Daniel Germain, da Universidade de Quebec, em Montreal, que veio uma vez ao LAGESOLOS, Departamento de Geografia, da UFRJ. Em relação ao Professor Michael Fullen, temos trabalhado em parceria, desde meados da década de 1990, tendo escrito diversos artigos em co-autoria, bem como em 2015, fiz meu segundo pós-doutorado, na Universidade de Wolverhampton, com quem trabalhei, durante sete meses. Foi através desses editais do CNPq e cinco ganhos junto à FAPERJ, sendo que três referem-se a Pesquisador do Nosso Estado, que consegui equipar o LAGESOLOS, com computadores, microscópio, Yodder, GPS, bússola de geólogo, martelo de geólogo e de pedólogo, impressoras, penetrômetro, pHâmetro, balança de precisão, trado de amostra volumétrica, trado holandês, câmera digital, imagens de satélite, fotografias aéreas, livros, e outros equipamentos necessários ao desenvolvimento dos projetos do Laboratório. Com a verba do Pesquisador do Nosso Estado, da FAPERJ, consegui comprar um Fiat Uno Mille Way, que veio facilitar bastante nossos trabalhos de campo. Apesar de ter publicado alguns artigos em periódicos nacionais e em anais de congressos, antes da minha ida para a Inglaterra, foi no retorno que comecei a ter uma produção mais frequente, tanto em periódicos nacionais, como internacionais, a partir das pesquisas realizadas tanto no estado do Rio de Janeiro, como em vários outros estados brasileiros, a partir de convênios e editais aprovados pelo CNPq e pela FAPERJ. Em relação a projetos aprovados por órgãos de fomento, até os dias de hoje, tive vários financiados pelo CNPq, FAPERJ e União Europeia (Projeto Borassus). Esses projetos referem-se a estudos realizados em Petrópolis, bacia do rio Macaé e município de São Luís, mais recentemente. Em relação ao Projeto Borassus, trabalhamos por quatro anos, em conjunto com outros nove países (Inglaterra, Bélgica, Hungria, Lituânia, África do Sul, Gâmbia, Tailândia, China e Vietnam), sob a coordenação do Prof. Michael Fullen, da Universidade de Wolverhampton. Durante esses quatro anos aconteceram reuniões semestrais nesses países e eu organizei uma no Rio de Janeiro, em 2007, levando uma equipe de 30 pesquisadores estrangeiros, para conhecerem nosso trabalho em São Luís (Maranhão). A partir desse projeto de pesquisa e de extensão, voçorocas foram monitoradas e recuperadas em São Luís, com a participação de professores e alunos de graduação, mestrado e doutorado, da UFRJ e UFMA. Houve também a participação efetiva de residentes das comunidades carentes, onde desenvolvemos esses projetos, tanto na produção dos geotêxteis de fibra de buriti, como na aplicação dessas telas, e em projetos de educação ambiental. A partir desse projeto, quatro monografias de graduação foram orientadas, bem como três dissertações de mestrado e duas teses de doutorado. Uma delas foi defendida em 14/03/2011, pelo aluno Jose Fernando Rodrigues Bezerra, que fez um ano do seu doutorado sandwich, na Universidade de Wolverhampton, com co-orientação do Prof. Michael Fullen. Por sinal, o CNPq aprovou a vinda do Prof. Fullen ao Brasil, para a defesa de tese do Fernando, assim como fizemos trabalho de campo na bacia do rio Macaé e outras atividades acadêmicas agendadas. Com esse projeto, consegui consolidar mais uma linha de pesquisa desenvolvida no LAGESOLOS, como o de recuperação de áreas degradadas. Entre janeiro e julho de 2015 desenvolvi trabalho de pesquisa, financiado pelo CNPq, na Universidade de Wolverhampton, na Faculty of Science and Engineering, sendo esse o meu segundo pós-doutorado. Porem, durante esse período fui considerado pela Universidade como Visiting Professor (Professor Visitante), tendo tido a oportunidade de, além de consultar e ler muitos livros e artigos, referentes à erosão dos solos e movimentos de massa, fui convidado pelo Prof. Michael Augustine Fullen, com quem trabalhei nesse período, a dar alguns seminários para professores e doutorandos para a referida faculdade. O primeiro deles foi dado no dia 18/03, em parceria com a doutoranda Maria do Carmo Oliveira Jorge, intitulado: Geoconservation and Geotourism, in Ubatuba - São Paulo State - Brazil, related to soil properties, tema que temos desenvolvido no LAGESOLOS, nos últimos anos, e continuamos a desenvolver na Inglaterra. O segundo deles, também dado em parceria com Maria do Carmo, foi no dia 15/04, intitulado Land Degradation in Brazil – causes and consequences, tema que venho desenvolvendo há mais de 30 anos. Em ambos houve a oportunidade de fazer uma ótima troca de experiência nossa com os responsáveis por projetos de pesquisa que vêm sendo desenvolvidos por professores e doutorandos na Faculty of Science and Engineering, onde desenvolvi o pós-doutorado. A partir desses dois seminários, bem como do trabalho desenvolvido durante sete meses na Universidade de Wolverhampton, surgiram oportunidades de trabalho em cooperação com alguns dos professores dessa Universidade, tais como: Profa. Dra. Lynn Besenyei, grande ecóloga inglesa e o Prof. Dr. Ezekiel Chinyio, importante planejador e arquiteto nigeriano, ambos professores da Universidade de Wolverhampton, com quem tive a oportunidade de trabalhar, nesse período. Não poderia deixar de mencionar a Profa. Dra. Pauline Corbett, Diretora da Faculdade de Ciência e Engenharia, com quem tive diversas conversas acadêmicas e a quem agradeço muito a acolhida, durante o período que passei na Universidade de Wolverhampton. Tive também a oportunidade de assistir a diversos seminários, como o dado pelo Prof. Michael Fullen, no mes de maio, intitulado Developing a Research Publications Strategy, onde consegui colocar minhas posições sobre o tema em questão, para uma audiência de professores e doutorandos da Universidade, enfim, mais uma experiência muito rica, durante meu pós-doutorado. Outro seminário muito interessante que assisti no dia 20/05 foi o Cradle to Cradle, que trata de sustentabilidade nos países europeus. Tudo que eu precisei nesse período, da Profa. Dra. Pauline Cobbert, tive atendimento imediato. Graças ao convite de Michael Fullen, tive também a oportunidade de orientar alunos de uma escola primária de Wolverhampton, sobre a importância do solo na teoria e na prática, em um espaco público, denominado alottment. Foi realmente uma grande experiência profissional, poder estar em contato com uma pequena área rural, dentro da cidade. Tal projeto refere-se à agricultura urbana, com o objetivo de instruir alunos de escola de ensino fundamental, no sentido de os alunos compreenderem o papel que os solos têm no plantio de verduras, frutas e legumes, bem como pode ser melhor compreendido e usado por pessoas que vivem em áreas urbanas. Os alunos participam de todas as fases, desde o preparo da terra, passando pelo plantio e depois a colheita. A coordenadora desse projeto é a professora Keptreene Finch, que vem desenvolvendo essas atividades há algum tempo, na cidade de Wolverhampton. Foi mais um aprendizado, que temos adaptado essa metodologia ao município de Ubatuba (SP), com escolas públicas. A partir de 2013, o LAGESOLOS passou a trabalhar, além de projetos relacionados à erosão dos solos, que vem desenvolvendo, desde a sua fundação, agora também, com geoturismo, geodiversidade e geoconservação. Quatro teses de doutorado foram desenvolvidas, nesse período (Jorge, 2017; Espírito Santo, 2018; Rangel, 2018; Pereira, 2019), além de diversos capítulos de livros (Guerra, 2018; Jorge, 2018) e artigos, em periódicos nacionais e internacionais (Jorge e Guerra, 2016; Jorge et al., 2016; Rangel et al., 2019). Essa é uma linha de pesquisa relativamente recente no país e, para seguí-la, os membros do LAGESOLOS, além da sua produção própria, têm contado com a colaboração de autores como: Mansur (2010 e 2018); Hose (2012); Gray (2013); Brilha (2016), Costa e Oliveira (2018), dentre outros. Quando falamos em geoturismo, geodiversidade e geoconservação, um ponto comum entre essas três áreas de conhecimento, é a erosão que é causada em diversas trilhas, e esse tema de pesquisa tem aparecido em diversos trabalhos desenvolvidos pelo LAGESOLOS, nesses últimos anos (Jorge et al., 2016; Jorge e Guerra, 2016; Jorge, 2017; Espírito Santo, 2018; Guerra, 2018; Rangel, 2018; Pereira, 2019; Rangel et al., 2019). Essas feições aparecem com frequência, em diversas trilhas que temos estudado, tanto em Ubatuba – SP, como em Paraty-RJ, e no Amapá. Sob essa perspectiva, são inúmeros os aspectos que temos abordado, levando em conta essa nova linha de pesquisa adotada no LAGESOLOS, como o patrimônio geológico e geomorfológico, a importância das comunidades locais, bem como os desafios para a sustentabilidade ambiental, os impactos causados nas trilhas e, em especial, o que faz uma ligação com a essência do LAGEOLOS, desde a sua criação, que é o estudo da erosão dos solos e dos movimentos de massa, presentes nos estudos que temos desenvolvido sobre geoturismo, geodiversidade e geoconservação (Jorge et al., 2016; Jorge, 2017; Espírito Santo, 2018; Guerra, 2018; Rangel, 2018; Pereira, 2019; Rangel et al., 2019). Ao longo dos quase 30 anos decorridos entre minha defesa da tese de doutorado (1991) e os dias de hoje, tenho publicado dezenas de artigos em periódicos nacionais e internacionais, bem como em anais de congressos, podendo ser destacados os seguintes; Utilizing biological geotextiles: introduction to the Borassus Project and global perspectives (2011); Biological geotextiles as a tool for soil moisture conservation (2011); Evaluation of geotextiles for reducing runoff and soil loss under various environmental conditions using laboratory and field plot data (2011); Effectiveness of biological geotextiles on soil and water conservation in different agro-environments (2011), todos os quatro artigos, lançados pelo periódico Land Degradation and Development. Encostas Urbanas como unidades de gestão e planejamento, a partir do estudo de áreas a sudoeste da cidade do Recife-PE, publicado na Revista de Geografia (Recife-2007), Mapping hazard risk - A case study of Ubatuba, Brazil, publicado na Geography Review (2009), Mass Movements in Petrópolis, Brazil, também na Geography Review (2007), bem como A simple device to monitor sediment yield from gully erosion -. International Journal of Sediment Research (2005), e The Implications of general circulation model estimates of rainfall for future erosion: a case study from Brazil, publicado na CATENA (1999) são alguns exemplos das minhas publicações. Fui coorganizador, organizador, autor e coautor de 15 livros (todos pela Bertrand Brasil), três dicionários e dois atlas, assim como autor de capítulos em vários livros nacionais e internacionais. Inclusive o que está bastante relacionado ao tema que venho desenvolvendo há muitos anos, intitulado: Predicting soil loss and runoff from forest roads and seasonal cropping systems in Brazil, using WEPP (Guerra, A.J.T. e Soares da Silva, A.), no livro Handbook of erosion modelling, organizado por Roy Morgan e Mark Nearing e publicado por J. Wiley (2011). Todos os livros que saíram pela Bertrand Brasil, desde 1994 são bem conhecidos da comunidade geográfica, bem como de engenheiros, geólogos, ecólogos, arquitetos, agrônomos, urbanistas etc. Gostaria aqui de destacar o primeiro livro que foi Geomorfologia – uma atualização de bases e conceitos, já estando na sua 12ª edição. Esse foi o primeiro de uma série de 15 livros, todos na área da Geomorfologia, Gestão Ambiental, Erosão dos Solos e Movimentos de Massa. Assim que retornei do meu doutorado, senti a necessidade de dar minha contribuição, não só em termos de atividades de ensino e de extensão, mas também na organização e autoria de livros e artigos científicos. Para esse primeiro livro convidei a professora Sandra Baptista da Cunha, colega de departamento naquela época e, a partir de várias reuniões, selecionamos os autores e os capítulos do livro, a maioria deles, nossos colegas do departamento de Geografia, da UFRJ. Outros livros, como Avaliação e Perícia Ambiental, na sua 13ª edição, Erosão e Conservação dos Solos, na 8ª edição, Impactos Ambientais Urbanos no Brasil, na 8ª edição, Geomorfologia Ambiental (5ª edição), A Questão Ambiental – Diferentes Abordagens (7ª edição), Geomorfologia e Meio Ambiente (9ª edição) também foram publicados nesses últimos anos. Geomorfologia Urbana, também foi publicado pela Bertrand Brasil, em março de 2011, o qual sou organizador e autor de um dos capítulos (Encostas Urbanas). O livro aborda uma série de temas que são bem atuais, em especial após as catástrofes ocorridas na região serrana do Rio de Janeiro. O livro contém capítulos sobre Geotecnia Urbana, Bacias Hidrográficas Urbanas, Licenciamento Ambiental Urbano, Solos Urbanos, Antropogeomorfologia Urbana e Geomorfologia Urbana – Conceitos e Temas. O mais recente, saiu agora no ano de 2020, intitulado Geografia e os Riscos Socioambientais, organizado pela Professora Dra. Cristiane Cardoso, da UFRRJ, pela doutoranda da UERJ, Michele Souza e Silva e por mim. O livro foi publicado pela Bertrand Brasil e destaca o papel da Geografia como ciência fundamental para compreendermos a nossa realidade. A ideia do livro surgiu do pós-doutoramento, que a professora Cristiane Cardoso, fez comigo, entre 2018 e 2019, e a Bertrand encampou nosso projeto. Nesse livro eu escrevi um capítulo, em conjunto com minha esposa Maria do Carmo Oliveira Jorge (também geógrafa), com quem tenho desenvolvido diversos projetos, artigos, capítulos e livros, além de termos uma filha - Maria Júlia Jorge Guerra, nossa princesa, de 10 anos de idade. O título do capítulo do referido livro é: A bacia hidrográfica: compreendendo o rio para entender a dinâmica das enchentes e inundações (Jorge e Guerra, 2020). Nessa biografia é importante chamar atenção também para o livro Coletânea de Textos Geográficos de Antonio Teixeira Guerra, que não é apenas uma homenagem a meu pai, que me inspirou para que eu seguisse a carreira de geógrafo, mas também, porque li toda a sua obra, contendo mais de 100 artigos publicados no Brasil e no exterior. Dessas publicações selecionei 13 artigos, que eram de interesse de um grande público, que não tinha mais acesso aos seus trabalhos, todos esgotados, até 1994, quando saiu esse livro. Uma outra publicação que gostaria de chamar atenção é o Novo Dicionário Geológico-Geomorfológico (o antigo Dicionário Geológico-Geomorfológico), escrito por meu pai, no início da década de 1960, e publicado pelo IBGE. Como eu reformulei totalmente a antiga edição do dicionário, bem como acrescentei 500 novos verbetes, minha mãe (também geógrafa) permitiu que eu entrasse como coautor do meu pai e a Bertrand lançou sua 1ª edição em 1997; hoje já está em sua 10ª edição. Atualmente estou escrevendo uma nova edição, com mais 300 novos verbetes e atualização dos existentes. Entre 2005 e 2009 participei de um projeto, em conjunto com o LNCC (Laboratório Nacional de Computação Cientifica), situado em Petrópolis, com a empresa de engenharia Terrae e com a Defesa Civil de Petrópolis, para a criação de um Sistema de Alerta a enchentes e deslizamentos. Diversos mapas de riscos foram elaborados, como parte desse projeto, bem como vistorias de campo foram desenvolvidas, ao longo desses quatro anos. Mais uma vez, tive a oportunidade de dar minha contribuição à sociedade, em um campo de saber, que venho trabalhando há algum tempo. Finalmente, gostaria de abordar minha coordenação do LAGESOLOS, Laboratório que foi criado em 1994, em cooperação com os mestrandos (Antonio Soares da Silva e Rosangela Garrido Botelho) e do doutorando Flavio Gomes de Almeida. Atualmente divido a coordenação do LAGESOLOS, com o Prof. Dr. Raphael David dos Santos Filho, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da UFRJ. Naquela época éramos poucos e hoje em dia somos quase 30 membros, incluindo coordenadores, pesquisadores associados, doutorandos, mestrandos e bolsistas de iniciação cientifica (www.lagesolos.ufrj.br). O Laboratório, ao longo desses 26 anos, produziu mais cem artigos em periódicos nacionais e internacionais, bem como em anais de eventos científicos. Foram defendidas 28 teses de doutorado, 31 dissertações de mestrado e 33 monografias, o que dá uma boa medida da produção cientifica do Laboratório. Esses dados podem ser vistos na edição da Newsletter 2/1010, da European Society for Soil Conservation, onde publiquei o artigo Laboratory of Environmental Geomorphology and Land Degradation of the Federal University of Rio de Janeiro (Brazil) – History, Research Themes and Achievements. O LAGESOLOS atua em várias linhas de pesquisa, com diversos projetos em andamento, como por exemplo: Erosão dos Solos e Movimentos de Massa no Brasil; Geomorfologia Ambiental e Análise Integrada da Paisagem; Micromorfologia dos Solos e Contaminação da Água; Análise das Voçorocas Urbanas em São Luis – Maranhão; Dinâmica dos Sistemas Geomorfológicos Encosta-Calha Fluvial; Planejamento Ambiental em Micro-Bacias Hidrográficas. Essas linhas de pesquisa e projetos espalham-se por diversas partes do território nacional, como: Cáceres, Campo Grande, Coari, Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, Palmas, São Luis, Bacia do rio Macaé, dentre outras. Mais recentemente, temos atuado também em projetos relacionados ao Geoturismo, Geodiversidade e Geoconservação, com apoio financeiro e através de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, da CAPES, CNPq e FAPERJ, tanto no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, como em Ubatuba, no litoral norte paulista. No município de Rio Claro (RJ), temos desenvolvido projetos de monitoramento de voçorocas, bem como estamos utilizando técnicas modernas com uso do VANT e Laser Scanner Terrestre, bem como estamos iniciando projeto de recuperação de voçorocas. 3- AVANÇOS TEÓRICOS E CONTROVÉRSIAS Após ter me formado em Bacharel em Geografia (1973) e Licenciatura em Geografia (1974), pela UFRJ, fui contratado como Geógrafo pelo IBGE (1974), e no final da década de 1970, ingressei no Mestrado em Geografia da UFRJ, onde eu já era professor colaborador. Em 1986 ingressei no doutorado em Geografia do King´s College London, Universidade de Londres, tendo defendido minha tese em 1991, intitulada Soil characteristics and erosion, with particular reference to organic matter contente. A partir daí passei a me dedicar aos estudos de Erosão dos Solos, ou seja, há aproximadamente 30 anos. Minha vida acadêmica, ao longo dos cinco anos na Inglaterra, foi fundamental, devido ter entrado em contato com grandes nomes da ciência geográfica, que trabalhavam com erosão dos solos, movimentos de massa, hidrologia, mudanças climáticas etc. Citando apenas algumas, posso destacar meu orientador Denis Brunsden, mas também John Boardman, Robert Evans, Tim Burt, Roy Morgan, Jean De Ploey, entre tantos. Além disso, tive a oportunidade, depois de passar por processo seletivo, de trabalhar como repórter no Serviço Brasileiro de Rádio da BBC de Londres, entre 1990 e 1991, abordando matérias relativas à dinâmica ambiental, o que foi mais uma experiência profissional na minha vida. Ao retornar ao Brasil, no início de 1991, após ter defendido minha tese de doutorado, comecei a criar um Grupo de Estudos em Erosão dos Solos e Movimentos de Massa, no Departamento de Geografia, da UFRJ, que mais tarde se tornou no LAGESOLOS, criado por mim, Antonio Soares da Silva (professor da UERJ), Rosangela Garrido Botelho (geógrafa do IBGE) e Flavio Gomes de Almeida (professor da UFF). Minhas maiores contribuições conceituais e metodológicas, ao longo da minha carreira acadêmica, relacionam-se à forma como venho tratando a erosão dos solos, no que diz respeito ao monitoramento e classificação de erosão em lençol, ravinas e voçorocas. Tenho seguido a metodologia adotada pela Associação Americana de Ciência do Solo (Soil Science Society of America), que diferencia ravina de voçoroca, no tocante às medidas de largura e profundidade, sendo os limites entre essas duas feições erosivas, 0,5 m de largura e profundidade. Essas medidas caracterizam ravinas, enquanto medidas superiores são classificadas como voçorocas. Essas é uma tendência de limites estabelecidos também por pesquisadores europeus, que tem estudado essas feições, na África, Ásia, América do Sul e na Europa também. O International Symposium on Gully Erosion, desde sua primeira edição, na Universidade de Leuven, na Bélgica, em 2000, onde estive presente, até os vários outros eventos, ao longo dos anos, tem seguido essa metodologia. Essas posições adotadas por mim são amplamente amparadas por referências bibliográficas nacionais e internacionais, que estão citadas, ao longo dessa biografia. O livro que resume boa parte, do que considero uma das minhas contribuições teórico-conceituais e metodológicas, no estudo da erosão dos solos, está retratado em Erosão dos Solos e Movimentos de Massa – Abordagens Geográficas, de minha autoria, que saiu publicado pela Editora CRV, de Curitiba, no ano de 2016. Esse livro, que resume boa parte da minha vida acadêmica, foi escrito, durante meu pós-doutorado na Universidade de Wolverhampton (Inglaterra), no ano de 2015. Os monitoramentos desenvolvidos, em várias partes do país, através das estações experimentais, são mais uma marca do avanço metodológico do LAGESOLOS, onde, sob condições variadas de climas, solos e declividade, conseguimos produzir dados, que deram origem a monografias de graduação, dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos e capítulos de livros. Todos foram fundamentais na produção de conhecimento, bem como na formação de recursos humanos. 4- ELEMENTOS MARCANTES QUE ENTRELAÇAM SUA VIDA PESSOAL E INTELECTUAL. Minha vida pessoal e intelectual se entrelaçam, desde muito cedo, à medida que sempre me identifiquei com a Geografia, não só pelo interesse que tinha desde os 10 anos de idade, ao fazer trabalhos de campo, com meu pai Antonio Teixeira Guerra, e seus alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que me acompanhou por toda a vida, até os dias de hoje. Durante o curso de graduação em Geografia, na UFRJ, entre os anos de 1970 e 1973, sempre me dediquei a leituras de caráter conceitual, metodológica e aplicada, bem como participei de eventos organizados pela AGB, palestras no Clube de Engenharia, bem como fui bolsista de Iniciação Científica do CNPq e estagiário do IBGE. Isso tudo contribuiu sobremaneira para a minha formação profissional, que se seguiu no mestrado em Geografia, da UFRJ, entre os anos de 1979 e 1983, e depois no doutorado, na Universidade de Londres, entre os anos de 1986 e 1991, com tese sobre Erosão dos Solos. Atualmente coordeno o LAGESOLOS, no Departamento de Geografia da UFRJ, onde temos dado continuidade aos trabalhos sobre Erosão dos Solos, Movimentos de Massa, Geoturismo, Geodiversidade e Geoconservação, em conjunto com alunos de graduação, mestrado e doutorado. Pós-doutorandos e pesquisadores associados do LAGESOLOS têm participado ativamente desses projetos, em conjunto com colegas de outras Universidades brasileiras e internacionais. Agências de fomento, como o CNPq, CAPES e FAPERJ têm sido fundamentais para o desenvolvimento dessas linhas de pesquisa, ao longo de mais de 25 anos. A União Europeia, através do Projeto Borassus, entre os anos de 2005 e 2008, também teve importância fundamental, no avanço das nossas pesquisas, uma vez que além do aporte financeiro proporcionado pelo Projeto, tivemos a oportunidade de entrar em contato com dezenas de pesquisadores de nove países, da Europa, Ásia e África, que trabalham com erosão dos solos, não só na perspectiva acadêmica, de produção científica, mas também, de forma aplicada, quando foram recuperadas voçorocas em todos esses países, e no Brasil, recuperamos a voçoroca do Sacavém, em São Luís, após alguns anos de monitoramento, acompanhando sua evolução e, posterior recuperação, feita com geotêxteis produzidos com fibra de buriti, uma palmeira abundante no Maranhão. O referido projeto comprovou a necessidade de conhecimento do processo erosivo, em todos os seus detalhes, de forma a podermos chegar à aplicação do conhecimento científico, na medida que conseguimos recuperar a voçoroca, de forma e não permitir mais sua evolução, o que prejudicava sobremaneira, a população, que vivia no seu entorno. A verba oriunda da União Europeia se constituiu em forma de podermos investir na produção de conhecimento científico, aplicação de técnicas de bioengenharia, bem como em trabalhos de extensão, formação de recursos humanos, através das monografias de graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Além disso tudo, conseguimos gerar renda para a população que vivia no entorno da voçoroca do Sacavém, pois ela foi empregada para fabricar os geotêxteis e para aplicar os mesmos, na recuperação da referida voçoroca, tendo sido uma excelente forma de recuperar a área degradada e aumentar a autoestima da população desassistida pelo poder público de São Luís. 5- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Guerra, A. J. T, Almeida, N.O., Moura, J.R.S. e Lima, I.M.F. (1978). Contribuição ao estudo da erosão dos solos agrícolas no Brasil. Revista Brasileira de Geografia, 36, 68-78. Guerra, A.J.T. (1991). Soil characteristics and erosion, with particular reference to organic matter content. Tese de doutorado, King´s College London, Universidade de Londres, 444p. Guerra, A.J.T. (1994). The effect of organic matter content on soil in simulated rainfall experiments in West Sussex, UK. Soil use and management, 10: 60-64. Guerra, A. J. T. (1995). The catastrophic events in Petrópolis City (Rio de Janeiro State), between 1940 and 1990. Geojournal, Alemanha,37, 349-354. Guerra, A.J.T. (1998). Ravinas: processo de formação e desenvolvimento. Revista da Pós-Graduação em Geografia, UFRJ, 2, 80-95. Guerra, A.J.T. (1998). O uso de simuladores de chuva e dos modelos digitais de elevação no estudo das ravinas. Revista Geosul, 14, 71-74. Guerra, A.J.T. (1999). O início do processo erosivo. In: A. J. T. Guerra, A. S. Silva e R. G. M. B. (Org.). Erosão e conservação dos solos - Conceitos, Temas e aplicações. 1ed.Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 17-55. Guerra, A.J.T. (2000). Gully Erosion in Brazil - a Historical Overview. In: International Symposium on Gully Erosion under Global Change, 2000, Leuven. Book of Abstracts. Leuven: Universidade Católica de Leuven, 1, 69-69. Guerra, A.J.T. (2004). Geomorfologia Aplicada: Algumas Reflexões. In: Jémison Mattos dos Santos. (Org.). Reflexões e Construções geográficas Contemporâneas. Salvador: Universidade do Estado da Bahia, 144-158. Guerra, A.J.T. (2005). Experimentos e Monitoramento em Erosão dos Solos. Revista do Departamento de Geografia (USP), 16, p. 32-37. Guerra, A.J.T. (2007). O papel da geografia física na compreensão do espaço - um estudo de caso das voçorocas urbanas de São Luís MA. Cadernos de Cultura e Ciência (URCA), v. 2, p. 1-12, 2007. Guerra, A.J.T. (2008a). Encostas e a Questão Ambiental. In: A Questão Ambiental – Diferentes Abordagens. Orgs. S.B. Cunha e A.J.T. Guerra. Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 4ª edição, 191-218. Guerra, A. J. T. (2008b). Challenges for the use of soil with quality and efficiency. Newsletter ESSC European Society for soil conservation, The University of Wolverhampton, 3 - 9. Guerra, A. J. T. (2008c). Feições erosivas e uso da terra ao longo da Linha de Transmissão de Energia em Mato Grosso do Sul. In: Dinâmica e Diversidade de Paisagens, 2008, Belo Horizonte - MG. VII Simpósio Nacional de Geomorfologia - 1-10. Guerra, A. J. T. (2008d). Challenges for the use of soil with quality and efficiency. Newsletter ESSC European Society for soil conservation, The University of Wolverhampton, 3 - 9. Guerra, A.J.T. (2009a). Processos Erosivos nas Encostas. In: Geomorfologia - Uma Atualização de Bases e Conceitos. Orgs. A.J.T. Guerra e S.B. Cunha. Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 8ª edição, 149-209. Guerra, A.J.T. (2009b). Processos Erosivos nas Encostas. In: Geomorfologia - Exercícios, Técnicas e Aplicações. Orgs. S.B. Cunha e A.J.T. Guerra. Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 3ª edição, 139-155. Guerra, A.J.T. (2010). O Início do Processo Erosivo. In: Erosão e Conservação dos Solos - Conceitos, Temas e Aplicações. Orgs. A.J.T. Guerra, A.S. Silva e R.G.M. Botelho. Editora Bertrand Brasil, 5ª edição, Rio de Janeiro, 15-55. Guerra, A.J.T. (2011). Encostas Urbanas. In: Geomorfologia Urbana. Organizador: A.J.T. Guerra, Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 13-42. Guerra, A.J.T. (2014). Degradação dos Solos - Conceitos e Temas. In: Antonio Jose Teixeira Guerra;Maria do Carmo Oliveira Jorge. (Org.). Degradação dos Solos no Brasil, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 15-50. Guerra, A.J.T. e Favis-Mortlock, D. (1998). Land degradation in Brazil - the present and the future. Geography Review, 12, 18-23. Guerra, A.J.T. e Rodrigues, M.V.M. (1998). Riscos de degradação ambiental face às mudanças globais – um estudo de caso em Petrópoli – Rio de Janeiro. Revista Geosul, 27, 414-417. Guerra, A.J.T., Coelho, M.C.N. e Marçal, M.S. (1998). Açailândia – cidade ameaçada pela erosão. Revista Ciencia Hoje, 23, 36-45. Guerra, A.J.T. e Botelho, R.G.M. (1998). Erosão dos solos. In: S. B. Cunha e A. J. T. Guerra. (Org.). Geomorfologia do Brasil. 1ed., Bertrand Brasil 181-227. Guerra, A.J.T. e Silva, J. E. (2000). Análise da expansão urbana e das modificações no uso do solo urbano nas sub-bacias do RIo Tindiba e Córrego do Catonho, Jacarepaguá/RJ e suas implicações sobre a erosão do solo. Sociedade e Natureza, 12, 5-20. Guerra, A. J. T. e Silva, J. E. B. (2001). Análise das propriedades dos solos das sub-bacias do rio Tindiba e do Córrego do Catonho, Rio de Janeiro, com fins à identificação de áreas com predisposição à erosão. In: VII Simpósio Nacional de Controle de Erosão, ABGE, 78-83. Guerra, A.J.T., Rocha, A.M. e Oliveira, A.C. (2001). Diagnóstico da degradação ambiental no bairro de Itaipú – Niterói, Rio de Janeiro. In: VII Simpósio Nacional de Controle de Erosão, 2001, Goiânia, ABGE, 95-99. Guerra, A.J.T. e Mortlock, D.F. (2002). Movimientos de Massa en Petrópolis, Rio de Janeiro/Brasil . Desastres Naturales En America Latina, México, 447-460. Guerra, A. J. T., Oliveira, A. C., Oliveira, F. L. e Gonçalves, L. F. H. (2002a). Petrópolis: chuva, deslizamentos e mortes em dezembro de 2001. In: IV Simposio Nacional de Geomorfologia, São Luis do Maranhão. Geomorfologia: Inerfaces, Aplicações e Perspectivas, 34-40. Guerra, A. J. T., Furtado, M. S., Lopes, M. T., Oliveira, F. L., Oliveira, A, L. R., Cruz Júnior, A. J. (2002b). Análise de precipitação antecedente e do mínimo pluviométrico aproximado para o desencadeamento de movimentos de massa no Município de Petrópolis/RJ. In: IV Simpósio Nacional de Geomorfologia, São Luís do Maranhão. Geomorfologia: Interfaces, Aplicações e Perspectivas, 88-93. Guerra, A. J. T. e Ribeiro, S. C. (2003). Fatores sócio-ambientais na aceleração de processos erosivos em áreas urbanas: o bairro Seminário, Crato - Ceará. In: X Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, Rio de Janeiro. Revista GEOUERJ, 2003. v. 1, 1827-1829. Guerra, A.J.T. e Mendonça, J. K.S. (2004). Erosão dos Solos e a Questão Ambiental. In: Antonio Jose T. Guerra, Antonio Carlos Vitte. (Org.). Reflexões sobre a Geografia Física no Brasil. 1ed.Rio de Janeiro: Bertrand Brasil 225-256. Guerra,, A. J. T., Oliveira, F. L. e Gonçalves, L. F. H. (2003). Análise comparativa dos dados históricos de movimentos de massa ocorridos em Petrópolis – Rio de Janeiro, das décadas de 1960 até 1990. In: X Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, 2003, Rio de Janeiro. GEOUERJ, 2003. v. 1, 1175-1180. Guerra, A. J. T., Mendonça, J. K. S., Rego, M. e A, I. S. (2004a). Gully Erosion Monitoring in São Luis City - Maranhão State - Brazil. In: Yong Li; Jean Poesen; Christian Valentin. (Org.). Gully Erosion Under Global Change. 1ed.Chengdu: Sichuan science and technology press, 13-20. Guerra, A. J. T., Rocha, A.M., Marçal, M.S. (2004b). Importância da análise geomorfológica na caracterização ambiental do Parque Nacional da Serra das Confusões - PI. In: V Simpósio Nacional de Geomorfologia, 2004, Santa Maria -RS. Geomorfologia e Riscos Ambientais - V Simpósio Nacional de Geomorfologia, 1-13. Guerra, A. J. T., Corato, R. M. S., Maraschin, T., Nogueira, G. (2004c). Proposta metodológica para diagnóstico e prognóstico de movimentos de massa no Município de Petrópolis - RJ. In: V Simpósio Nacional de Geomorfologia, 2004, Santa Maria - RS. Geomorfologia e Riscos Ambientais - V Simpósio Nacional de Geomorfologia, 38-48. Guerra, A. J. T. e Figueiredo, M. (2005). A simple device to monitor sediment yield from gully erosion. International Journal of Sediment Research, 20, 244-248. Guerra, A.J.T., Assumpção, A.P., Silva, D.C.O.E., Melo, P.B. e Barreto, O.M. (2005). Methodological proposal for the development of a map of landslide risks in the Municipality of Petrópolis. Sociedade e Natureza, 2, 316-326. Guerra, A.J.T., Mendonça, J. K. S., Bezerra, J.F.R., Gonçalves, M.F.P. e Feitosa, A.C. (2005) . Study of rainfall rates and erosive processes at the urban area of Sao Luís – Maranhão State. Sociedade e Natureza, 2, 192-201. Guerra, A.J.T. e Hoffmann, H. (2006). Urban gully erosion in Brazil. Geography Review, 19, 3, 26-29. Guerra, A.J.T., Corrêa, A.C.B. e Girão, O. (2007). Encostas Urbanas como unidades de gestão e planejamento, a partir do estudo de áreas a sudoeste da cidade do Recife-PE. Revista de Geografia (Recife), 24, 238-263. Guerra, A.J.T e Mendonça, J.K.S. (2007). Erosão dos Solos e a Questão Ambiental. In: Reflexões sobre a Geografia Física no Brasil. Organizadores: A.C. Vitte e A.J.T. Guerra. Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2ª edição, 225-256. Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2008). Mapping hazard risk – A case study of Ubatuba, Brazil. Geography Review, 22,3, 11-13. Guerra, A. J. T., Wosny, G., Silveira, P.G. e Guerra, T. T. (2008). Propriedades químicas e físicas dos solos, associadas à erosão, ao longo da linha de transmissão de energia, em Mato Grosso do Sul. In: V Seminário Latino-Americano de Geografia Física, 2008, Santa Maria - RS. V Seminário Latino-Americano de Geografia Física. Santa Maria: Revista Geografia, Ensino e Pesquisa, v. 5, 886-900. Guerra, A.J.T. e Lopes, P.B.M. (2009). APA de Petrópolis: um estudo das características geográficas. In: Guerra, A.J.T.; Coelho, M.C.N. (Org.). Unidades de Conservação: abordagens e características geográficas. 1ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2009, 113-141. Guerra, A.J.T., Mendes, S.P., Lima, F.S., Sahtler, R., Guerra, T.T., Mendonça, J.K.S. e Bezerra, J. F.R. (2009). Erosão Urbana e Recuperação de Áreas Degradadas no Município de São Luis – Maranhão. Revista de Geografia, da UFPE, 85-135. Guerra, A. J. T. et al. (1989) . Um estudo do meio físico com fins de aplicação ao planejamento do uso agrícola da terra no sudoeste de Goiás. Rio de Janeiro: IBGE, v. 1. 212p . Guerra, A. J. T., Jorge, M.C.O. e Marçal, M.S. (2010). Laboratory of Environmental Geomorphology and Land Degradation of the Federal University of Rio de Janeiro (Brazil): History, Research Themes and Achievements. European Society for Soil Conservation 18 - 25. Guerra, A.J.T. (2011). Memorial da prova de prof. Titular do Departamento de Geografia, da UFRJ, impresso, 23p. Guerra, A. J. T., Jorge, M. C. O. e Marçal, M. S. (2010). Laboratory of Environmental Geomorphology and Land Degradation of the Federal University of Rio de Janeiro (Brazil): History, Research Themes and Achievements. European Society of Soil Conservation, p. 18-25. Guerra, A.J.T., Bezerra, J.F.R., Lima, L.D.M., Mendonça, J.K.S., Guerra, T.T. (2010). Land rehabilitation with the use of biological geotextiles in two different countries. Sociedade & Natureza, 22, 431-446. Guerra, A.J.T., Bezerra, J.F.R., Fullen, M.A., J. K. S. Mendonça, J.K.S., Jorge, M.C.O. (2015). The effects of biological geotextiles on gully stabilization in São Luís, Brazil. Natural Hazards, v. 75, p. 2625-2636. Guerra, A.J.T. e Soares da Silva, A. (2011). Predicting soil loss and runoff from forest roads and seasonal cropping systems in Brazil, using WEPP. In : Handbook of Erosion Modelling. Organizadores : R.P.C. Morgan e M.A. Nearing, Willey –Blackwell, Oxford, Inglaterra, 186-194. Guerra, A.J.T., Oliveira, A., Oliveira, F.L. e Gonçalves L.F.H. (2007). Mass Movements in Petrópolis, Brazil. Geography Review, 20, 34-37. Guerra, A. J. T., Mendes, S. P., Lima, F.S., Sathler, R., Guerra, T.T., Mendonça, J. K. S. e Bezerra, J. F. R. (2009). Erosão Urbana e Recuperação de Áreas Degradadas no Município de Sao Luis - Maranhão. Revista de Geografia (Recife), 26, 85-135. Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2012). Geomorfologia do cotidiano a degradação dos solos. Revista Geonorte, 1, 116-135. Guerra, A.J.T., Bezerra, J. F. R., Jorge, M.C.O. e Fullen, M.A. (2013). The geomorphology of Angra dos Reis and Paraty Municipalities, Southern Rio de Janeiro State. Revista Geonorte, 9, 1-21. Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2013a). O solo como um recurso natural: riscos e potencialidades. In: Maria Teresa Duarte Paes; Charlei Aparecido da Silva; Lindon Fonseca Matias. (Org.). X ENANPEGE: Geografias, Políticas Públicas e dinâmicas territoriais. 1ed.Campinas: UFGD, 1, 147-155. Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2013b). Os desastres na região serrana. Revista Pensar Verde, Brasilia, 12 - 15. Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2014). Hazard Risk Assessment: a case study from Brazil. Geography Review, 27: 12-15. Guerra, A.J.T. e Jorge, M.C.O. (2014). Geomorfologia Aplicada ao Turismo. In: Raphael de Carvalho Aranha, Antonio Jose Teixeira Guerra. (Organizadores). Geografia Aplicada ao Turismo. 1ed.Sao Paulo: Oficina de Textos, 2014, v. 1, p. 56-77. Guerra, A.J.T., Fullen, M.A., Jorge, M.C.O. e Alexandre, S.T. (2014). Soil erosion and conservation in Brazil. Anuário do Instituto de Geocências. UFRJ 37: 81-91. Guerra, A.J.T.; Cardoso, C.; Silva, M. S. (Organizadores) Geografia e os Riscos Socioambientais. 1. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2020. v. 1. 207p. Guerra, A. J. T.; Santos Filho, R. D.; Terra, C. Arte e Ciência: História e Resiliência da Paisagem. 1. ed. Rio de Janeiro: Rio Books, 2019. v. 1. 491p. Guerra, A. J. T. e Jorge, M. C. O. Geoturismo, geodiversidade e geoconservacão - abordagens geográficas e geológicas. 1. ed. Sao Paulo: Oficina de Textos, 2018. v. 1. 227p. Guerra, A.J.T. Erosão dos Solos e Movimentos de Massa - Abordagens Geográficas. 1. ed. Curitiba: CRV Editora, 2016. v. 1. 222p. ANA FANI ALESSANDRI CARLOS Pinceladas de uma autobiografia Ana Fani Alessandri Carlos Como um viajante a procura das cores, sons e cheiros dos lugares sairei em busca de "minha história". Mas recuar no tempo exige uma direção. Um questionário enviado para esta tarefa traz uma sequência possível, mas temo ter tomado muita liberdade. Com alguns acréscimos, sem muita imaginação, retomo aqui dois textos escritos: Meu memorial do Concurso de professor Titular em Geografia DG-FFLCH-USP realizado em 2004 e meu texto de apresentação no “Seminário de Geocritica” quando recebi o “Prêmio Geocritica” das mãos do professor Horário Capel (Pensar el mundo a través de la geografia: un camino recorrido en la construcción de una "geografia posible"). Conferência realizada quando da outorga do premio Geografia Critica de 2012 e publicada nos Anais do evento: http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas.htm/. Em ambos, todavia arremato fragmentos de lembranças – um flanar à toa pelo passado - por isso mesmo tortuoso e cheio de imbricações, alguns atalhos, becos sem saída. Fragmentos que se constituem de momentos reais e concretos contemplando um passado delineado e prontamente, reconhecido de uma memória seletiva e, portanto, aleatórios (o que para mim é um mistério). Posso começar com uma confissão! No ginásio detestava a Geografia. Dona Elza nos fazia decorar nomes de rios e capitais, num estilo terrorista. Até hoje embaralho o nome das capitais nordestinas e dos afluentes do rio Amazonas. Fui salva pelo professor Pedro Paulo Perides no curso clássico no colégio de Aplicação da USP, que me mostrou as possibilidades abertas pela disciplina. Hoje, ao contrário, a Geografia, para mim, é “pura paixão” e aparece como um desafio enquanto possibilidade de pensar o mundo em sua dinâmica transformadora e um exercício de liberdade. Minha vida não se separa da Geografia a não ser nos meus primeiros anos que duraram até o clássico. A Geografia, claro não foi uma opção muito bem aceita na casa paterna, mas tão pouco questionada. Como era muito estudiosa, meu pai descortinava para a filha um futuro com um diploma de doutor. Diploma este que pude um dia lhe mostrar. O que me motiva na vida? O ato de descobrir, de querer saber mais sobre tudo o que vejo. Uma verdadeira tragédia, pois nunca me sinto completamente satisfeita! Na realidade o que me motiva é o desejo de experimentar que vem acompanhado pela consciência de minhas limitações. Há tanto ainda que ler, aprender, investigar, que uma vida é muito pouco. Nesse caso me consola a ideia do professor Petroni segundo a qual “quando achamos que sabemos tudo, estamos, na realidade mortos”. Nesse sentido o que me move é essa busca infindável pelo conhecimento. A liberdade na possibilidade da criação que fascina e aqui se liga a ideia de aventura que ilumina a busca. Acho que é assim que me defino; uma pessoa inquieta, ávida de conhecimento, sempre em busca de algo, às vezes, difícil de definir. Numa tarde de sábado, enquanto escrevia meu memorial de livre docência, ouvi de meu marido ao fechar o notebook falar pra mim “avancei muito, mas ainda sei muito pouco“. Essas palavras sintetizaram meus sentimentos. Minha ansiedade nesta busca incessante me imerge na angústia e no terror, pois ela transcende a Geografia para me colocar diante da criação humana do mundo e de como, ao longo do tempo esse mundo, em constante construção foi pensado e imaginado. Proust elucida a questão quando afirma que há uma diferença "entre a ardente certeza dos grandes criadores e a cruel inquietação do pesquisador"¹ . Talvez seja por isso que minhas leituras me conduzem/ expulsam do estrito limite do que se chama Geografia para me debruçar sobre muitos campos disciplinares, inclusive na arte (desenvolvi um projeto no CNPq num diálogo entre a “geografia e a arte”). Para mim me consola a ideia de que a segurança é sinônimo de aprisionamento e que a verdadeira liberdade é aquela que nos permite ousar; pois quando tudo estiver explicado, quando tudo for posto em ordem e fixado de antemão, então evidentemente, não haverá mais lugar para o que se chama desejo. Assim poder pensar, estudar, imaginar como a geografia pode construir uma explicação do mundo tão turbulento, dinâmico e complexo sem a criação de modelos prontos e acabados, é, para mim, um exercício de liberdade, o desejo². I. São Paulo, minha cidade, onde nasci, vivi e vivo... “situada num planalto 2700 pés acima do mar E distando 79 quilômetros de Santos Ela é uma glória da América contemporânea A sua sanidade é perfeita O clima brando E se tornou notável Pela beleza fora do comum Da sua construção e da sua flora Anúncio de São Paulo, Oswald de Andrade Na linearidade do tempo, nasci – 22 de maio de 1952- no seio de uma família de imigrantes do norte da Itália que tentavam a sorte em São Paulo, como tantos outros. Na Barra Funda passei as duas primeiras décadas de vida e foi um período tão marcante, tão profundamente vivido nas ruas do bairro (onde aconteciam as brincadeiras e todos os trajetos eram feitos a pé) numa relação tão íntima com meus vizinhos, permeado de momentos tão lúdicos que até hoje, quando penso na minha identidade, é a Barra Funda que me vem à mente, mesmo se hoje ela não se parece, em nada, com a Barra Funda de minha infância e adolescência. Morava numa das casas de uma vila construída pelo "nonno" anos depois de ter chegado com a família da Itália, ele era de Lucca, minha nonna nascida no Vêneto. As ruas de minha infância na cidade de São Paulo dos anos 50 – início dos 60 era marcada pelo burburinho das vozes das crianças que saíam às ruas, com suas bolas, "carrinhos de rolemã", cordas, patinetes, festejando de tempos em tempos a passagem do "homem da machadinha", (aquele doce rosa e branco duro e açucarado que fazia a alegria de crianças e dentistas e era o terror dos pais); o homem do picolé, ou ainda o homem que trazia uma lata redonda nas costas e um "instrumento barulhento" na mão vendendo bijou; o lindo som do realejo...situações estas, que parecem não ter mais lugar na metrópole do século XXI. Minha rua, a mesma de Mario de Andrade “Nesta rua Lopes Chaves Envelheço envergonhado Nem sei quem foi Lopes Chaves ... Ser esquecido e ignorado Como o nome dessas ruas. Minha casa, onde morávamos eu, meus 2 irmãos, meus pais e os nonos do lado paternos se situava no número 123, da rua Lopes Chaves. Mais tarde descobri que Mario de Andrade ali havia vivido, numa carta recebida de um antigo professor de literatura que, ao escrever para meu endereço, não se conteve em falar que este lhe lembrava do grande escritor. Se hoje o novo engole, incessantemente, as formas onde se escreve o passado de modo veloz; as mudanças no bairro vislumbradas, no período de minha adolescência eram lentas e graduais e não chegavam a produzir traumas. Vivíamos o tempo cíclico na vida cotidiana entre casa, a escola (próxima de casa) e o lazer na rua depois das “lições de casa” que aos poucos foi invadido pelo tempo linear. Junto comigo, o bairro ia crescendo e se transformava, mas antes, ia se modificando a vida das pessoas. Eu brincava nas ruas do bairro com minhas amigas, e aos poucos, os carros teimavam em tomar o lugar das nossas brincadeiras. As cadeiras que tomavam conta das calçadas, ocupadas por nossos pais, teimavam em desaparecer. A chegada da televisão no bairro enchia a todos de curiosidade e colocava os adultos diante da telinha que teimava em não “retrucar“. No começo ela não acabava com os encontros dos vizinhos, lembro-me que, como a minha casa era uma das poucas a apresentar a novidade, é para lá que alguns vizinhos se dirigiam depois do jantar e a sala se enchia de gente. Mas em pouco tempo a televisão prendeu cada um na sua sala sozinho, assistindo a sua televisão, sem olhar para o lado ou conversar com ninguém abrandando as relações de vizinhança. Outro ponto importante da vida do bairro italiano que se perdeu eram os encontros nas esquinas nas portas dos bares para a conversa depois do jantar e que iluminavam as ruas. A atenuação da sociabilidade ia aos poucos sendo marcada pelo fim de atividades que aconteciam nos bairros, com o fim das relações de vizinhança provocada pela televisão. As ruas iam se tornando perigosas pelo adensamento dos automóveis, tirando as crianças das calçadas. Mas as mudanças iam atacando o tempo cíclico. Penso no fim das procissões, onde todos se encontravam e percorriam as ruas do bairro com uma vela na mão, iluminado o percurso; o fim das quermesses que marcavam o período das festas juninas e suas fogueiras que esquentavam as noites de inverno; o fim do “cordão do camisa verde e branco” que à época do carnaval usava as ruas do bairro como palco de seu ensaio - trazendo atrás de si várias crianças e adolescentes. Transformado em escola de samba passou a ensaiar, para o carnaval, numa quadra fechada e com ingressos pagos. Nos dias de Carnaval não há mais o agrupamento de moradores na Rua Conselheiro Brotero para ver as fantasias dos integrantes da escola, saindo para o desfile. Como os bairros centrais da metrópole a Barra Funda também implodiu, e muitas casas deram seus lugares para outros usos. Estamos hoje muito distantes da paisagem descrita por Mário de Andrade em Paulicéia Desvairada e Lira Paulistana onde São Paulo ainda aparecia calma e a garoa ainda era sua marca. Na casa de minha avó materna (em frente à vila onde morava) está instalada, hoje, a doceira Dulca (construída através do remembramento de dois antigos terrenos ocupados por casas construídas nas primeiras décadas do século XX). A vila, onde morei, ainda está lá, não foi derrubada, mas arrasada, sem vida alguma. A farmácia da esquina com sua decoração do início de século, toda em madeira, balcão de mármore, portas de vidro branco desenhados, e chão quadriculado em branco e preto, deu seu lugar a uma loja de automóveis. Não sei no que se transformou o "armarinho" grande e colorido pela profusão das linhas e lãs que decoravam as prateleiras; como minha nonna fazia crochê, íamos lá com frequência. Na charutaria do seu Diogo, em meio a um cheiro que penetrava na narina de forma agressiva aonde comprava uma parte dos artigos de papelaria que precisava, deixou de existir há muito tempo. O açougue do seu Duílio também não existe mais, tanto quanto a linguiçaria, a sapataria, a tinturaria, a padaria. Mas o que mesmo senti falta foi da Dan Top, a fábrica de chocolates que ficava na rua Barra Funda inundando-a com um cheiro delicioso (que até hoje pareço sentir, como lembrança de um dos cheiros da infância) quando por lá passava com minha mãe e minha irmã. Hoje, nem a Kopegnagen com seu "dona benta" consegue reproduzir "aquele maravilhoso gosto da infância" (ou será que o gosto era mesmo ruim, mais, na infância os cheiros e gostos ganham dimensões especiais). Também não existe mais a casa Di Piero, um pastifício que funcionava na mesma rua com suas paredes cobertas de gavetas com tampo de vidro, mostrando uma infindável quantidade de "formas de macarrão" feitas nos fundos e abastecendo as cozinhas para o "almoço das macarronadas das quartas e dos domingos", e das sopas servidas no jantar do cardápio italiano de minha família. O depósito onde comprávamos Tubaína (os refrigerantes eram mais caro) aos sábados (o refrigerante só era permitido nos finais de semana, nos outros dias uma gota de vinho e açúcar, na água, acompanhava a refeição da garotada), também, há muito tempo, não existe. As ruas, antes arborizadas e silenciosas, perderam a cor, e foram invadidas pelos carros, estacionados em todas as suas extensões de suas guias. O tráfego de veículos também se intensificou. A quantidade de carros contrasta com a ausência das crianças e dos moradores. Mudou, fundamentalmente, os cheiros, as cores, os ruídos, há uma imensa ausência (se é que se pode quantificar a ausência). O espaço lúdico se tornou uma "coisa estranha". Foi, não é mais. Lembro-me aqui do o filme Avalon (dir Berry Levinson,1990) e da música Peramore de Zizi Posi (1997, aonde as mudanças nas formas urbanas, sustentadoras da identidade, ao desaparecem dá a sensação de que, sem elas, “nunca tivemos existido”. Nesse sentido, o passado enquanto experiência e sentido daquilo que produz o presente se perde enquanto o futuro se esfuma na velocidade do tempo da transformação das formas. Parece haver uma urgência, neste processo. Vejo São Paulo se transformando ao longo de minha vida. As ruas dos bairros centrais se esvaziam as da periferia agora correm o mesmo risco com as milícias e o narcotráfico que vieram normatizar e impor sua lógica àquela de uma área marcada pela violência do processo de urbanização poupador de mão de obra, feito com altas taxas de exploração de força de trabalho que expulsou para a mancha periférica os trabalhadores. Hoje a periferia é mais complexa, nas franjas da metrópole, as ações do imobiliário em busca de terrenos escasso na macha urbana vem construindo grandes condomínios fechados por altos muros, segurança ameaçadora com limites bem definidos. Das brincadeiras e da prática de esportes, sem uniforme e regras rígidas, praticadas nas ruas e em lugares improvisados, me vi agora praticando vôlei e tênis em clubes fechados. Os esportes fazem parte de minha vida e são momentos importantes e uma forma de arte que se revela em movimentos criativos e expressivos e como sou um pouco obsessiva vejo-os também como momentos de aprendizado – adoro aprimorar meus movimentos - além de fazer amigos, rir muito e relaxar. Tenho um time de vôlei (que, evidente se renova) há mais de 30 anos, participando, inclusive de campeonatos; além de jogar tênis – já neste esporte sou bem melhor- pelo menos é o que detecto dos gritos do treinador de vôlei. II. Rupturas Dois fatos marcaram minha formação. O ingresso no colégio de Aplicação da FFLCH foi decisivo abrindo novas e abrangentes perspectivas. Ali o debate "corria solto". Os alunos eram instigados o tempo todo a participar das aulas. Queria morrer quando ali cheguei depois de um árduo exame de admissão baseada numa música de Chico Buarque! Morri! Eu que vinha de um colégio tradicional tinha dificuldades em entender como as coisas aconteciam na sala de aula. Em primeiro lugar todos os alunos participavam das aulas, traziam sugestões, debatiam, criticavam, enfim não aceitavam facilmente as ideias apresentadas o que de início me deixava aturdida. Era estimulante, mas também assustador, para uma pessoa tímida que vinha de uma família operária, que havia estudado em colégio de freiras e pertencia a uma classe diferente dos outros alunos. Acho que foi essa diferença que uniu, profundamente, os “iguais”: Amélia, Tânia (ambas descendentes de famílias de migrantes italianas e também moradoras na Barra Funda, como eu), Lucienne e Silmara, com quem havíamos cruzado no ginásio egressas do colégio Macedo Soares. As leituras também eram outras e discutíamos o que se passava no mundo real, nos fazendo mergulhar nos momentos difíceis que marcava aquele final de década de 60. A ditadura militar, o AI5, a perda das liberdades individuais, a censura nos jornais (o Estadão vivia enchendo suas páginas com receitas e mais receitas de bolo no lugar aonde os sensores faziam seus cortes); houve um ano em que assistíamos aula com 2 guardas na porta com metralhadora (o colégio era perigoso para o regime militar). Vivíamos intensamente este momento em que os debates ocorriam à solta, os livros eram escondidos, e a união era uma forma de resistência. O teatro também passa a fazer parte da minha vida, as aulas de teatro eram estimulantes e a frequência ao teatro, até então fora de meu universo (até então só tinha visto Édipo Rei numa das últimas apresentações de Cacilda Becker), criou novas perspectivas. Cheguei mesmo a fazer parte de um grupo que escreveu uma peça de teatro a partir de um livro de Campos de Carvalho, "O púcaro búlgaro". Nos finais de semana tínhamos ensaio com Antônio Fagundes e frequentávamos a casa de Sílvio Zilber. Aprendemos a trabalhar em grupo (e aqui construímos um grupo (mencionado, acima, que acabou atravessando a vida, penetrando outros momentos, e que existe até hoje, intensamente)). Varávamos noites deliciosas (barulhentas e com muitos petiscos deliciosos que a Tânia trazia da padaria do seu pai) fazendo trabalhos uns mais interessantes que o outro. Durante muitos anos fomos absolutamente inseparáveis na escola, nos cursos de francês (na Aliança Francesa), depois na faculdade, fizemos teatro juntas, saíamos à noite, tudo que fazíamos, parecia ter o sentido novo da descoberta. O universo do diálogo criado nas salas de aula, as aulas, nossas noitadas, eram ricas e estimulantes e marcaram uma adolescência diferenciada: mais intelectualizada. Uma adolescência diferente. Tão novo e estimulante quanto o Aplicação foram os 18 anos (1976 a 1993) que participei do grupo de pós-graduação coordenado pelo professor José de Souza Martins no Departamento de Sociologia. Naquelas "manhãs de sextas-feiras", criou-se ao longo do tempo, uma amizade e carinho muito grande, todos os que ficaram foram profundamente influenciados pelos debates a partir das leituras que fizemos e que não eram poucas. Durante 12 anos lemos as obras de Marx (quase todas) depois as de Henri Lefebvre (algumas). Nossa formação ganhou profundidade, nos formamos nesses 18 anos e a partir daí formamos os nossos alunos, na mesma direção teórico-metodológica. Com o professor Martins aprendemos a ler criticamente um texto, a debatê-lo em profundidade, fomos contaminados por sua preocupação teórico-metodológica e com sua seriedade. De Marx começamos lendo o Capital (primeiro na edição do Fondo de Cultura do México, depois anos mais tarde relemos na versão da Siglo XXI - edição crítica, mais completa, cheia de notas preciosas); o capítulo inédito do capital; depois lemos Os Grundrisse, As teorias da mais valia, A Miséria da filosofia, Os manuscritos econômicos e filosóficos, A questão judaica e o 18 Brumário. "Encerrada esta etapa, decidimos em conjunto que ela deveria ter desdobramento e continuidade na leitura de um marxista contemporâneo de envergadura clássica" escreve modestamente Martins na apresentação do livro "Henri Lefebvre e o retorno a dialética". Na realidade foi o mestre quem sugeria a leitura de Henri Lefebvre. À época dizia que Lefebvre era um marxista sério que tentava percorrer o caminho de Marx diante das interrogações da história, um conhecimento que interrogasse a realidade e que a superasse; e alertava: não de forma petrificada. Lefebvre era-nos apresentado também como um autor rico e crítico capaz de pensar o espaço e o tempo na sua modernidade. Para fechar quase duas décadas de estudos organizados pelo Professor José de Souza Martins foi realizado um seminário “A Aventura intelectual de Henri Lefebvre, em 14 de maio de 1993, publicado, em 1996 com o título de "Henri Lefebvre e o retorno à dialética". Para Martins” Lefebvre retomou o que de mais importante havia em Marx - seu método e sua concepção de que a relação entre a teoria e a prática, entre pensar e o viver, é uma relação vital (e datada) na grande aventura de fazer do homem o protagonista de sua História". O que começou como um seminário de estudantes de pós-graduação terminou como um seminário de professores universitários. Esse caminho de aprender o mundo mudou “minha forma de fazer geografia”, dando-lhe sentido e prolongando minha experiência do Aplicação. Esse caminho aberto na minha formação marca profundamente minha investigação e minha atividade na formação dos estudantes. III. Construções É necessário esclarecer que só entrei em contado com as obras de Lefebvre no final dos anos 80 o que significa que a minha construção teórica sobre a produção do espaço veio, como aconteceu com Lefebvre, de uma profunda reflexão sobre a obra de Marx. Foi assim que em 1979 defendi a dissertação de Mestrado ‘”Reflexões sobre o espaço geográfico” focando o papel do conceito de produção elaborado na obra de Marx, a partir do debate sobre a relação homem-natureza. III. Construções É necessário esclarecer que só entrei em contado com as obras de Lefebvre no final dos anos 80 o que significa que a minha construção teórica sobre a produção do espaço veio, como aconteceu com Lefebvre, de uma profunda reflexão sobre a obra de Marx. Foi assim que em 1979 defendi a dissertação de Mestrado ‘”Reflexões sobre o espaço geográfico” focando o papel do conceito de produção elaborado na obra de Marx, a partir do debate sobre a relação homem-natureza. Nessa dissertação construí a tese que persegue minha pesquisa até hoje: a produção do espaço é uma produção imanente a produção da vida humana. Produto da história seu conteúdo é social. Nesse momento desloca-se a investigação da localização dos fenômenos no espaço à produção social do espaço apontando a sociedade (desigual) como sujeito produtor do espaço. Uma inversão teórica apoiada no materialismo dialético. A noção de produção do espaço se desdobra da relação homem-natureza ato civilizatório, superando a compreensão de uma Geografia centrada na localização e distribuição das atividades e dos homens no espaço ou no território em direção à análise da produção deste espaço como produto social e histórico. No Doutorado (A re-propdução do espaço urbano, EDUSP, São Paulo, 1994) desenvolvemos a tese de que ao produzir sua existência os homens produzem não só sua história, conhecimento, processo de humanização, mas também o espaço. Um espaço que em ultima instância é uma relação social que se materializa formalmente em algo possível de ser apreendido, entendido e aprofundado. Um produto concreto: a cidade. O espaço, enquanto dimensão real que cabe instruir coloca-se como elemento visível, representação de relações sociais reais que a sociedade unia em cada momento do seu processo de desenvolvimento e, consequentemente, essa forma apresenta-se como história especificamente determinada; logo concreta. O produto espacial expressa às contradições que estão na base da sociedade através da segregação que tem sua lógica no desenvolvimento desigual das relações capitalistas de produção. Ao longo do processo histórico, portanto, os homens deixam suas marcas acumuladas no espaço, dando-lhe particularidades que compõem a existência comum dos homens inscrevendo-se no espaço ao mesmo tempo em que o criam como obra civilizatória. Ao reproduzir sua existência, a sociedade reproduz, continuamente, o espaço, dando-lhe um caráter histórico. Assim se elabora a premissa de que o processo de constituição da humanidade contempla a produção do espaço, permitindo formular a tese segundo a qual a "produção do espaço" é condição, meio e produto da ação humana. Este movimento triádico sugere que é através do espaço (e no espaço), que, ao longo do processo histórico, o homem produziu a si mesmo e o mundo como prática real e concreta. Objetiva em sua materialidade, tal prática permite a realização da existência humana através de variadas formas e modos de apropriação dos espaços-tempo da vida. Ao se realizar nesse processo, a vida revela a imanência da produção do espaço como movimento de realização do humano (de sua atividade). Com isso quero dizer que a relação do homem com a natureza não é de exterioridade, uma vez que a atividade humana tem uma relação prática com a natureza como reação e resposta, apoderando-se das coisas como construção de um mundo e de si mesmo em sua humanidade. Ao longo do processo histórico constituidor da humanidade, o espaço se encerra como uma das grandes produções humanas, superando sua condição de "continente". Essa produção espacial expressa, portanto, as contradições que estão na base da sociedade, e que, sob o capitalismo, traz determinações específicas no âmbito de uma lógica do desenvolvimento espacial desigual fundado na concentração da riqueza que hierarquiza e normatiza as relações sociais e as pessoas no espaço. Em seu desdobramento, a noção de produção permitiu chegar à compreensão do espaço-mercadoria e de sua reprodução com o desenvolvimento do capitalismo. Portanto, o civilizatório, traz em si aquilo que o nega, o espaço (produção social) torna-se uma mercadoria, como todos os produtos do trabalho humano. Nesta condição, a produção social do espaço coloca-se como momento de exterioridade em relação à sociedade aparecendo e se representando – no plano do vivido - como uma potência estranha (a obra humana se opõe ao humano) isto é, como momento do processo de alienação derivando-se nas lutas no espaço pelo espaço. Nesta perspectiva, a produção do espaço envolve vários níveis da realidade que se apresentam como momentos diferenciados da reprodução geral da sociedade; aquele da dominação política (imposição da lógica do estado na produção do espaço como se pode ver através de planos e politicas públicas voltadas ao espaço), das estratégias do capital objetivando sua reprodução continuada (os processos de acumulação tem o espaço como sua condição tornando-o uma força produtiva para o capital) e aquela das necessidades/desejos vinculados à realização da vida humana em sociedade. Estava assim aberta a perspectiva da construção de uma metageografia. O caminho traçado por minha investigação, portanto não se refere à construção de uma “geografia urbana”, mas foca uma geografia que pretende compreender a realidade que tem por determinação o urbano. III- A grande reviravolta na Geografia – os anos 70 Se de um lado a construção de minha investigação tinha como ponto de partida as leituras de Marx, por outro encontrava a Geografia num ambiente extremamente rico estimulante, coisa que hoje não mais vivenciamos. A década de 70 marcou o cenário geográfico com profundas transformações; a geografia estava na berlinda. Iniciei minha pós-graduação em 1976, num momento de grande "agitação intelectual", os geógrafos começavam a questionar o legado da chamada "geografia clássica". A crítica a este pensamento estava fundando na ideia de que a Geografia até então descrevia os fenômenos espaciais, sem uma preocupação maior com sua análise, isto é, a teoria ocupava um lugar secundário e a dimensão do empírico imperava. Questionava-se seu poder explicativo e os trabalhos monográficos com forte teor descritivo. O debate metodológico tomava conta de todos os ambientes, os debates eram acalorados, naquele momento era o materialismo histórico que abria e apoiava os debates que colocavam em xeque o entendimento do espaço e o papel do homem na análise geográfica. Permitiu, também, pensar de outro modo à articulação entre as disciplinas abolindo-se as fronteiras entre as mesmas buscando-se um novo entendimento do mundo e provocado profundas transformações na Geografia.Baseado no materialismo histórico, o que se convencionou chamar de “geografia crítica" passa a fundamentar, no Brasil, a esmagadora maioria dos trabalhos na área de Geografia Humana a partir dos últimos anos da década de setenta, como a Geografia produzia um conhecimento sobre o espaço e como se poderia entender o mundo através da Geografia. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Ruy Moreira, Carlos Walter Porto Gonçalves agitavam o cenário da geografia brasileira com seus escritos. O contato com Ari na USP era fonte de inspiração. Mas o debate acolhia uma ampla diversidade de geógrafos, não necessariamente relacionada à chamada “geografia crítica”. Pasquale Petroni, Pedro Pinchas Geiger (seu livro sobre a Rede Urbana), Fanny Davidovich (as análises urbanas) eram mentes ativas e estimulantes. Manuel Correa de Andrade (e seu inspirado livro “A terra e o homem no Nordeste) questionava se a geografia deveria ser mero devaneio intelectual ou se deveria fornecer condições para a racionalização da organização do espaço brasileiro, oferecendo uma contribuição à solução dos problemas brasileiros. Milton Santos aparecia no cenário da Geografia brasileira com textos estimulantes convocando à reflexão em direção a uma “outra Geografia” . Lembro-me que, numa de suas passagens por São Paulo, Ariovaldo promoveu uma reunião com poucas pessoas em sua casa para conversar com o mestre sobre os rumos da Geografia no momento em que era publicado “Por uma nova Geografia”. Puro estímulo intelectual! A produção de um saber geográfico se move no contexto do conhecimento que é cumulativo (histórico), social (dinâmico), relativo e desigual. O dinamismo no qual está assentado o processo de conhecimento implica em profundas transformações no pensamento geográfico. Essa era o que esses anos traziam para o debate. Estimulada por este debate debrucei-me no trabalho de investigar os conteúdos e sentidos do que, para a Geografia, era o espaço. Esta questão me perseguia em 1975 quando terminava meu curso de graduação. Foi assim que aprofundei meus estudos. Naqueles anos, por outro lado, a Geografia Quantitativa ganhava espaço no cenário nacional principalmente no IBGE e na UNESP em Rio Claro; na USP os professores, em sua esmagadora maioria se posicionavam contrário à ideia de que com a "quantitativa a geografia se transformava numa ciência". Aqui as questões teóricas já invadiam a sala de aula colocando "novas perspectivas". A geografia aparecia em seus profundos vínculos com a história e a sociologia; distante das preocupações com a quantificação dos fenômenos. Período de debates estimulantes foi o estágio com a prof. Rosa Ester Rossini na secretaria da Educação como estagiária de graduação mobilizados também por Nice Lecoq Muller convidada do grupo. Ali o debate em torno da chamada “Geografia Quantitativa foi abertura necessária ao contraponto com a “geografia da USP”’. Ainda na graduação o estágio com Luiz Augusto de Querioz Ablas no Instituto de pesquisas econômicas- IPE- abriu-me para a importância da relação entre geografia-economia a ponto de ter seguido alguns cursos de graduação na faculdade de Economia na USP. No período de pós-graduação vive intensamente o debate sobre o que achávamos que seriam as questões fundamentais da geografia. Dividi esses momentos com muitos colegas, mas em especial com Sandra Lencioni. Encontrávamos todas as tardes na casa dela, liamos, debatíamos, refletíamos sobre a Geografia no mundo em que vivíamos. Com ela aprendi a amar chá e fazer dele um ritual de relaxamento e encantamento. Ela também me introduziu no gosto pela caneta tinteiro, ela me deu a primeira de presente e depois desse gesto fiz uma coleção que mantenho numa linda caixa no meu escritório. É relaxante o ato de encher as canetas de tinta e escolher uma para escrever, começando o dia de trabalho. Costume esboçar meus textos no papel, fazer resumos de leituras, em folhas soltas escritas com “caneta de pena” com tinta de cor “violet”. O ato de ler-refletir-escrever é lúdico para nós duas e a caneta de pena acrescenta um sentido mágico a essa atividade. O período de 1975, quando nos formamos até 1982 foi de intensa atividade aonde nos debruçamos na leitura dos chamados clássicos da geografia: La Blache, Brunhes, Demageon, Derruau, Deffontaines, Peirre George, Kayser, Guglielmo, dentre outros e quando ambas entramos no corpo docente do DG e dividíamos a mesma sala (G4) esse debate se estendeu e ganhou força. Respirávamos Geografia e também escrevemos juntas alguns artigos, dois delas foi publicado agora na revista ETC, coordenada por Ester Limonad. Também nos debruçamos numa pesquisa sobre os conteúdos do “regional” numa publicação da época. Formamos um grupo de pós-graduandas que se reuniam frequentemente para estudar e trocar ideias no espaço onde hoje é a sede da AGB, cedido pelo DG. No início dos anos 80, como professores do DG, junto com Tonico e Wanderley criamos por algum tempo um grupo de estudos em nossa sala. Lembro-me de uma tarde em que estávamos os quatro trabalhando o professor Armando – grande estimulador de nossos debates - entrou na sala e disse que queria organizar um seminário para discutir o momento em que estávamos vivendo na Geografia e perguntou aonde seria interessante realizar o seminário. Marotamente Wanderley sugeriu o Rio de Janeiro; mas os paulistas fizeram o seminário em três dias: sexta, sábado e domingo, acabando com uma possível ideia de desfrutar das lindas praias cariocas. O seminário “Dialética e Geografia" foi um marco importantíssimo, naquele momento aonde o debate em torno das possibilidades da análise geográfica a partir do método dialético foram delineadas. O professor Armando também sintetizou num texto publicado no Boletim Paulista de Geografia as mudanças que estavam ocorrendo, principalmente na USP. Tonico, Sandra e eu também participamos junto com o professor Armando numa mesa do Congresso da AGB que houve 1980 na PUC Rio de Janeiro. Nesse período também participamos todos mais Wanderley numa mesa da AGB – são Paulo no DG originando o número 1 da revista – de pouca vida- chamada Borrador. Para mim "fazer Geografia" neste momento significou "sair da Geografia" muitos me diziam que estava me transformando em socióloga, até hoje, ainda alguns não me acham geógrafa, mas o que tenho a dizer é que desde 1975 tenho a consciência e a vontade e, quem sabe a pretensão de "ser geógrafa" entendendo por isso, a tentativa de pensar o mundo moderno a partir da análise espacial. Minha dissertação de Mestrado, minha tese, minhas pesquisas, perseguem o conhecimento do espaço em seu sentido amplo, e nessa busca, encontrei a produção do espaço enquanto produção humana, portanto a análise espacial passa pela "produção do humano". Quero crer que fiz parte de um momento precioso e rico da Geografia - aquele do debate acalorado e profundo sobre os caminhos da análise geográfica a partir da crítica a geografia clássica tendo na sua base o caminho aberto pela leitura marxista do mundo. A controvérsia era profundamente estimulante o que não impedia a existência de "vários marxismos” tanto quanto as possíveis leituras que as obras de Marx permitiam o que se colocava como problema quase intransponível. IV- Aprendendo “em outros lugares” Realizei dois curtos "séjours" de pesquisa em Paris, o primeiro em 1989 um ano e meio depois de meu doutorado, sob a orientação do professor Olivier Dolffus da universidade de Paris VII. Naquele momento a tese de doutorado havia deixado muitas questões em aberto. As leituras me conduziam, agora, para entender o modo como à geografia urbana pensava a cidade nos finais dos anos 80, quais os caminhos teóricos metodológicos que se abriam a pesquisa sobre a cidade; quais os temas emergentes. O professor Milton Santos com quem convesava muito no DG, um dia no corredor me disse que estava « eu fazendo muita política « (era representante da FFLCH no Conselho de represnetante da ADUSP) e me pediu para avisar meu marido, com quem ele tinha trabalhado, que ele iria me enviaria para um pós-doc em Paris I. E assim ele, com sua grande generosidade, orgzanizou meu séjour junto ao porfessor Dolffus e conversou com seus amigos para que me recebessem -o que me abriu inúmeras portas -, e foi assim que fiz um grande número de entrevistas com pesquisadores. E entrevistei muitos geógrafos e pude trabalhar em bibliotecas e visitar livrarias. O contato com o professor Claval sempre foi muito estimulante, já naquela época conversávamos sobre as relações entre a geografia e a literatura. Desta época a amizade com a geógrafa Martine Droulers permitiu acalorados debates e décadas de convivência. Topalov também foi uma das pessoas que me deu muitas ideias no curso que seguia na Sociologia. Nessa época seguia curso do Claval com Paulo Cesar- foi ótima nossa convivência e com ele descobri o “panaché”. O segundo "séjours" foi um convite do professor Georges Benko da Universidade de Paris I, neste momento ao contrário do primeiro foquei meu trabalho numa pesquisa bibliográfica visando à elaboração da tese de Livre docência. Aqui o contato com o professor Roncayolo, foi central. Como estava em Paris com Silvana Pintaudi (professora da UNESP) dividindo o mesmo “studio”, montamos uma grande biblioteca (dividíamos literalmente o espaço com muitos livros). Passávamos as manhãs trancadas lendo os livros em silêncio e depois saíamos para livrarias e bibliotecas, agora, debatendo muito, tornando o "séjours" mais profícuo e estimulante. Nosso debate e minhas investigações versavam sobre as leituras que focavam a cidade propriamente dita, mas referiam-se, sobretudo, ao caminho da análise do urbano no contexto do processo de mundialização da sociedade que se torna cada vez mais urbana. Outras “andanças” marcam o fato de que os encontros nos permitem aprender e não só ensinar ou mostrar o que se “sabe ou aprendeu”. Nesse caso cito que foi como professora e coordenadora de convênios; Paris coordenado CAPES-COFECUB, Barcelona, coordenando CAPES-MECD, depois outras voltas a Barcelona- numa delas aproveitando o silêncio e a ausência das tarefas burocráticas, escrevi meu livro “O espaço urbano”. Desse encontro inicial se desdobrou importante intercambio que ainda mantenho com a prof. Nuria Benach, a convite de quem dividi a edição do livro “Horácio Capel: Pensar la ciudad em tempos de crisis” (volume 7 da coleção Espacios Critics, Icária, Barcelona, 2005). Também viajei a convite de colegas, ministrando cursos para Medellin (2 vezes), Bogotá, Buenos Aires. Na cidade do México assumi a cátedra Elisé Reclus. Ao longo de duas décadas venho acompanhando os colóquios organizados por Capel “colóquios de geocritica”, além da participação em outras redes de pesquisa. Saliento, aqui o diálogo com o grupo da revista de estudos lefevrianos -“La somme et le reste” - coordenado por Armand Ajzenberg, em Paris. Nosso processo (estendido) de formação se realiza em momentos entrecruzados por atividades as mais diversas, no convívio com colegas de dentro e de fora da Geografia, quase todos vinculados à Universidade, montando um quadro profícuo ao debate a troca de ideias, o contato com o Diferente e com o que difere. É assim que destaco minhas participações na ADUSP, SBPC e AGB. O diferente marca uma riqueza ilumina a prática, provoca amadurecimentos. Na SBPC, quero lembrar que trabalhei com o professor José pereira de Queiroz, na ADUSP pude me sentir membro do grupo PARTICIPAÇÃO e na AGB-SP trabalhei com colegas como a Odette Seabra, Arlete M. Rodrigues e Regina Bega. V- O diálogo sem o qual não se produz ciência Ao longo de quase 2 décadas um fórum de debates se tornou importante para o meu trabalho e, formação: no princípio era o grupo que fundou e organizou os primeiros 7 “Simpósios de Geografia Urbana”, e depois que o SIMPURB, ganhou o Brasil, o grupo se reuniu entorno do GEU- grupo de estudos Urbanos. Faz parte do grupo Roberto Lobato Correa, Mauricio de Abreu, Jan Bitoun, Silvana Pintaudi, Maria Encarnação Sposito, Pedro Vasconcelos e um pouco depois se juntou ao grupo inicial, Marcelo Lopes de Souza. Esse fórum foi de fundamental importância por dois motivos; primeiro porque se trata de um grupo de pesquisadores que pensa de modo diferente; optando por caminhos teórico-metodológicos diversos o que abre um leque de perspectivas analíticas. Em segundo lugar é o modo como o debate se estabelece: criticamente. Sem crítica não há produção de conhecimento - e esse exercício é levado muito a sério. Nos simpósios de Geografia Urbana, os trabalhos eram analisados e debatidos em profundidade e, nesse processo crítico a reflexão se aprofundava e a pesquisa se confronta com renovados desafios. Como pensamos diferente (mas nos respeitamos), os simpósios aconteciam com discussões tão acaloradas que os recém-chegados achavam que nos odiamos e não entendiam como, depois dos debates, saímos todos rindo para almoçar ou jantar juntos. O que caracterizava o simpósio de urbana é que não havia sessões simultâneas (às vezes um ou outra mesa de comunicações, mas não era a regra) e todos participavam ativamente do simpósio inteiro juntos assistindo e participando dos debates fazendo com que a discussão fluísse de uma mesa para outra e retomada noutro dia, e mais davam origem ao simpósio seguinte. Na coordenação do GT Teoria Urbana Crítica – no Instituto de Estudos Avançados- IEA/USP – tenho estimulante contato com um grupo interdisciplinar que se matem através da troca de experiências de pesquisa em torno da compreensão da realidade urbana no movimento constitutivo de uma teoria critica mergulhando nas contradições que movem o mundo. Das contradições urgem as possibilidades de metamorfoses da vida, assim parte dos debates se realiza em torno do direto á cidade - direto à vida como momentos dialéticos da reprodução da acumulação capitalista hoje. VI. O trabalho no DG-FFLCH-USP Minha carreira, como professora, começou, na realidade, na Escola de Sociologia e Política. Um ano depois em 1982 entrei depois de minha terceira tentativa no DG-FFLCH-USP juntamente com o Tonico e neste mesmo ano dividimos uma disciplina. O ambiente que tenho vivido há quase 4 décadas no DG só pode ser definido por uma palavra: liberdade. Liberdade de ensinar do jeito que pensava, investigar com minha escolha quanto a teoria e ao método, para criar grupos de pesquisa, organizar atividades acadêmicas, trabalhar com grupos e alunos, etc. Nunca tive tolhido meu exercício de liberdade, sem a qual acredito não há possibilidade de realização de um trabalho acadêmico. E pude desempenhar algumas tarefas que acredito serem fundamentais ao meu trabalho (não sem dificuldades, mas sem obstáculos intransponíveis). Por exemplo, a partir de uma crítica que tínhamos ao programa de pós-graduação no DG, no início dos anos 80 fizemos (à época era aluna de pós e professora) um amplo movimento de discussão e debate em torno do programa de pós-graduação em Geografia. Embasados por vários seminários sobre o tema, elaboramos análises e a partir do DGUSP, mobilizamos todos os outros programas de pós no Brasil. Com o apoio do professor Rui Coelho, (então Diretor da FFLCH), Selma Castro e eu coordenamos o primeiro encontro nacional de Pós-graduação em Geografia, a partir desta primeira realização outros 3 aconteceram (Rio Claro - UNESP - Rio de Janeiro - UFRJ - Santa Catarina - UFSC). Outra atividade pioneira que me vi envolvida foi, com a organização do I (e do VII) Simpósio nacional de Geografia Urbana. O primeiro realizado em outubro de 1989, fato que surgiu a partir de uma mesa redonda que coordenei numa das sessões da SBPC do ano anterior tendo Silvana Pintaudi e Arlete Moysés como convidadas. Saímos da reunião da SBPC em 1988, acreditando que estava na hora de discutirmos a pesquisa em Geografia Urbana realizada no Brasil, e levamos a ideia para o Encontro de geógrafos da AGB que se realizou em Maceió, no mesmo ano. Ali no bar do hotel Arlete e eu nos reunimos com outros colegas – Roberto Lobato Correa, Maurício de Abreu, José Borzachilello da Silva, para discutimos a ideia e concluímos sobre a necessidade de fazermos um balanço sobre os últimos 50 anos de pesquisa em geografia Urbana brasileira. Ali mesmo fizemos um levantamento dos pesquisadores na área (em cada região do país) e começamos a fazer os convites. Cada um teria como tarefa estudar a produção geográfica sobre a cidade, de sua região - o que não era fácil. Deste primeiro simpósio saiu um livro bastante significativo. O importante é que ao longo destes anos o grupo vem aumentando a cada novo simpósio se somam novos pesquisadores. Mas há um grupo fundador (Roberto, Maurício, Pedro, Arlete, Silvana, Geiger, Aldo, Fanny e eu) que acabou, ao longo deste período, construindo uma sólida e profunda amizade que tem feito deste s encontros um momento de profundo debate e de reflexão. Outra experiência é a possibilidade de ter colocado em prática uma ideia que tinha há tempos, a de fazer uma revista de pós-graduação a GEOUSP. A revista surge inicialmente com a ideia de intercâmbio e para dar visibilidade ao conhecimento produzido e que se realizam, prioritariamente, nos cursos de pós-graduação. Afinal naquele momento nosso Departamento tinha 430 alunos matriculados em seus dois cursos de pós-graduação (sendo que 283 na área de Geografia Humana), e apresentava um volume de pesquisa não negligenciável enquanto contribuição à construção do pensamento geográfico brasileiro. Hoje a revista mudou seu perfil abrindo-se para os pesquisadores de outros lugares e temáticas. Pude ainda no DG ousar, foi assim que, em 1988 resolvi fazer um vídeo com meus alunos, a ideia era trazer para a sala de aula um conjunto de depoimentos sobre a possibilidade de se definir a geografia apoiada num conjunto de imagens sobre a metrópole de São Paulo. Era evidentemente, um trabalho amador, com muitas falhas técnicas, pois foi feito no DG com os equipamentos que dispúnhamos à época e com poucos conhecimentos técnicos sobre como faze-lo. Todavia acabou sendo um material didático usado por professores da rede estadual de ensino em São Paulo. Na universidade se associam dois momentos importantes do papel do professor aquele em que ensina e forma pessoas, cidadãos abrindo-lhe os horizontes de um mundo rico em movimentos-transformações e aqui temos a sala de aula como o locos privilegiado do exercício da crítica, da possibilidade da manifestação da diferença, num espaço de afirmação da criatividade, motivado e alimentado pela paixão pela descoberta e de estímulo à reflexão passei quase 40 anos. Esse foi o tempo dedicado à graduação. As aulas de pós-graduação não se interrompem neste momento de “aposentadoria” (iniciada no fatídico ano de 2020) e com ele o trabalho de orientação; b) o trabalho de orientação – aquele que se abre à compreensão aprofundada do mundo sobre o qual nos debruçamos como um fragmento explicativo do mundo em suas contradições e possibilidades é a forma mais estimulante de nosso trabalho As atividades realizadas tanto com os alunos de graduação quanto de pós-graduação são momentos de reflexão e aprendizado; c) com minhas pesquisas pude construir uma compreensão sobre a realidade brasileira lida através de São Paulo e com esta compreensão preparar aulas de modo a que o conhecimento aqui produzido fosse inspirador de novas leituras. A independência de um país se apresenta na sua capacidade de produzir uma leitura original do mundo em que se vive. Uma explicação produzida em suas fronteiras. Infelizmente se dá mais importância ao que se produz no exterior e sabe-se muito mais sobre o que se produz “lá fora” do que o que se cria no Brasil. Nessas três atividades – impossíveis de serem separadas - certamente aprendi muito, mas quero crer que trouxe uma contribuição em cada uma delas, que só os outros podem avaliar. Quero acrescentar alguns outros momentos que considero importante, para mim. A vida no DG também se associa, para mim, ao Labur- laboratório de geografia Humana - foi um ponto também importante de reunião de pesquisadores da Geografia e de fora, reunindo alunos da graduação e da pós, mas não necessariamente composto por estudantes da geografia, pois todas as atividades estão sempre abertas a todos, sinalizando o questionamento da disciplinaridade e o espírito público da Universidade. GESP- grupo de estudos de Geografia Urbana crítica- criado em 2001 que começou comigo e meus orientandos- reúne, hoje, diversos pesquisadores (os mesmos que eram estudantes e hoje são profissionais de muitas universidades brasileiras, da USP ou que se encontram no exterior) em torno do objetivo de desvendar os conteúdos da urbanização tendo como foco de análise os fundamentos que explicitam a desigualdade vivida concretamente no cotidiano da metrópole tendo como perspectiva a construção de uma “geografia crítica radical”. Entende-se por “crítica radical” a disciplina capaz de revelar as contradições constitutivas do processo desigual da produção contemporânea do espaço, e que, ao potencializar o “negativo” desse processo, propõe um caminho profícuo para elucidar os conteúdos não revelados da luta pelo “direito à cidade”. A proposta do GESP envolve a produção de um conhecimento sobre o urbano a cidade e o processo de urbanização como um compromisso de analisar a realidade urbana em seu movimento contraditório e enfocando os conteúdos que explicitam a desigualdade vivida concretamente, essa crítica visa a construção de um projeto de “uma outra cidade”; uma outra sociedade urbana como destino do homem; trazendo como consequência a necessidade de uma reflexão que elucide nossa época, focando a análise na reprodução sócioespacial. Pensar o mundo através da geografia. Pensar a geografia numa perspectiva critica através da compreensão da produção do espaço. Apoia-se na hipótese segundo a qual a reprodução do espaço urbano, no mundo moderno, aprofunda a contradição entre o processo de produção social do espaço e sua apropriação privada. O grupo também produz a coleção de livros metageografia. “Pelos corredores”: as cenas do cotidiano nos corredores e “na rampa” como falamos é muito diversa e rica. Nos cruzamos o tempo todo, debatemos, trocamos bibliografia e angustias sobre os destinos da universidade, da geografia e do pais e rimos juntos. Deste modo o cotidiano do DG, com nossas reuniões tem sido também um lugar profícuo de debates e tenho também aprendido muito - isto quando não descambam para o lado meramente burocrático, pois aí elas viram tortura. Mas nesses anos todos tenho me sentido parte de uma "comunidade" de diferentes. Nos primeiros anos, todavia, foi muito difícil, e neste momento foi de fundamental importância os logos "papos" com o Bocchicchio, a acolhida sem reservas das conversas com o professor Pasquale Petroni e sem dúvida as conversas e os conselhos do professor Carlos Augusto, com quem aprendi a fazer relatório. Frequentadora assídua da sala do professor, tive o privilégio de ouvi-lo falar sempre com entusiasmo sobre seu trabalho e de suas análises sobre geografia, literatura e arte. Mesmo aposentado, em suas votas ao DG, tenho o privilégio dos encontros com ele. VII – Contribuições? Isso normalmente eu deixo para os outros. Isto é, nossas contribuições devem ser medidas-avaliadas por aqueles que entram em contato com nosso trabalho e nos leem. Nenhum de nós pode fugir dessa situação de ser avaliado. Mas seguindo à risca a solicitação que me foi feita posso elencar a construção de dois movimentos de minha investigação que penso serem originais e podem induzir ao debate. Posso também me lembrar do que fiz com paixão e que penso estão aí rendendo frutos, pois fazem parte do presente. Destas destaco as ideias iniciais de construção de um encontro de pós-graduação – realizado com Selma Castro, antes da criação da ANPEGE, mas que deu origem à ANPEGE; a criação da GEOUSP, cujo trabalho inicial divido com Rita Ariza da Cruz ainda estudante que me ajudou nos 20 anos de minha coordenação assumindo quando saí da mesma; e a ideia inicial de realização de um simpósio para discutir as pesquisas em geografia Urbana, cujo esboço realizado na reunião da AGB de Aracaju, deu origem ao primeiro SIMPURB organizado na USP, em 1989. E finalmente, foi minha a ideia de criação do GEU, grupo de estudos Urbanos; bem como do GESP e do Grupo de teoria Urbana Critica do Instituto de Estudos Avançados da USP. A estas atividades posso acrescentar um conjunto grande de livros organizados. E aqui quero fazer uma ressalva. As organizações destas obras não se reduzem a reunião de autores compondo uma obra, mas a ideia de que a produção do conhecimento e coletiva e de que a reunião e o debate de pessoas pensando o mundo de forma convergente – dando visibilidade a um pensamento residual-ou divergente a reunião critica de tendências é importante para mover o pensamento e a pesquisa- o que desfaz a ideia de organização como simples reunião. Como exemplo, cito: a) o livro “A produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios” (publicado pela Contexto, São Paulo: 2011) organizado junto com Marcelo Lopes de Souza e Maria Encarnação B. Sposito) feito pelo GEU (aonde publiquei o capitulo: Da ”organização à produção do espaço no movimento do pensamento geográfico”); b) a partir de debates com os autores tanto da ideia do livro quanto dos textos publicados, a coleção metageografia - composta de 4 livros e um dossiê na GEOUSP- onde se estabelece uma leitura marxista-lefevriana da cidade e do urbano produto de um grupo de estudos. “Crise urbana”, volume 1 São Paulo: Contexto, 2015 (edição em inglês: “TheUrban crises”. São Paulo: Contexto, 2015, e-book) - site: www.gesp.fflch.usp.br (em inglês); “A cidade como negócio”, Editora Contexto, volume 2 São Paulo:2015 Edição em inglês - Edições FFLCH - editora eletrônica - site: www.gesp.fflch.usp.br ; “Justiça espacial e o direto à cidade”, volume3, Editora Contexto, São Paulo:2017; “ Geografia Urbana Crítica: teoria e método”, volume 4 Editora Contexto: São Paulo2018. Dossiê “Henri Lefebvre e a problemática urbana” in GEOUSP, GEOUSP Espaço e Tempo (Online), [S. l.], v. 23, n. 3, p. 453-457, 2019. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/164015; c) os 3 volumes da coleção Geografias de São Paulo produzido pelos professores do DG-USP visando apresentar a partir de suas pesquisas uma análise da metrópole de São Paulo na data de seus 450 anos de fundação (Carlos, Ana Fani A e Oliveira, A.U de (org), Geografias de São Paulo: 2 volumes Editora Contexto, São Paulo, 2004).Aqui publiquei capitulo em que apresento o movimento de passagem da hegemonia do capital industrial ao financeiro como elemento definidor de uma nova realidade urbana (São Paulo :do capital industrial ao capital financeiro, volume 2 – A metrópole do século XXI); d) dando visibilidade a pesquisa de professores do mesmo DG-FFLCH-USP entorno da ideia de “necessidade da Geografia” no mundo de hoje (“A necessidade da geografia, Editora Contexto, São Paulo, 2019).; e) há ainda livros organizados como produto de debates acadêmicos realizados a partir de convênios de investigadores, como os dois realizados com a Universidade de Barcelona, destes cito Urbanização e Mundialização: estudos sobre a metrópole, (Contexto, São Paulo,2004), aonde está meu capitulo “A reprodução da cidade como negócio”); f) Dos livros organizados como reunião de pesquisas, apresentadas em evento, cito três livros produtos dos SIMPURBs nos quais participei da organização: “Caminhos da reflexão sobre a Cidade e o urbano” (EDUSP, São Paulo, 1994), “Dilemas Urbanos” Com Amália Inês Geraiges Lemos, Contexto São Paulo, 2003; “Geografia Urbana: desafios contemporâneos” com Angelo Serpa, EDUFBA, Salvador,2018). Ainda seria ainda importante ressaltar meu trabalho no tema do ensino da geografia. Destaco: a) participação no projeto do DG-FFLCH /Secretaria da educação de São Paulo no programa de formação e professores, coordenado pelo professor Gil Sodero de Toledo, nos anos 80 em que viajávamos pelo Estado de São Paulo ministrando cursos. Desse conteúdo ministrado produzi dois livros paradidáticos publicados pela Editora Contexto Espaço e Industria (1988) e A cidade (1992) além da coordenação de vários livros voltados ao Ensino da Geografia como “A geografia na sala de Aula”, “Novos caminhos da Geografia” e “Reformas no mundo da Educação, todos de 1999; b) coordenação de cursos versando sobre o Ensino da geografia em várias versões da “ Bienal do livro” em São Paulo a convite da Câmara Brasileira do Livro aonde pude conviver com vários colegas como Aziz Ab´Saber, Manuel Correia de Andrade, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Nidia Pontuchka, dentre outros. 7.1 Contribuições no âmbito do pensamento geográfico As pesquisas realizadas ao longo de minha vida acadêmica visam à construção não só de uma compreensão sobre a realidade brasileira no movimento constitutivo da sociedade urbana – lida a partir de São Paulo- como a elaboração de uma teoria capaz de revelar uma “leitura do mundo” através da Geografia como disciplina. Assim cheguei à construção do conceito sobre o espaço no âmbito da Geografia a partir de minhas angustias de formanda, como apontei antes. Faz-se, para mim necessário iniciar com um esclarecimento importante: essa construção conceitual se tece tendo por fundamento a obra de Marx e antecede minhas leituras da obra de Lefebvre e, portanto, seus conteúdos e percursos são diferentes – há, todavia divergências e encontros e o dado interessante de que estávamos eu e Lefebvre nos debruçando sobre os conteúdos da “produção do espaço” quase no mesmo momento: ele publica o livro em 1974, minha dissertação em 1978 e eu entro em contato com a obra de Henri Lefebvre somente em 1986, no curso do professor José de Souza Martins. Foram longas horas e inúmeros dias na biblioteca das Ciências sociais da USP nos anos de 1975-1977 quando elaborava minha Dissertação de mestrado “reflexões sobre o espaço geográfico” defendida em 1979 que me debrucei sobre uma bibliografia completamente nova e difícil sobre a formulação “do conceito de espaço”: da filosofia até Einstein o caminho foi tortuoso e sofrido. O ponto de partida, todavia foi à leitura dos chamados clássicos da geografia francesa de minha formação uspiana. O debate sobre o espaço atravessa a Geografia e é chocante ainda ouvir colegas afirmarem que o debate sobre a produção do espaço foi introduzida por Henri Lefebvre, à Geografia e não construída no desenvolvimento do próprio pensamento geográfico, como desdobramento necessário. Talvez o mergulho no conceito – mais restrito- de território tenha impedido essa compreensão. O conceito de produção do espaço se desdobra, em minha formulação da relação homem-natureza como ato civilizatório, superando a compreensão de uma Geografia centrada na localização e distribuição das atividades e dos homens no espaço ou no território em direção à análise da produção deste espaço como produto social e histórico. Corresponde a uma prática socioespacial real que se revela produtora dos lugares, e que encerra em sua natureza um conteúdo social dado pelas relações sociais que se realizam em espaços-tempos determinados. Na escala do lugar, ilumina a existência de uma vida cotidiana na qual se manifesta a vida. Assim, o pressuposto: as relações sociais têm uma existência real enquanto existência espacial concreta que trazem como consequência sua produção: produzem, efetivamente, um espaço, aí se inscrevendo e se realizando. Desse modo, a elaboração do conceito tem uma dimensão abstrata, mas indissociavelmente vinculada à práxis humana que se define como socioespacial. Nesta perspectiva, o espaço produz-se e reproduz-se como materialidade indissociável da realização da vida, elemento constitutivo da identidade social, como processo civilizatório. A formulação do conceito tem como conteúdo a tríade aonde a produção do espaço como movimento do mundo é a condição, meio e produto da reprodução da sociedade ao longo da história. A tríade se constrói no movimento do método que dá centralidade a noção de produção social do espaço como desdobramento da relação sujeito-objeto. A produção do espaço, enquanto condição/meio e produto da sociedade aponta novos conteúdos ao abrir o pensamento a totalidade social. A tríade revela a reprodução social bem como a espacialidade das relações sociais. Parece muito claro ao longo da produção do conhecimento geográfico, a ideia de que não existe sociedade a-espacial (Milton Santos, 1979, Di Méo,2000, Carlos, 2011) todavia a Geografia parece ainda não ter superado a condição da materialidade absoluta do espaço, impedindo a consideração da teoria social. Considerando que a produção do espaço traz como consequência sua reprodução, deparamo-nos com a necessidade de pensar o movimento da história que a explicite e, nesse sentido, a noção de reprodução se desdobra daquela de produção decorrente da necessidade de compreensão do movimento constante da realização da sociedade (o que não significa só linearidade, mas fundamentalmente, simultaneidade; relação dialética entre o tempo cíclico e o tempo linear; entre continuidade e descontinuidade; entre ruptura e crise; centralidade/periferia; concentração/dispersão; obrigando-nos a pensar os termos da reprodução da sociedade hoje (sob a égide da reprodução capitalista) em suas possibilidades e limites definidos. Neste conteúdo, sujeito e objeto vão se revelando. O espaço como condição envolve e supera a ideia de materialidade. Certamente as atividades humanas se distribuem no espaço, mas há relações sociais ao mesmo tempo a atividade envolve um conjunto de ações e uma dialética espaço-tempo. O espaço como condição da produção social aponta para a dimensão material. Isto é o espaço como materialidade envolvendo necessidades/ representações/desejos; relações de classe e poder que percorrem todo o processo. Materialidade envolve o movimento da história – o trabalho morto acumulado pelo processo de transformação constante da natureza em espaço humano da reprodução deste espaço ao longo do processo histórico – trabalho acumulado da sociedade produtora do espaço contempla acúmulos construídos pelos tempos passados do trabalho e da ação prática dos homens restituídos/presentificados/atualizados como infraestrutura que são também produtos do conhecimento e das representações de mundo. Mas essa dinâmica espacial realiza-se numa estrutura, tem uma forma; adquire funções individualizadas dependendo do tempo. Portanto essa dimensão material contempla planos e níveis que se relativizam, isto é, não é um mero espaço construído. Há simultaneidade/dialética na produção e reprodução; mas há também uma escala a ser pensada em articulação de escalas espaço-temporais. Reunidas todas as qualidades aparecem como diferenciação/desigualdade dos lugares e entre esses mesmos lugares no tempo marcando diferenças nas escalas espaço-temporais. Envolvem uma totalidade que foge do material para incorporar o universo dos sujeitos produtores em sua relação com esta materialidade. Como condição o espaço adquiri também a forma e função de capital fixo para a reprodução da acumulação. b) como meio o espaço é mediação na ação que produz a vida que revela a sociedade em ato. É a atividade como conhecimento/técnica/divisão social. A relação com a natureza não é direta requer mediações – trabalho, conhecimento, técnica, divisão, representação, etc. Envolve pensar o sentido estrito e lato do termo produção bem como aquela de produto como obra. Por outro lado, as relações comportam escalas – no e do espaço e no e do tempo. A Produção da cidade ilumina/esclarece representações da sociedade sobre o mundo que por sua vez tem um sentido politico, quer dizer relações com interesse de classe. c) como produto - A cidade como forma do trabalho humano, momento indissociável da produção do espaço significa, o que sintetiza o produto das relações sociais e suas determinações históricas. Como terceiro termo da tríade revelar-se-ia o mundo e a realidade social em suas contradições, limites e possibilidades. As contradições que surgem dessa produção se revelam no produto: segregação socioespacial; privação; lutas e projeto – todos situando-se na práxis. O livro “A condição espacial” (Editora Contexto, São Paulo: 2011) sintetiza essa construção (outras publicações: anafani.com.br). Esse conceito de espaço como produção social tem também norteado minhas reflexões sobre o turismo no movimento da realidade que produz o espaço como mercadoria a partir da venda de uma particularidade natural, cultural ou construída artificialmente. Cito, aqui, dois capítulos de livro daqueles que mais gostei de escrever: a) O turismo e a produção do não-lugar” in Turismo: espaço, paisagem e cultura que organizo junto com os professores Eduardo Yázigi e Rita de Cássia Ariza da Cruz (HUCITEC, São Paulo, 1996) e “Turismo e patrimônio: um aporte geográfico” In Geografia, Turismo e Patrimônio Cultural: identidades e ideologias (Anablume, São Paulo, 2017 a convite da professora Maria Tereza Duarte Paes. 7.1.2 A metageografia (ou “geografia marxista-lefevriana” como definiu Maurício de Abreu) Como consequência deste caminho de produção sobre uma teoria do “espaço da geografia” (sintetizado no capítulo “ Uma geografia do espaço” no livro A necessidade da geografia, Contexto, São Paulo: 2019) e do debate com os autores da geografia construí o que venho chamando de “metageografia” que se revela como um momento de exigência do pensamento crítico a partir da crítica à produção do conhecimento da Geografia baseada na necessidade de construção de uma nova inteligibilidade do mundo iluminando as contradições vividas pela sociedade que aparecem na vida cotidiana como privação dando centralidade ao conceito de “produção do espaço”, uma vez que é no espaço que se pode ler as possibilidades concretas de realização da sociedade, bem como suas contradições que aparecem nas lutas no espaço, pelo espaço. A construção de um pensamento crítico sobre a produção do espaço no mundo moderno revela o aprofundamento das contradições decorrentes da reprodução da sociedade, num momento de generalização da urbanização, da passagem da hegemonia do capital industrial ao capital financeiro e de uma sociedade eminentemente urbana. O método dialético, como caminho do pensamento que compreende o mundo, ilumina o laço entre teoria-prática em suas contradições, deslocando a análise do plano da epistemologia para o da prática, com redefinição dos conteúdos de alguns conceitos objetivando desvendar o “campo cego” sob o qual se realiza a investigação urbana. Neste sentido, a metageografia, propõe: a) uma nova inteligibilidade que fornece um ponto de partida para a reflexão, o movimento contraditório da realidade que funda a dialética do mundo. Esse delineamento busca, como horizonte de pesquisa e como percurso teórico-metodológico, elucidar os fundamentos do movimento que explica a realidade atual, que se realiza, também, como movimento do pensamento crítico; b) um caminho capaz de realizar o movimento, no plano do pensamento geográfico, que vai da "organização do espaço" à análise de sua "produção social". Essa orientação traz exigências teóricas que redirecionam a pesquisa, focando um mundo construído socialmente – isto é o espaço como produção história e social através da realização da criação do humano; c) a análise das contradições que eclodem sob a forma de lutas no espaço e pelo espaço, com aumento de tensões de todos os tipos que escancaram uma vida cotidiana em sua privação, controlada e vigiada. A compreensão da práxis encontra aí os resíduos capazes de ganhar potencialidade e se transformar num projeto de metamorfose da realidade; d) a consideração dos resíduos presentes nas ações cotidianas com potencialidade para superar as condições de privação. No plano do conhecimento propõe-se a superação da sua produção ideológica que permite a reprodução do sistema e de suas especializações. Como exigência teórica , a metageografia se propõe superar: a) a redução da problemática urbana àquela da gestão pública da cidade e a insuficiencia da crítica da proposta da “gestão democrática” ao empreendedorismo urbano (“La utopía de la Gestión Democrática de la Ciudad. Scripta Nova (Barcelona), Barcelona, v. 9, n.194, 2005 ou “A ilusão da transparência do espaço e a fé cega no planejamento in Revista Cidades vol 6.10, Presidente Prudente 2004) ; b) a compreensão da cidade enquanto quadro físico, ambiente construido criando políticas públicas que reproduzem as condições de privação do humano; c) a interpretação da cidade enquanto sujeito de ação que domina a investigação urbana- (“Seriam as ciudades rebeldes in Geografia Urbana: 30 anos de SIMPURB, Editora Consequência,RJ,2020) ; d) a existência de uma renda da terra urbana (A condição Espacial, op cit) e) o obscurecimento da propriedade e ausência de critica à “ função social da propriedade” ( A privação do urbano e o direto à cidade em Henri Lefebvre, in Justiça Espacial e o direito à cidade, op cit); f) o entendimento da cidade reduzida a uma escala de tamanho; g) a segregação tratada como apartamentos/separações des grupos sociais no espaço da cidade (“Geografia crítica radical e a teoria urbana” in Geografia Urbana Crítica, op cit) ; h) a violência urbana tratada como criminalidade (“Epacaio urbano y violência” in Violencia y desigualdad Neuva Sociedade, ADLAF, Buenos Aires, 2017); i) o turismo que encobre o consumo dos lugares na cidade em função de uma determinação histórica esvaziada (acima citado); j) o direto à cidade tornado política pública e a perda do horizonte utópico (“Em nome da cidade (e da propriedade in anais geocritica, ww.edu.geocrit, xivanafani). Nos dias de hoje, o sentido da crítica e do pensamento crítico se associa a uma crise prática real, produto das metamorfoses do mundo moderno, em que a lógica do crescimento – sob várias representações, como aquela do progresso (que funda a ideia de qualidade de vida) - produziu o aumento da riqueza gerada em lugares e classes concentradas no espaço e na sociedade. No caminho aqui proposto, a análise geográfica do mundo seria aquela que caminharia na direção do desvendamento dos processos constitutivos da reprodução da sociedade em sua dimensão espacial aonde as contradições exigem outras respostas de superação que a exigência as políticas públicas não responderiam. A superação das condições que imobilizam a realização do humano se realizaria pela construção de um “direto ao espaço” em confronto com o projeto do Estado e das políticas e projetos que o sustentam – sob diversas formas - revelando a dominação do Estado e de sua lógica sobre a sociedade; c) pensar o caminho para a transformação radical da sociedade sinaliza a construção de uma crítica radical do existente como de, através do ato de conhecer, desvendar os significados mais profundos das condições que impedem este mundo de se efetivar enquanto lugar da realização plena da humanidade. Penso que esse caminho da produção de uma teoria sobre o espaço e a análise metageografia se encontra esclarecida no livro, “Espaço-tempo da vida cotidiana na metrópole”, menção honrosa Jaboti, editado em sua primeira versão pela Editora Contexto, São Paulo, 2001 e em versão corrigida, online, de 2018 http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/388 O mundo se move e nós nos transformamos todos os dias, e assim, como assinala Arteau, tudo que ainda não nasceu pode vir a nascer, desde que não nos contentemos em ser simples órgãos de registro. (Antonin Arteau, “O teatro e seu duplo”, São Paulo Martins Fontes, 2006). A compreensão radical e necessária do mundo é uma forma de luta, portanto um posicionamento político. Notas 1 - Marcel Proust, À sombra das raparigas em flor, tradução Mario Quintana, Rio de Janeiro, Editora Globo, 1987, página 12 2 - Dostoiewsky, Notas do Subsolo, página 40
ANA FANI ALESSANDRI CARLOS Pinceladas de uma autobiografia Ana Fani Alessandri Carlos Como um viajante a procura das cores, sons e cheiros dos lugares sairei em busca de "minha história". Mas recuar no tempo exige uma direção. Um questionário enviado para esta tarefa traz uma sequência possível, mas temo ter tomado muita liberdade. Com alguns acréscimos, sem muita imaginação, retomo aqui dois textos escritos: Meu memorial do Concurso de professor Titular em Geografia DG-FFLCH-USP realizado em 2004 e meu texto de apresentação no “Seminário de Geocritica” quando recebi o “Prêmio Geocritica” das mãos do professor Horário Capel (Pensar el mundo a través de la geografia: un camino recorrido en la construcción de una "geografia posible"). Conferência realizada quando da outorga do premio Geografia Critica de 2012 e publicada nos Anais do evento: http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas.htm/. Em ambos, todavia arremato fragmentos de lembranças – um flanar à toa pelo passado - por isso mesmo tortuoso e cheio de imbricações, alguns atalhos, becos sem saída. Fragmentos que se constituem de momentos reais e concretos contemplando um passado delineado e prontamente, reconhecido de uma memória seletiva e, portanto, aleatórios (o que para mim é um mistério). Posso começar com uma confissão! No ginásio detestava a Geografia. Dona Elza nos fazia decorar nomes de rios e capitais, num estilo terrorista. Até hoje embaralho o nome das capitais nordestinas e dos afluentes do rio Amazonas. Fui salva pelo professor Pedro Paulo Perides no curso clássico no colégio de Aplicação da USP, que me mostrou as possibilidades abertas pela disciplina. Hoje, ao contrário, a Geografia, para mim, é “pura paixão” e aparece como um desafio enquanto possibilidade de pensar o mundo em sua dinâmica transformadora e um exercício de liberdade. Minha vida não se separa da Geografia a não ser nos meus primeiros anos que duraram até o clássico. A Geografia, claro não foi uma opção muito bem aceita na casa paterna, mas tão pouco questionada. Como era muito estudiosa, meu pai descortinava para a filha um futuro com um diploma de doutor. Diploma este que pude um dia lhe mostrar. O que me motiva na vida? O ato de descobrir, de querer saber mais sobre tudo o que vejo. Uma verdadeira tragédia, pois nunca me sinto completamente satisfeita! Na realidade o que me motiva é o desejo de experimentar que vem acompanhado pela consciência de minhas limitações. Há tanto ainda que ler, aprender, investigar, que uma vida é muito pouco. Nesse caso me consola a ideia do professor Petroni segundo a qual “quando achamos que sabemos tudo, estamos, na realidade mortos”. Nesse sentido o que me move é essa busca infindável pelo conhecimento. A liberdade na possibilidade da criação que fascina e aqui se liga a ideia de aventura que ilumina a busca. Acho que é assim que me defino; uma pessoa inquieta, ávida de conhecimento, sempre em busca de algo, às vezes, difícil de definir. Numa tarde de sábado, enquanto escrevia meu memorial de livre docência, ouvi de meu marido ao fechar o notebook falar pra mim “avancei muito, mas ainda sei muito pouco“. Essas palavras sintetizaram meus sentimentos. Minha ansiedade nesta busca incessante me imerge na angústia e no terror, pois ela transcende a Geografia para me colocar diante da criação humana do mundo e de como, ao longo do tempo esse mundo, em constante construção foi pensado e imaginado. Proust elucida a questão quando afirma que há uma diferença "entre a ardente certeza dos grandes criadores e a cruel inquietação do pesquisador"¹ . Talvez seja por isso que minhas leituras me conduzem/ expulsam do estrito limite do que se chama Geografia para me debruçar sobre muitos campos disciplinares, inclusive na arte (desenvolvi um projeto no CNPq num diálogo entre a “geografia e a arte”). Para mim me consola a ideia de que a segurança é sinônimo de aprisionamento e que a verdadeira liberdade é aquela que nos permite ousar; pois quando tudo estiver explicado, quando tudo for posto em ordem e fixado de antemão, então evidentemente, não haverá mais lugar para o que se chama desejo. Assim poder pensar, estudar, imaginar como a geografia pode construir uma explicação do mundo tão turbulento, dinâmico e complexo sem a criação de modelos prontos e acabados, é, para mim, um exercício de liberdade, o desejo². I. São Paulo, minha cidade, onde nasci, vivi e vivo... “situada num planalto 2700 pés acima do mar E distando 79 quilômetros de Santos Ela é uma glória da América contemporânea A sua sanidade é perfeita O clima brando E se tornou notável Pela beleza fora do comum Da sua construção e da sua flora Anúncio de São Paulo, Oswald de Andrade Na linearidade do tempo, nasci – 22 de maio de 1952- no seio de uma família de imigrantes do norte da Itália que tentavam a sorte em São Paulo, como tantos outros. Na Barra Funda passei as duas primeiras décadas de vida e foi um período tão marcante, tão profundamente vivido nas ruas do bairro (onde aconteciam as brincadeiras e todos os trajetos eram feitos a pé) numa relação tão íntima com meus vizinhos, permeado de momentos tão lúdicos que até hoje, quando penso na minha identidade, é a Barra Funda que me vem à mente, mesmo se hoje ela não se parece, em nada, com a Barra Funda de minha infância e adolescência. Morava numa das casas de uma vila construída pelo "nonno" anos depois de ter chegado com a família da Itália, ele era de Lucca, minha nonna nascida no Vêneto. As ruas de minha infância na cidade de São Paulo dos anos 50 – início dos 60 era marcada pelo burburinho das vozes das crianças que saíam às ruas, com suas bolas, "carrinhos de rolemã", cordas, patinetes, festejando de tempos em tempos a passagem do "homem da machadinha", (aquele doce rosa e branco duro e açucarado que fazia a alegria de crianças e dentistas e era o terror dos pais); o homem do picolé, ou ainda o homem que trazia uma lata redonda nas costas e um "instrumento barulhento" na mão vendendo bijou; o lindo som do realejo...situações estas, que parecem não ter mais lugar na metrópole do século XXI. Minha rua, a mesma de Mario de Andrade “Nesta rua Lopes Chaves Envelheço envergonhado Nem sei quem foi Lopes Chaves ... Ser esquecido e ignorado Como o nome dessas ruas. Minha casa, onde morávamos eu, meus 2 irmãos, meus pais e os nonos do lado paternos se situava no número 123, da rua Lopes Chaves. Mais tarde descobri que Mario de Andrade ali havia vivido, numa carta recebida de um antigo professor de literatura que, ao escrever para meu endereço, não se conteve em falar que este lhe lembrava do grande escritor. Se hoje o novo engole, incessantemente, as formas onde se escreve o passado de modo veloz; as mudanças no bairro vislumbradas, no período de minha adolescência eram lentas e graduais e não chegavam a produzir traumas. Vivíamos o tempo cíclico na vida cotidiana entre casa, a escola (próxima de casa) e o lazer na rua depois das “lições de casa” que aos poucos foi invadido pelo tempo linear. Junto comigo, o bairro ia crescendo e se transformava, mas antes, ia se modificando a vida das pessoas. Eu brincava nas ruas do bairro com minhas amigas, e aos poucos, os carros teimavam em tomar o lugar das nossas brincadeiras. As cadeiras que tomavam conta das calçadas, ocupadas por nossos pais, teimavam em desaparecer. A chegada da televisão no bairro enchia a todos de curiosidade e colocava os adultos diante da telinha que teimava em não “retrucar“. No começo ela não acabava com os encontros dos vizinhos, lembro-me que, como a minha casa era uma das poucas a apresentar a novidade, é para lá que alguns vizinhos se dirigiam depois do jantar e a sala se enchia de gente. Mas em pouco tempo a televisão prendeu cada um na sua sala sozinho, assistindo a sua televisão, sem olhar para o lado ou conversar com ninguém abrandando as relações de vizinhança. Outro ponto importante da vida do bairro italiano que se perdeu eram os encontros nas esquinas nas portas dos bares para a conversa depois do jantar e que iluminavam as ruas. A atenuação da sociabilidade ia aos poucos sendo marcada pelo fim de atividades que aconteciam nos bairros, com o fim das relações de vizinhança provocada pela televisão. As ruas iam se tornando perigosas pelo adensamento dos automóveis, tirando as crianças das calçadas. Mas as mudanças iam atacando o tempo cíclico. Penso no fim das procissões, onde todos se encontravam e percorriam as ruas do bairro com uma vela na mão, iluminado o percurso; o fim das quermesses que marcavam o período das festas juninas e suas fogueiras que esquentavam as noites de inverno; o fim do “cordão do camisa verde e branco” que à época do carnaval usava as ruas do bairro como palco de seu ensaio - trazendo atrás de si várias crianças e adolescentes. Transformado em escola de samba passou a ensaiar, para o carnaval, numa quadra fechada e com ingressos pagos. Nos dias de Carnaval não há mais o agrupamento de moradores na Rua Conselheiro Brotero para ver as fantasias dos integrantes da escola, saindo para o desfile. Como os bairros centrais da metrópole a Barra Funda também implodiu, e muitas casas deram seus lugares para outros usos. Estamos hoje muito distantes da paisagem descrita por Mário de Andrade em Paulicéia Desvairada e Lira Paulistana onde São Paulo ainda aparecia calma e a garoa ainda era sua marca. Na casa de minha avó materna (em frente à vila onde morava) está instalada, hoje, a doceira Dulca (construída através do remembramento de dois antigos terrenos ocupados por casas construídas nas primeiras décadas do século XX). A vila, onde morei, ainda está lá, não foi derrubada, mas arrasada, sem vida alguma. A farmácia da esquina com sua decoração do início de século, toda em madeira, balcão de mármore, portas de vidro branco desenhados, e chão quadriculado em branco e preto, deu seu lugar a uma loja de automóveis. Não sei no que se transformou o "armarinho" grande e colorido pela profusão das linhas e lãs que decoravam as prateleiras; como minha nonna fazia crochê, íamos lá com frequência. Na charutaria do seu Diogo, em meio a um cheiro que penetrava na narina de forma agressiva aonde comprava uma parte dos artigos de papelaria que precisava, deixou de existir há muito tempo. O açougue do seu Duílio também não existe mais, tanto quanto a linguiçaria, a sapataria, a tinturaria, a padaria. Mas o que mesmo senti falta foi da Dan Top, a fábrica de chocolates que ficava na rua Barra Funda inundando-a com um cheiro delicioso (que até hoje pareço sentir, como lembrança de um dos cheiros da infância) quando por lá passava com minha mãe e minha irmã. Hoje, nem a Kopegnagen com seu "dona benta" consegue reproduzir "aquele maravilhoso gosto da infância" (ou será que o gosto era mesmo ruim, mais, na infância os cheiros e gostos ganham dimensões especiais). Também não existe mais a casa Di Piero, um pastifício que funcionava na mesma rua com suas paredes cobertas de gavetas com tampo de vidro, mostrando uma infindável quantidade de "formas de macarrão" feitas nos fundos e abastecendo as cozinhas para o "almoço das macarronadas das quartas e dos domingos", e das sopas servidas no jantar do cardápio italiano de minha família. O depósito onde comprávamos Tubaína (os refrigerantes eram mais caro) aos sábados (o refrigerante só era permitido nos finais de semana, nos outros dias uma gota de vinho e açúcar, na água, acompanhava a refeição da garotada), também, há muito tempo, não existe. As ruas, antes arborizadas e silenciosas, perderam a cor, e foram invadidas pelos carros, estacionados em todas as suas extensões de suas guias. O tráfego de veículos também se intensificou. A quantidade de carros contrasta com a ausência das crianças e dos moradores. Mudou, fundamentalmente, os cheiros, as cores, os ruídos, há uma imensa ausência (se é que se pode quantificar a ausência). O espaço lúdico se tornou uma "coisa estranha". Foi, não é mais. Lembro-me aqui do o filme Avalon (dir Berry Levinson,1990) e da música Peramore de Zizi Posi (1997, aonde as mudanças nas formas urbanas, sustentadoras da identidade, ao desaparecem dá a sensação de que, sem elas, “nunca tivemos existido”. Nesse sentido, o passado enquanto experiência e sentido daquilo que produz o presente se perde enquanto o futuro se esfuma na velocidade do tempo da transformação das formas. Parece haver uma urgência, neste processo. Vejo São Paulo se transformando ao longo de minha vida. As ruas dos bairros centrais se esvaziam as da periferia agora correm o mesmo risco com as milícias e o narcotráfico que vieram normatizar e impor sua lógica àquela de uma área marcada pela violência do processo de urbanização poupador de mão de obra, feito com altas taxas de exploração de força de trabalho que expulsou para a mancha periférica os trabalhadores. Hoje a periferia é mais complexa, nas franjas da metrópole, as ações do imobiliário em busca de terrenos escasso na macha urbana vem construindo grandes condomínios fechados por altos muros, segurança ameaçadora com limites bem definidos. Das brincadeiras e da prática de esportes, sem uniforme e regras rígidas, praticadas nas ruas e em lugares improvisados, me vi agora praticando vôlei e tênis em clubes fechados. Os esportes fazem parte de minha vida e são momentos importantes e uma forma de arte que se revela em movimentos criativos e expressivos e como sou um pouco obsessiva vejo-os também como momentos de aprendizado – adoro aprimorar meus movimentos - além de fazer amigos, rir muito e relaxar. Tenho um time de vôlei (que, evidente se renova) há mais de 30 anos, participando, inclusive de campeonatos; além de jogar tênis – já neste esporte sou bem melhor- pelo menos é o que detecto dos gritos do treinador de vôlei. II. Rupturas Dois fatos marcaram minha formação. O ingresso no colégio de Aplicação da FFLCH foi decisivo abrindo novas e abrangentes perspectivas. Ali o debate "corria solto". Os alunos eram instigados o tempo todo a participar das aulas. Queria morrer quando ali cheguei depois de um árduo exame de admissão baseada numa música de Chico Buarque! Morri! Eu que vinha de um colégio tradicional tinha dificuldades em entender como as coisas aconteciam na sala de aula. Em primeiro lugar todos os alunos participavam das aulas, traziam sugestões, debatiam, criticavam, enfim não aceitavam facilmente as ideias apresentadas o que de início me deixava aturdida. Era estimulante, mas também assustador, para uma pessoa tímida que vinha de uma família operária, que havia estudado em colégio de freiras e pertencia a uma classe diferente dos outros alunos. Acho que foi essa diferença que uniu, profundamente, os “iguais”: Amélia, Tânia (ambas descendentes de famílias de migrantes italianas e também moradoras na Barra Funda, como eu), Lucienne e Silmara, com quem havíamos cruzado no ginásio egressas do colégio Macedo Soares. As leituras também eram outras e discutíamos o que se passava no mundo real, nos fazendo mergulhar nos momentos difíceis que marcava aquele final de década de 60. A ditadura militar, o AI5, a perda das liberdades individuais, a censura nos jornais (o Estadão vivia enchendo suas páginas com receitas e mais receitas de bolo no lugar aonde os sensores faziam seus cortes); houve um ano em que assistíamos aula com 2 guardas na porta com metralhadora (o colégio era perigoso para o regime militar). Vivíamos intensamente este momento em que os debates ocorriam à solta, os livros eram escondidos, e a união era uma forma de resistência. O teatro também passa a fazer parte da minha vida, as aulas de teatro eram estimulantes e a frequência ao teatro, até então fora de meu universo (até então só tinha visto Édipo Rei numa das últimas apresentações de Cacilda Becker), criou novas perspectivas. Cheguei mesmo a fazer parte de um grupo que escreveu uma peça de teatro a partir de um livro de Campos de Carvalho, "O púcaro búlgaro". Nos finais de semana tínhamos ensaio com Antônio Fagundes e frequentávamos a casa de Sílvio Zilber. Aprendemos a trabalhar em grupo (e aqui construímos um grupo (mencionado, acima, que acabou atravessando a vida, penetrando outros momentos, e que existe até hoje, intensamente)). Varávamos noites deliciosas (barulhentas e com muitos petiscos deliciosos que a Tânia trazia da padaria do seu pai) fazendo trabalhos uns mais interessantes que o outro. Durante muitos anos fomos absolutamente inseparáveis na escola, nos cursos de francês (na Aliança Francesa), depois na faculdade, fizemos teatro juntas, saíamos à noite, tudo que fazíamos, parecia ter o sentido novo da descoberta. O universo do diálogo criado nas salas de aula, as aulas, nossas noitadas, eram ricas e estimulantes e marcaram uma adolescência diferenciada: mais intelectualizada. Uma adolescência diferente. Tão novo e estimulante quanto o Aplicação foram os 18 anos (1976 a 1993) que participei do grupo de pós-graduação coordenado pelo professor José de Souza Martins no Departamento de Sociologia. Naquelas "manhãs de sextas-feiras", criou-se ao longo do tempo, uma amizade e carinho muito grande, todos os que ficaram foram profundamente influenciados pelos debates a partir das leituras que fizemos e que não eram poucas. Durante 12 anos lemos as obras de Marx (quase todas) depois as de Henri Lefebvre (algumas). Nossa formação ganhou profundidade, nos formamos nesses 18 anos e a partir daí formamos os nossos alunos, na mesma direção teórico-metodológica. Com o professor Martins aprendemos a ler criticamente um texto, a debatê-lo em profundidade, fomos contaminados por sua preocupação teórico-metodológica e com sua seriedade. De Marx começamos lendo o Capital (primeiro na edição do Fondo de Cultura do México, depois anos mais tarde relemos na versão da Siglo XXI - edição crítica, mais completa, cheia de notas preciosas); o capítulo inédito do capital; depois lemos Os Grundrisse, As teorias da mais valia, A Miséria da filosofia, Os manuscritos econômicos e filosóficos, A questão judaica e o 18 Brumário. "Encerrada esta etapa, decidimos em conjunto que ela deveria ter desdobramento e continuidade na leitura de um marxista contemporâneo de envergadura clássica" escreve modestamente Martins na apresentação do livro "Henri Lefebvre e o retorno a dialética". Na realidade foi o mestre quem sugeria a leitura de Henri Lefebvre. À época dizia que Lefebvre era um marxista sério que tentava percorrer o caminho de Marx diante das interrogações da história, um conhecimento que interrogasse a realidade e que a superasse; e alertava: não de forma petrificada. Lefebvre era-nos apresentado também como um autor rico e crítico capaz de pensar o espaço e o tempo na sua modernidade. Para fechar quase duas décadas de estudos organizados pelo Professor José de Souza Martins foi realizado um seminário “A Aventura intelectual de Henri Lefebvre, em 14 de maio de 1993, publicado, em 1996 com o título de "Henri Lefebvre e o retorno à dialética". Para Martins” Lefebvre retomou o que de mais importante havia em Marx - seu método e sua concepção de que a relação entre a teoria e a prática, entre pensar e o viver, é uma relação vital (e datada) na grande aventura de fazer do homem o protagonista de sua História". O que começou como um seminário de estudantes de pós-graduação terminou como um seminário de professores universitários. Esse caminho de aprender o mundo mudou “minha forma de fazer geografia”, dando-lhe sentido e prolongando minha experiência do Aplicação. Esse caminho aberto na minha formação marca profundamente minha investigação e minha atividade na formação dos estudantes. III. Construções É necessário esclarecer que só entrei em contado com as obras de Lefebvre no final dos anos 80 o que significa que a minha construção teórica sobre a produção do espaço veio, como aconteceu com Lefebvre, de uma profunda reflexão sobre a obra de Marx. Foi assim que em 1979 defendi a dissertação de Mestrado ‘”Reflexões sobre o espaço geográfico” focando o papel do conceito de produção elaborado na obra de Marx, a partir do debate sobre a relação homem-natureza. III. Construções É necessário esclarecer que só entrei em contado com as obras de Lefebvre no final dos anos 80 o que significa que a minha construção teórica sobre a produção do espaço veio, como aconteceu com Lefebvre, de uma profunda reflexão sobre a obra de Marx. Foi assim que em 1979 defendi a dissertação de Mestrado ‘”Reflexões sobre o espaço geográfico” focando o papel do conceito de produção elaborado na obra de Marx, a partir do debate sobre a relação homem-natureza. Nessa dissertação construí a tese que persegue minha pesquisa até hoje: a produção do espaço é uma produção imanente a produção da vida humana. Produto da história seu conteúdo é social. Nesse momento desloca-se a investigação da localização dos fenômenos no espaço à produção social do espaço apontando a sociedade (desigual) como sujeito produtor do espaço. Uma inversão teórica apoiada no materialismo dialético. A noção de produção do espaço se desdobra da relação homem-natureza ato civilizatório, superando a compreensão de uma Geografia centrada na localização e distribuição das atividades e dos homens no espaço ou no território em direção à análise da produção deste espaço como produto social e histórico. No Doutorado (A re-propdução do espaço urbano, EDUSP, São Paulo, 1994) desenvolvemos a tese de que ao produzir sua existência os homens produzem não só sua história, conhecimento, processo de humanização, mas também o espaço. Um espaço que em ultima instância é uma relação social que se materializa formalmente em algo possível de ser apreendido, entendido e aprofundado. Um produto concreto: a cidade. O espaço, enquanto dimensão real que cabe instruir coloca-se como elemento visível, representação de relações sociais reais que a sociedade unia em cada momento do seu processo de desenvolvimento e, consequentemente, essa forma apresenta-se como história especificamente determinada; logo concreta. O produto espacial expressa às contradições que estão na base da sociedade através da segregação que tem sua lógica no desenvolvimento desigual das relações capitalistas de produção. Ao longo do processo histórico, portanto, os homens deixam suas marcas acumuladas no espaço, dando-lhe particularidades que compõem a existência comum dos homens inscrevendo-se no espaço ao mesmo tempo em que o criam como obra civilizatória. Ao reproduzir sua existência, a sociedade reproduz, continuamente, o espaço, dando-lhe um caráter histórico. Assim se elabora a premissa de que o processo de constituição da humanidade contempla a produção do espaço, permitindo formular a tese segundo a qual a "produção do espaço" é condição, meio e produto da ação humana. Este movimento triádico sugere que é através do espaço (e no espaço), que, ao longo do processo histórico, o homem produziu a si mesmo e o mundo como prática real e concreta. Objetiva em sua materialidade, tal prática permite a realização da existência humana através de variadas formas e modos de apropriação dos espaços-tempo da vida. Ao se realizar nesse processo, a vida revela a imanência da produção do espaço como movimento de realização do humano (de sua atividade). Com isso quero dizer que a relação do homem com a natureza não é de exterioridade, uma vez que a atividade humana tem uma relação prática com a natureza como reação e resposta, apoderando-se das coisas como construção de um mundo e de si mesmo em sua humanidade. Ao longo do processo histórico constituidor da humanidade, o espaço se encerra como uma das grandes produções humanas, superando sua condição de "continente". Essa produção espacial expressa, portanto, as contradições que estão na base da sociedade, e que, sob o capitalismo, traz determinações específicas no âmbito de uma lógica do desenvolvimento espacial desigual fundado na concentração da riqueza que hierarquiza e normatiza as relações sociais e as pessoas no espaço. Em seu desdobramento, a noção de produção permitiu chegar à compreensão do espaço-mercadoria e de sua reprodução com o desenvolvimento do capitalismo. Portanto, o civilizatório, traz em si aquilo que o nega, o espaço (produção social) torna-se uma mercadoria, como todos os produtos do trabalho humano. Nesta condição, a produção social do espaço coloca-se como momento de exterioridade em relação à sociedade aparecendo e se representando – no plano do vivido - como uma potência estranha (a obra humana se opõe ao humano) isto é, como momento do processo de alienação derivando-se nas lutas no espaço pelo espaço. Nesta perspectiva, a produção do espaço envolve vários níveis da realidade que se apresentam como momentos diferenciados da reprodução geral da sociedade; aquele da dominação política (imposição da lógica do estado na produção do espaço como se pode ver através de planos e politicas públicas voltadas ao espaço), das estratégias do capital objetivando sua reprodução continuada (os processos de acumulação tem o espaço como sua condição tornando-o uma força produtiva para o capital) e aquela das necessidades/desejos vinculados à realização da vida humana em sociedade. Estava assim aberta a perspectiva da construção de uma metageografia. O caminho traçado por minha investigação, portanto não se refere à construção de uma “geografia urbana”, mas foca uma geografia que pretende compreender a realidade que tem por determinação o urbano. III- A grande reviravolta na Geografia – os anos 70 Se de um lado a construção de minha investigação tinha como ponto de partida as leituras de Marx, por outro encontrava a Geografia num ambiente extremamente rico estimulante, coisa que hoje não mais vivenciamos. A década de 70 marcou o cenário geográfico com profundas transformações; a geografia estava na berlinda. Iniciei minha pós-graduação em 1976, num momento de grande "agitação intelectual", os geógrafos começavam a questionar o legado da chamada "geografia clássica". A crítica a este pensamento estava fundando na ideia de que a Geografia até então descrevia os fenômenos espaciais, sem uma preocupação maior com sua análise, isto é, a teoria ocupava um lugar secundário e a dimensão do empírico imperava. Questionava-se seu poder explicativo e os trabalhos monográficos com forte teor descritivo. O debate metodológico tomava conta de todos os ambientes, os debates eram acalorados, naquele momento era o materialismo histórico que abria e apoiava os debates que colocavam em xeque o entendimento do espaço e o papel do homem na análise geográfica. Permitiu, também, pensar de outro modo à articulação entre as disciplinas abolindo-se as fronteiras entre as mesmas buscando-se um novo entendimento do mundo e provocado profundas transformações na Geografia.Baseado no materialismo histórico, o que se convencionou chamar de “geografia crítica" passa a fundamentar, no Brasil, a esmagadora maioria dos trabalhos na área de Geografia Humana a partir dos últimos anos da década de setenta, como a Geografia produzia um conhecimento sobre o espaço e como se poderia entender o mundo através da Geografia. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Ruy Moreira, Carlos Walter Porto Gonçalves agitavam o cenário da geografia brasileira com seus escritos. O contato com Ari na USP era fonte de inspiração. Mas o debate acolhia uma ampla diversidade de geógrafos, não necessariamente relacionada à chamada “geografia crítica”. Pasquale Petroni, Pedro Pinchas Geiger (seu livro sobre a Rede Urbana), Fanny Davidovich (as análises urbanas) eram mentes ativas e estimulantes. Manuel Correa de Andrade (e seu inspirado livro “A terra e o homem no Nordeste) questionava se a geografia deveria ser mero devaneio intelectual ou se deveria fornecer condições para a racionalização da organização do espaço brasileiro, oferecendo uma contribuição à solução dos problemas brasileiros. Milton Santos aparecia no cenário da Geografia brasileira com textos estimulantes convocando à reflexão em direção a uma “outra Geografia” . Lembro-me que, numa de suas passagens por São Paulo, Ariovaldo promoveu uma reunião com poucas pessoas em sua casa para conversar com o mestre sobre os rumos da Geografia no momento em que era publicado “Por uma nova Geografia”. Puro estímulo intelectual! A produção de um saber geográfico se move no contexto do conhecimento que é cumulativo (histórico), social (dinâmico), relativo e desigual. O dinamismo no qual está assentado o processo de conhecimento implica em profundas transformações no pensamento geográfico. Essa era o que esses anos traziam para o debate. Estimulada por este debate debrucei-me no trabalho de investigar os conteúdos e sentidos do que, para a Geografia, era o espaço. Esta questão me perseguia em 1975 quando terminava meu curso de graduação. Foi assim que aprofundei meus estudos. Naqueles anos, por outro lado, a Geografia Quantitativa ganhava espaço no cenário nacional principalmente no IBGE e na UNESP em Rio Claro; na USP os professores, em sua esmagadora maioria se posicionavam contrário à ideia de que com a "quantitativa a geografia se transformava numa ciência". Aqui as questões teóricas já invadiam a sala de aula colocando "novas perspectivas". A geografia aparecia em seus profundos vínculos com a história e a sociologia; distante das preocupações com a quantificação dos fenômenos. Período de debates estimulantes foi o estágio com a prof. Rosa Ester Rossini na secretaria da Educação como estagiária de graduação mobilizados também por Nice Lecoq Muller convidada do grupo. Ali o debate em torno da chamada “Geografia Quantitativa foi abertura necessária ao contraponto com a “geografia da USP”’. Ainda na graduação o estágio com Luiz Augusto de Querioz Ablas no Instituto de pesquisas econômicas- IPE- abriu-me para a importância da relação entre geografia-economia a ponto de ter seguido alguns cursos de graduação na faculdade de Economia na USP. No período de pós-graduação vive intensamente o debate sobre o que achávamos que seriam as questões fundamentais da geografia. Dividi esses momentos com muitos colegas, mas em especial com Sandra Lencioni. Encontrávamos todas as tardes na casa dela, liamos, debatíamos, refletíamos sobre a Geografia no mundo em que vivíamos. Com ela aprendi a amar chá e fazer dele um ritual de relaxamento e encantamento. Ela também me introduziu no gosto pela caneta tinteiro, ela me deu a primeira de presente e depois desse gesto fiz uma coleção que mantenho numa linda caixa no meu escritório. É relaxante o ato de encher as canetas de tinta e escolher uma para escrever, começando o dia de trabalho. Costume esboçar meus textos no papel, fazer resumos de leituras, em folhas soltas escritas com “caneta de pena” com tinta de cor “violet”. O ato de ler-refletir-escrever é lúdico para nós duas e a caneta de pena acrescenta um sentido mágico a essa atividade. O período de 1975, quando nos formamos até 1982 foi de intensa atividade aonde nos debruçamos na leitura dos chamados clássicos da geografia: La Blache, Brunhes, Demageon, Derruau, Deffontaines, Peirre George, Kayser, Guglielmo, dentre outros e quando ambas entramos no corpo docente do DG e dividíamos a mesma sala (G4) esse debate se estendeu e ganhou força. Respirávamos Geografia e também escrevemos juntas alguns artigos, dois delas foi publicado agora na revista ETC, coordenada por Ester Limonad. Também nos debruçamos numa pesquisa sobre os conteúdos do “regional” numa publicação da época. Formamos um grupo de pós-graduandas que se reuniam frequentemente para estudar e trocar ideias no espaço onde hoje é a sede da AGB, cedido pelo DG. No início dos anos 80, como professores do DG, junto com Tonico e Wanderley criamos por algum tempo um grupo de estudos em nossa sala. Lembro-me de uma tarde em que estávamos os quatro trabalhando o professor Armando – grande estimulador de nossos debates - entrou na sala e disse que queria organizar um seminário para discutir o momento em que estávamos vivendo na Geografia e perguntou aonde seria interessante realizar o seminário. Marotamente Wanderley sugeriu o Rio de Janeiro; mas os paulistas fizeram o seminário em três dias: sexta, sábado e domingo, acabando com uma possível ideia de desfrutar das lindas praias cariocas. O seminário “Dialética e Geografia" foi um marco importantíssimo, naquele momento aonde o debate em torno das possibilidades da análise geográfica a partir do método dialético foram delineadas. O professor Armando também sintetizou num texto publicado no Boletim Paulista de Geografia as mudanças que estavam ocorrendo, principalmente na USP. Tonico, Sandra e eu também participamos junto com o professor Armando numa mesa do Congresso da AGB que houve 1980 na PUC Rio de Janeiro. Nesse período também participamos todos mais Wanderley numa mesa da AGB – são Paulo no DG originando o número 1 da revista – de pouca vida- chamada Borrador. Para mim "fazer Geografia" neste momento significou "sair da Geografia" muitos me diziam que estava me transformando em socióloga, até hoje, ainda alguns não me acham geógrafa, mas o que tenho a dizer é que desde 1975 tenho a consciência e a vontade e, quem sabe a pretensão de "ser geógrafa" entendendo por isso, a tentativa de pensar o mundo moderno a partir da análise espacial. Minha dissertação de Mestrado, minha tese, minhas pesquisas, perseguem o conhecimento do espaço em seu sentido amplo, e nessa busca, encontrei a produção do espaço enquanto produção humana, portanto a análise espacial passa pela "produção do humano". Quero crer que fiz parte de um momento precioso e rico da Geografia - aquele do debate acalorado e profundo sobre os caminhos da análise geográfica a partir da crítica a geografia clássica tendo na sua base o caminho aberto pela leitura marxista do mundo. A controvérsia era profundamente estimulante o que não impedia a existência de "vários marxismos” tanto quanto as possíveis leituras que as obras de Marx permitiam o que se colocava como problema quase intransponível. IV- Aprendendo “em outros lugares” Realizei dois curtos "séjours" de pesquisa em Paris, o primeiro em 1989 um ano e meio depois de meu doutorado, sob a orientação do professor Olivier Dolffus da universidade de Paris VII. Naquele momento a tese de doutorado havia deixado muitas questões em aberto. As leituras me conduziam, agora, para entender o modo como à geografia urbana pensava a cidade nos finais dos anos 80, quais os caminhos teóricos metodológicos que se abriam a pesquisa sobre a cidade; quais os temas emergentes. O professor Milton Santos com quem convesava muito no DG, um dia no corredor me disse que estava « eu fazendo muita política « (era representante da FFLCH no Conselho de represnetante da ADUSP) e me pediu para avisar meu marido, com quem ele tinha trabalhado, que ele iria me enviaria para um pós-doc em Paris I. E assim ele, com sua grande generosidade, orgzanizou meu séjour junto ao porfessor Dolffus e conversou com seus amigos para que me recebessem -o que me abriu inúmeras portas -, e foi assim que fiz um grande número de entrevistas com pesquisadores. E entrevistei muitos geógrafos e pude trabalhar em bibliotecas e visitar livrarias. O contato com o professor Claval sempre foi muito estimulante, já naquela época conversávamos sobre as relações entre a geografia e a literatura. Desta época a amizade com a geógrafa Martine Droulers permitiu acalorados debates e décadas de convivência. Topalov também foi uma das pessoas que me deu muitas ideias no curso que seguia na Sociologia. Nessa época seguia curso do Claval com Paulo Cesar- foi ótima nossa convivência e com ele descobri o “panaché”. O segundo "séjours" foi um convite do professor Georges Benko da Universidade de Paris I, neste momento ao contrário do primeiro foquei meu trabalho numa pesquisa bibliográfica visando à elaboração da tese de Livre docência. Aqui o contato com o professor Roncayolo, foi central. Como estava em Paris com Silvana Pintaudi (professora da UNESP) dividindo o mesmo “studio”, montamos uma grande biblioteca (dividíamos literalmente o espaço com muitos livros). Passávamos as manhãs trancadas lendo os livros em silêncio e depois saíamos para livrarias e bibliotecas, agora, debatendo muito, tornando o "séjours" mais profícuo e estimulante. Nosso debate e minhas investigações versavam sobre as leituras que focavam a cidade propriamente dita, mas referiam-se, sobretudo, ao caminho da análise do urbano no contexto do processo de mundialização da sociedade que se torna cada vez mais urbana. Outras “andanças” marcam o fato de que os encontros nos permitem aprender e não só ensinar ou mostrar o que se “sabe ou aprendeu”. Nesse caso cito que foi como professora e coordenadora de convênios; Paris coordenado CAPES-COFECUB, Barcelona, coordenando CAPES-MECD, depois outras voltas a Barcelona- numa delas aproveitando o silêncio e a ausência das tarefas burocráticas, escrevi meu livro “O espaço urbano”. Desse encontro inicial se desdobrou importante intercambio que ainda mantenho com a prof. Nuria Benach, a convite de quem dividi a edição do livro “Horácio Capel: Pensar la ciudad em tempos de crisis” (volume 7 da coleção Espacios Critics, Icária, Barcelona, 2005). Também viajei a convite de colegas, ministrando cursos para Medellin (2 vezes), Bogotá, Buenos Aires. Na cidade do México assumi a cátedra Elisé Reclus. Ao longo de duas décadas venho acompanhando os colóquios organizados por Capel “colóquios de geocritica”, além da participação em outras redes de pesquisa. Saliento, aqui o diálogo com o grupo da revista de estudos lefevrianos -“La somme et le reste” - coordenado por Armand Ajzenberg, em Paris. Nosso processo (estendido) de formação se realiza em momentos entrecruzados por atividades as mais diversas, no convívio com colegas de dentro e de fora da Geografia, quase todos vinculados à Universidade, montando um quadro profícuo ao debate a troca de ideias, o contato com o Diferente e com o que difere. É assim que destaco minhas participações na ADUSP, SBPC e AGB. O diferente marca uma riqueza ilumina a prática, provoca amadurecimentos. Na SBPC, quero lembrar que trabalhei com o professor José pereira de Queiroz, na ADUSP pude me sentir membro do grupo PARTICIPAÇÃO e na AGB-SP trabalhei com colegas como a Odette Seabra, Arlete M. Rodrigues e Regina Bega. V- O diálogo sem o qual não se produz ciência Ao longo de quase 2 décadas um fórum de debates se tornou importante para o meu trabalho e, formação: no princípio era o grupo que fundou e organizou os primeiros 7 “Simpósios de Geografia Urbana”, e depois que o SIMPURB, ganhou o Brasil, o grupo se reuniu entorno do GEU- grupo de estudos Urbanos. Faz parte do grupo Roberto Lobato Correa, Mauricio de Abreu, Jan Bitoun, Silvana Pintaudi, Maria Encarnação Sposito, Pedro Vasconcelos e um pouco depois se juntou ao grupo inicial, Marcelo Lopes de Souza. Esse fórum foi de fundamental importância por dois motivos; primeiro porque se trata de um grupo de pesquisadores que pensa de modo diferente; optando por caminhos teórico-metodológicos diversos o que abre um leque de perspectivas analíticas. Em segundo lugar é o modo como o debate se estabelece: criticamente. Sem crítica não há produção de conhecimento - e esse exercício é levado muito a sério. Nos simpósios de Geografia Urbana, os trabalhos eram analisados e debatidos em profundidade e, nesse processo crítico a reflexão se aprofundava e a pesquisa se confronta com renovados desafios. Como pensamos diferente (mas nos respeitamos), os simpósios aconteciam com discussões tão acaloradas que os recém-chegados achavam que nos odiamos e não entendiam como, depois dos debates, saímos todos rindo para almoçar ou jantar juntos. O que caracterizava o simpósio de urbana é que não havia sessões simultâneas (às vezes um ou outra mesa de comunicações, mas não era a regra) e todos participavam ativamente do simpósio inteiro juntos assistindo e participando dos debates fazendo com que a discussão fluísse de uma mesa para outra e retomada noutro dia, e mais davam origem ao simpósio seguinte. Na coordenação do GT Teoria Urbana Crítica – no Instituto de Estudos Avançados- IEA/USP – tenho estimulante contato com um grupo interdisciplinar que se matem através da troca de experiências de pesquisa em torno da compreensão da realidade urbana no movimento constitutivo de uma teoria critica mergulhando nas contradições que movem o mundo. Das contradições urgem as possibilidades de metamorfoses da vida, assim parte dos debates se realiza em torno do direto á cidade - direto à vida como momentos dialéticos da reprodução da acumulação capitalista hoje. VI. O trabalho no DG-FFLCH-USP Minha carreira, como professora, começou, na realidade, na Escola de Sociologia e Política. Um ano depois em 1982 entrei depois de minha terceira tentativa no DG-FFLCH-USP juntamente com o Tonico e neste mesmo ano dividimos uma disciplina. O ambiente que tenho vivido há quase 4 décadas no DG só pode ser definido por uma palavra: liberdade. Liberdade de ensinar do jeito que pensava, investigar com minha escolha quanto a teoria e ao método, para criar grupos de pesquisa, organizar atividades acadêmicas, trabalhar com grupos e alunos, etc. Nunca tive tolhido meu exercício de liberdade, sem a qual acredito não há possibilidade de realização de um trabalho acadêmico. E pude desempenhar algumas tarefas que acredito serem fundamentais ao meu trabalho (não sem dificuldades, mas sem obstáculos intransponíveis). Por exemplo, a partir de uma crítica que tínhamos ao programa de pós-graduação no DG, no início dos anos 80 fizemos (à época era aluna de pós e professora) um amplo movimento de discussão e debate em torno do programa de pós-graduação em Geografia. Embasados por vários seminários sobre o tema, elaboramos análises e a partir do DGUSP, mobilizamos todos os outros programas de pós no Brasil. Com o apoio do professor Rui Coelho, (então Diretor da FFLCH), Selma Castro e eu coordenamos o primeiro encontro nacional de Pós-graduação em Geografia, a partir desta primeira realização outros 3 aconteceram (Rio Claro - UNESP - Rio de Janeiro - UFRJ - Santa Catarina - UFSC). Outra atividade pioneira que me vi envolvida foi, com a organização do I (e do VII) Simpósio nacional de Geografia Urbana. O primeiro realizado em outubro de 1989, fato que surgiu a partir de uma mesa redonda que coordenei numa das sessões da SBPC do ano anterior tendo Silvana Pintaudi e Arlete Moysés como convidadas. Saímos da reunião da SBPC em 1988, acreditando que estava na hora de discutirmos a pesquisa em Geografia Urbana realizada no Brasil, e levamos a ideia para o Encontro de geógrafos da AGB que se realizou em Maceió, no mesmo ano. Ali no bar do hotel Arlete e eu nos reunimos com outros colegas – Roberto Lobato Correa, Maurício de Abreu, José Borzachilello da Silva, para discutimos a ideia e concluímos sobre a necessidade de fazermos um balanço sobre os últimos 50 anos de pesquisa em geografia Urbana brasileira. Ali mesmo fizemos um levantamento dos pesquisadores na área (em cada região do país) e começamos a fazer os convites. Cada um teria como tarefa estudar a produção geográfica sobre a cidade, de sua região - o que não era fácil. Deste primeiro simpósio saiu um livro bastante significativo. O importante é que ao longo destes anos o grupo vem aumentando a cada novo simpósio se somam novos pesquisadores. Mas há um grupo fundador (Roberto, Maurício, Pedro, Arlete, Silvana, Geiger, Aldo, Fanny e eu) que acabou, ao longo deste período, construindo uma sólida e profunda amizade que tem feito deste s encontros um momento de profundo debate e de reflexão. Outra experiência é a possibilidade de ter colocado em prática uma ideia que tinha há tempos, a de fazer uma revista de pós-graduação a GEOUSP. A revista surge inicialmente com a ideia de intercâmbio e para dar visibilidade ao conhecimento produzido e que se realizam, prioritariamente, nos cursos de pós-graduação. Afinal naquele momento nosso Departamento tinha 430 alunos matriculados em seus dois cursos de pós-graduação (sendo que 283 na área de Geografia Humana), e apresentava um volume de pesquisa não negligenciável enquanto contribuição à construção do pensamento geográfico brasileiro. Hoje a revista mudou seu perfil abrindo-se para os pesquisadores de outros lugares e temáticas. Pude ainda no DG ousar, foi assim que, em 1988 resolvi fazer um vídeo com meus alunos, a ideia era trazer para a sala de aula um conjunto de depoimentos sobre a possibilidade de se definir a geografia apoiada num conjunto de imagens sobre a metrópole de São Paulo. Era evidentemente, um trabalho amador, com muitas falhas técnicas, pois foi feito no DG com os equipamentos que dispúnhamos à época e com poucos conhecimentos técnicos sobre como faze-lo. Todavia acabou sendo um material didático usado por professores da rede estadual de ensino em São Paulo. Na universidade se associam dois momentos importantes do papel do professor aquele em que ensina e forma pessoas, cidadãos abrindo-lhe os horizontes de um mundo rico em movimentos-transformações e aqui temos a sala de aula como o locos privilegiado do exercício da crítica, da possibilidade da manifestação da diferença, num espaço de afirmação da criatividade, motivado e alimentado pela paixão pela descoberta e de estímulo à reflexão passei quase 40 anos. Esse foi o tempo dedicado à graduação. As aulas de pós-graduação não se interrompem neste momento de “aposentadoria” (iniciada no fatídico ano de 2020) e com ele o trabalho de orientação; b) o trabalho de orientação – aquele que se abre à compreensão aprofundada do mundo sobre o qual nos debruçamos como um fragmento explicativo do mundo em suas contradições e possibilidades é a forma mais estimulante de nosso trabalho As atividades realizadas tanto com os alunos de graduação quanto de pós-graduação são momentos de reflexão e aprendizado; c) com minhas pesquisas pude construir uma compreensão sobre a realidade brasileira lida através de São Paulo e com esta compreensão preparar aulas de modo a que o conhecimento aqui produzido fosse inspirador de novas leituras. A independência de um país se apresenta na sua capacidade de produzir uma leitura original do mundo em que se vive. Uma explicação produzida em suas fronteiras. Infelizmente se dá mais importância ao que se produz no exterior e sabe-se muito mais sobre o que se produz “lá fora” do que o que se cria no Brasil. Nessas três atividades – impossíveis de serem separadas - certamente aprendi muito, mas quero crer que trouxe uma contribuição em cada uma delas, que só os outros podem avaliar. Quero acrescentar alguns outros momentos que considero importante, para mim. A vida no DG também se associa, para mim, ao Labur- laboratório de geografia Humana - foi um ponto também importante de reunião de pesquisadores da Geografia e de fora, reunindo alunos da graduação e da pós, mas não necessariamente composto por estudantes da geografia, pois todas as atividades estão sempre abertas a todos, sinalizando o questionamento da disciplinaridade e o espírito público da Universidade. GESP- grupo de estudos de Geografia Urbana crítica- criado em 2001 que começou comigo e meus orientandos- reúne, hoje, diversos pesquisadores (os mesmos que eram estudantes e hoje são profissionais de muitas universidades brasileiras, da USP ou que se encontram no exterior) em torno do objetivo de desvendar os conteúdos da urbanização tendo como foco de análise os fundamentos que explicitam a desigualdade vivida concretamente no cotidiano da metrópole tendo como perspectiva a construção de uma “geografia crítica radical”. Entende-se por “crítica radical” a disciplina capaz de revelar as contradições constitutivas do processo desigual da produção contemporânea do espaço, e que, ao potencializar o “negativo” desse processo, propõe um caminho profícuo para elucidar os conteúdos não revelados da luta pelo “direito à cidade”. A proposta do GESP envolve a produção de um conhecimento sobre o urbano a cidade e o processo de urbanização como um compromisso de analisar a realidade urbana em seu movimento contraditório e enfocando os conteúdos que explicitam a desigualdade vivida concretamente, essa crítica visa a construção de um projeto de “uma outra cidade”; uma outra sociedade urbana como destino do homem; trazendo como consequência a necessidade de uma reflexão que elucide nossa época, focando a análise na reprodução sócioespacial. Pensar o mundo através da geografia. Pensar a geografia numa perspectiva critica através da compreensão da produção do espaço. Apoia-se na hipótese segundo a qual a reprodução do espaço urbano, no mundo moderno, aprofunda a contradição entre o processo de produção social do espaço e sua apropriação privada. O grupo também produz a coleção de livros metageografia. “Pelos corredores”: as cenas do cotidiano nos corredores e “na rampa” como falamos é muito diversa e rica. Nos cruzamos o tempo todo, debatemos, trocamos bibliografia e angustias sobre os destinos da universidade, da geografia e do pais e rimos juntos. Deste modo o cotidiano do DG, com nossas reuniões tem sido também um lugar profícuo de debates e tenho também aprendido muito - isto quando não descambam para o lado meramente burocrático, pois aí elas viram tortura. Mas nesses anos todos tenho me sentido parte de uma "comunidade" de diferentes. Nos primeiros anos, todavia, foi muito difícil, e neste momento foi de fundamental importância os logos "papos" com o Bocchicchio, a acolhida sem reservas das conversas com o professor Pasquale Petroni e sem dúvida as conversas e os conselhos do professor Carlos Augusto, com quem aprendi a fazer relatório. Frequentadora assídua da sala do professor, tive o privilégio de ouvi-lo falar sempre com entusiasmo sobre seu trabalho e de suas análises sobre geografia, literatura e arte. Mesmo aposentado, em suas votas ao DG, tenho o privilégio dos encontros com ele. VII – Contribuições? Isso normalmente eu deixo para os outros. Isto é, nossas contribuições devem ser medidas-avaliadas por aqueles que entram em contato com nosso trabalho e nos leem. Nenhum de nós pode fugir dessa situação de ser avaliado. Mas seguindo à risca a solicitação que me foi feita posso elencar a construção de dois movimentos de minha investigação que penso serem originais e podem induzir ao debate. Posso também me lembrar do que fiz com paixão e que penso estão aí rendendo frutos, pois fazem parte do presente. Destas destaco as ideias iniciais de construção de um encontro de pós-graduação – realizado com Selma Castro, antes da criação da ANPEGE, mas que deu origem à ANPEGE; a criação da GEOUSP, cujo trabalho inicial divido com Rita Ariza da Cruz ainda estudante que me ajudou nos 20 anos de minha coordenação assumindo quando saí da mesma; e a ideia inicial de realização de um simpósio para discutir as pesquisas em geografia Urbana, cujo esboço realizado na reunião da AGB de Aracaju, deu origem ao primeiro SIMPURB organizado na USP, em 1989. E finalmente, foi minha a ideia de criação do GEU, grupo de estudos Urbanos; bem como do GESP e do Grupo de teoria Urbana Critica do Instituto de Estudos Avançados da USP. A estas atividades posso acrescentar um conjunto grande de livros organizados. E aqui quero fazer uma ressalva. As organizações destas obras não se reduzem a reunião de autores compondo uma obra, mas a ideia de que a produção do conhecimento e coletiva e de que a reunião e o debate de pessoas pensando o mundo de forma convergente – dando visibilidade a um pensamento residual-ou divergente a reunião critica de tendências é importante para mover o pensamento e a pesquisa- o que desfaz a ideia de organização como simples reunião. Como exemplo, cito: a) o livro “A produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios” (publicado pela Contexto, São Paulo: 2011) organizado junto com Marcelo Lopes de Souza e Maria Encarnação B. Sposito) feito pelo GEU (aonde publiquei o capitulo: Da ”organização à produção do espaço no movimento do pensamento geográfico”); b) a partir de debates com os autores tanto da ideia do livro quanto dos textos publicados, a coleção metageografia - composta de 4 livros e um dossiê na GEOUSP- onde se estabelece uma leitura marxista-lefevriana da cidade e do urbano produto de um grupo de estudos. “Crise urbana”, volume 1 São Paulo: Contexto, 2015 (edição em inglês: “TheUrban crises”. São Paulo: Contexto, 2015, e-book) - site: www.gesp.fflch.usp.br (em inglês); “A cidade como negócio”, Editora Contexto, volume 2 São Paulo:2015 Edição em inglês - Edições FFLCH - editora eletrônica - site: www.gesp.fflch.usp.br ; “Justiça espacial e o direto à cidade”, volume3, Editora Contexto, São Paulo:2017; “ Geografia Urbana Crítica: teoria e método”, volume 4 Editora Contexto: São Paulo2018. Dossiê “Henri Lefebvre e a problemática urbana” in GEOUSP, GEOUSP Espaço e Tempo (Online), [S. l.], v. 23, n. 3, p. 453-457, 2019. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/164015; c) os 3 volumes da coleção Geografias de São Paulo produzido pelos professores do DG-USP visando apresentar a partir de suas pesquisas uma análise da metrópole de São Paulo na data de seus 450 anos de fundação (Carlos, Ana Fani A e Oliveira, A.U de (org), Geografias de São Paulo: 2 volumes Editora Contexto, São Paulo, 2004).Aqui publiquei capitulo em que apresento o movimento de passagem da hegemonia do capital industrial ao financeiro como elemento definidor de uma nova realidade urbana (São Paulo :do capital industrial ao capital financeiro, volume 2 – A metrópole do século XXI); d) dando visibilidade a pesquisa de professores do mesmo DG-FFLCH-USP entorno da ideia de “necessidade da Geografia” no mundo de hoje (“A necessidade da geografia, Editora Contexto, São Paulo, 2019).; e) há ainda livros organizados como produto de debates acadêmicos realizados a partir de convênios de investigadores, como os dois realizados com a Universidade de Barcelona, destes cito Urbanização e Mundialização: estudos sobre a metrópole, (Contexto, São Paulo,2004), aonde está meu capitulo “A reprodução da cidade como negócio”); f) Dos livros organizados como reunião de pesquisas, apresentadas em evento, cito três livros produtos dos SIMPURBs nos quais participei da organização: “Caminhos da reflexão sobre a Cidade e o urbano” (EDUSP, São Paulo, 1994), “Dilemas Urbanos” Com Amália Inês Geraiges Lemos, Contexto São Paulo, 2003; “Geografia Urbana: desafios contemporâneos” com Angelo Serpa, EDUFBA, Salvador,2018). Ainda seria ainda importante ressaltar meu trabalho no tema do ensino da geografia. Destaco: a) participação no projeto do DG-FFLCH /Secretaria da educação de São Paulo no programa de formação e professores, coordenado pelo professor Gil Sodero de Toledo, nos anos 80 em que viajávamos pelo Estado de São Paulo ministrando cursos. Desse conteúdo ministrado produzi dois livros paradidáticos publicados pela Editora Contexto Espaço e Industria (1988) e A cidade (1992) além da coordenação de vários livros voltados ao Ensino da Geografia como “A geografia na sala de Aula”, “Novos caminhos da Geografia” e “Reformas no mundo da Educação, todos de 1999; b) coordenação de cursos versando sobre o Ensino da geografia em várias versões da “ Bienal do livro” em São Paulo a convite da Câmara Brasileira do Livro aonde pude conviver com vários colegas como Aziz Ab´Saber, Manuel Correia de Andrade, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Nidia Pontuchka, dentre outros. 7.1 Contribuições no âmbito do pensamento geográfico As pesquisas realizadas ao longo de minha vida acadêmica visam à construção não só de uma compreensão sobre a realidade brasileira no movimento constitutivo da sociedade urbana – lida a partir de São Paulo- como a elaboração de uma teoria capaz de revelar uma “leitura do mundo” através da Geografia como disciplina. Assim cheguei à construção do conceito sobre o espaço no âmbito da Geografia a partir de minhas angustias de formanda, como apontei antes. Faz-se, para mim necessário iniciar com um esclarecimento importante: essa construção conceitual se tece tendo por fundamento a obra de Marx e antecede minhas leituras da obra de Lefebvre e, portanto, seus conteúdos e percursos são diferentes – há, todavia divergências e encontros e o dado interessante de que estávamos eu e Lefebvre nos debruçando sobre os conteúdos da “produção do espaço” quase no mesmo momento: ele publica o livro em 1974, minha dissertação em 1978 e eu entro em contato com a obra de Henri Lefebvre somente em 1986, no curso do professor José de Souza Martins. Foram longas horas e inúmeros dias na biblioteca das Ciências sociais da USP nos anos de 1975-1977 quando elaborava minha Dissertação de mestrado “reflexões sobre o espaço geográfico” defendida em 1979 que me debrucei sobre uma bibliografia completamente nova e difícil sobre a formulação “do conceito de espaço”: da filosofia até Einstein o caminho foi tortuoso e sofrido. O ponto de partida, todavia foi à leitura dos chamados clássicos da geografia francesa de minha formação uspiana. O debate sobre o espaço atravessa a Geografia e é chocante ainda ouvir colegas afirmarem que o debate sobre a produção do espaço foi introduzida por Henri Lefebvre, à Geografia e não construída no desenvolvimento do próprio pensamento geográfico, como desdobramento necessário. Talvez o mergulho no conceito – mais restrito- de território tenha impedido essa compreensão. O conceito de produção do espaço se desdobra, em minha formulação da relação homem-natureza como ato civilizatório, superando a compreensão de uma Geografia centrada na localização e distribuição das atividades e dos homens no espaço ou no território em direção à análise da produção deste espaço como produto social e histórico. Corresponde a uma prática socioespacial real que se revela produtora dos lugares, e que encerra em sua natureza um conteúdo social dado pelas relações sociais que se realizam em espaços-tempos determinados. Na escala do lugar, ilumina a existência de uma vida cotidiana na qual se manifesta a vida. Assim, o pressuposto: as relações sociais têm uma existência real enquanto existência espacial concreta que trazem como consequência sua produção: produzem, efetivamente, um espaço, aí se inscrevendo e se realizando. Desse modo, a elaboração do conceito tem uma dimensão abstrata, mas indissociavelmente vinculada à práxis humana que se define como socioespacial. Nesta perspectiva, o espaço produz-se e reproduz-se como materialidade indissociável da realização da vida, elemento constitutivo da identidade social, como processo civilizatório. A formulação do conceito tem como conteúdo a tríade aonde a produção do espaço como movimento do mundo é a condição, meio e produto da reprodução da sociedade ao longo da história. A tríade se constrói no movimento do método que dá centralidade a noção de produção social do espaço como desdobramento da relação sujeito-objeto. A produção do espaço, enquanto condição/meio e produto da sociedade aponta novos conteúdos ao abrir o pensamento a totalidade social. A tríade revela a reprodução social bem como a espacialidade das relações sociais. Parece muito claro ao longo da produção do conhecimento geográfico, a ideia de que não existe sociedade a-espacial (Milton Santos, 1979, Di Méo,2000, Carlos, 2011) todavia a Geografia parece ainda não ter superado a condição da materialidade absoluta do espaço, impedindo a consideração da teoria social. Considerando que a produção do espaço traz como consequência sua reprodução, deparamo-nos com a necessidade de pensar o movimento da história que a explicite e, nesse sentido, a noção de reprodução se desdobra daquela de produção decorrente da necessidade de compreensão do movimento constante da realização da sociedade (o que não significa só linearidade, mas fundamentalmente, simultaneidade; relação dialética entre o tempo cíclico e o tempo linear; entre continuidade e descontinuidade; entre ruptura e crise; centralidade/periferia; concentração/dispersão; obrigando-nos a pensar os termos da reprodução da sociedade hoje (sob a égide da reprodução capitalista) em suas possibilidades e limites definidos. Neste conteúdo, sujeito e objeto vão se revelando. O espaço como condição envolve e supera a ideia de materialidade. Certamente as atividades humanas se distribuem no espaço, mas há relações sociais ao mesmo tempo a atividade envolve um conjunto de ações e uma dialética espaço-tempo. O espaço como condição da produção social aponta para a dimensão material. Isto é o espaço como materialidade envolvendo necessidades/ representações/desejos; relações de classe e poder que percorrem todo o processo. Materialidade envolve o movimento da história – o trabalho morto acumulado pelo processo de transformação constante da natureza em espaço humano da reprodução deste espaço ao longo do processo histórico – trabalho acumulado da sociedade produtora do espaço contempla acúmulos construídos pelos tempos passados do trabalho e da ação prática dos homens restituídos/presentificados/atualizados como infraestrutura que são também produtos do conhecimento e das representações de mundo. Mas essa dinâmica espacial realiza-se numa estrutura, tem uma forma; adquire funções individualizadas dependendo do tempo. Portanto essa dimensão material contempla planos e níveis que se relativizam, isto é, não é um mero espaço construído. Há simultaneidade/dialética na produção e reprodução; mas há também uma escala a ser pensada em articulação de escalas espaço-temporais. Reunidas todas as qualidades aparecem como diferenciação/desigualdade dos lugares e entre esses mesmos lugares no tempo marcando diferenças nas escalas espaço-temporais. Envolvem uma totalidade que foge do material para incorporar o universo dos sujeitos produtores em sua relação com esta materialidade. Como condição o espaço adquiri também a forma e função de capital fixo para a reprodução da acumulação. b) como meio o espaço é mediação na ação que produz a vida que revela a sociedade em ato. É a atividade como conhecimento/técnica/divisão social. A relação com a natureza não é direta requer mediações – trabalho, conhecimento, técnica, divisão, representação, etc. Envolve pensar o sentido estrito e lato do termo produção bem como aquela de produto como obra. Por outro lado, as relações comportam escalas – no e do espaço e no e do tempo. A Produção da cidade ilumina/esclarece representações da sociedade sobre o mundo que por sua vez tem um sentido politico, quer dizer relações com interesse de classe. c) como produto - A cidade como forma do trabalho humano, momento indissociável da produção do espaço significa, o que sintetiza o produto das relações sociais e suas determinações históricas. Como terceiro termo da tríade revelar-se-ia o mundo e a realidade social em suas contradições, limites e possibilidades. As contradições que surgem dessa produção se revelam no produto: segregação socioespacial; privação; lutas e projeto – todos situando-se na práxis. O livro “A condição espacial” (Editora Contexto, São Paulo: 2011) sintetiza essa construção (outras publicações: anafani.com.br). Esse conceito de espaço como produção social tem também norteado minhas reflexões sobre o turismo no movimento da realidade que produz o espaço como mercadoria a partir da venda de uma particularidade natural, cultural ou construída artificialmente. Cito, aqui, dois capítulos de livro daqueles que mais gostei de escrever: a) O turismo e a produção do não-lugar” in Turismo: espaço, paisagem e cultura que organizo junto com os professores Eduardo Yázigi e Rita de Cássia Ariza da Cruz (HUCITEC, São Paulo, 1996) e “Turismo e patrimônio: um aporte geográfico” In Geografia, Turismo e Patrimônio Cultural: identidades e ideologias (Anablume, São Paulo, 2017 a convite da professora Maria Tereza Duarte Paes. 7.1.2 A metageografia (ou “geografia marxista-lefevriana” como definiu Maurício de Abreu) Como consequência deste caminho de produção sobre uma teoria do “espaço da geografia” (sintetizado no capítulo “ Uma geografia do espaço” no livro A necessidade da geografia, Contexto, São Paulo: 2019) e do debate com os autores da geografia construí o que venho chamando de “metageografia” que se revela como um momento de exigência do pensamento crítico a partir da crítica à produção do conhecimento da Geografia baseada na necessidade de construção de uma nova inteligibilidade do mundo iluminando as contradições vividas pela sociedade que aparecem na vida cotidiana como privação dando centralidade ao conceito de “produção do espaço”, uma vez que é no espaço que se pode ler as possibilidades concretas de realização da sociedade, bem como suas contradições que aparecem nas lutas no espaço, pelo espaço. A construção de um pensamento crítico sobre a produção do espaço no mundo moderno revela o aprofundamento das contradições decorrentes da reprodução da sociedade, num momento de generalização da urbanização, da passagem da hegemonia do capital industrial ao capital financeiro e de uma sociedade eminentemente urbana. O método dialético, como caminho do pensamento que compreende o mundo, ilumina o laço entre teoria-prática em suas contradições, deslocando a análise do plano da epistemologia para o da prática, com redefinição dos conteúdos de alguns conceitos objetivando desvendar o “campo cego” sob o qual se realiza a investigação urbana. Neste sentido, a metageografia, propõe: a) uma nova inteligibilidade que fornece um ponto de partida para a reflexão, o movimento contraditório da realidade que funda a dialética do mundo. Esse delineamento busca, como horizonte de pesquisa e como percurso teórico-metodológico, elucidar os fundamentos do movimento que explica a realidade atual, que se realiza, também, como movimento do pensamento crítico; b) um caminho capaz de realizar o movimento, no plano do pensamento geográfico, que vai da "organização do espaço" à análise de sua "produção social". Essa orientação traz exigências teóricas que redirecionam a pesquisa, focando um mundo construído socialmente – isto é o espaço como produção história e social através da realização da criação do humano; c) a análise das contradições que eclodem sob a forma de lutas no espaço e pelo espaço, com aumento de tensões de todos os tipos que escancaram uma vida cotidiana em sua privação, controlada e vigiada. A compreensão da práxis encontra aí os resíduos capazes de ganhar potencialidade e se transformar num projeto de metamorfose da realidade; d) a consideração dos resíduos presentes nas ações cotidianas com potencialidade para superar as condições de privação. No plano do conhecimento propõe-se a superação da sua produção ideológica que permite a reprodução do sistema e de suas especializações. Como exigência teórica , a metageografia se propõe superar: a) a redução da problemática urbana àquela da gestão pública da cidade e a insuficiencia da crítica da proposta da “gestão democrática” ao empreendedorismo urbano (“La utopía de la Gestión Democrática de la Ciudad. Scripta Nova (Barcelona), Barcelona, v. 9, n.194, 2005 ou “A ilusão da transparência do espaço e a fé cega no planejamento in Revista Cidades vol 6.10, Presidente Prudente 2004) ; b) a compreensão da cidade enquanto quadro físico, ambiente construido criando políticas públicas que reproduzem as condições de privação do humano; c) a interpretação da cidade enquanto sujeito de ação que domina a investigação urbana- (“Seriam as ciudades rebeldes in Geografia Urbana: 30 anos de SIMPURB, Editora Consequência,RJ,2020) ; d) a existência de uma renda da terra urbana (A condição Espacial, op cit) e) o obscurecimento da propriedade e ausência de critica à “ função social da propriedade” ( A privação do urbano e o direto à cidade em Henri Lefebvre, in Justiça Espacial e o direito à cidade, op cit); f) o entendimento da cidade reduzida a uma escala de tamanho; g) a segregação tratada como apartamentos/separações des grupos sociais no espaço da cidade (“Geografia crítica radical e a teoria urbana” in Geografia Urbana Crítica, op cit) ; h) a violência urbana tratada como criminalidade (“Epacaio urbano y violência” in Violencia y desigualdad Neuva Sociedade, ADLAF, Buenos Aires, 2017); i) o turismo que encobre o consumo dos lugares na cidade em função de uma determinação histórica esvaziada (acima citado); j) o direto à cidade tornado política pública e a perda do horizonte utópico (“Em nome da cidade (e da propriedade in anais geocritica, ww.edu.geocrit, xivanafani). Nos dias de hoje, o sentido da crítica e do pensamento crítico se associa a uma crise prática real, produto das metamorfoses do mundo moderno, em que a lógica do crescimento – sob várias representações, como aquela do progresso (que funda a ideia de qualidade de vida) - produziu o aumento da riqueza gerada em lugares e classes concentradas no espaço e na sociedade. No caminho aqui proposto, a análise geográfica do mundo seria aquela que caminharia na direção do desvendamento dos processos constitutivos da reprodução da sociedade em sua dimensão espacial aonde as contradições exigem outras respostas de superação que a exigência as políticas públicas não responderiam. A superação das condições que imobilizam a realização do humano se realizaria pela construção de um “direto ao espaço” em confronto com o projeto do Estado e das políticas e projetos que o sustentam – sob diversas formas - revelando a dominação do Estado e de sua lógica sobre a sociedade; c) pensar o caminho para a transformação radical da sociedade sinaliza a construção de uma crítica radical do existente como de, através do ato de conhecer, desvendar os significados mais profundos das condições que impedem este mundo de se efetivar enquanto lugar da realização plena da humanidade. Penso que esse caminho da produção de uma teoria sobre o espaço e a análise metageografia se encontra esclarecida no livro, “Espaço-tempo da vida cotidiana na metrópole”, menção honrosa Jaboti, editado em sua primeira versão pela Editora Contexto, São Paulo, 2001 e em versão corrigida, online, de 2018 http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/388 O mundo se move e nós nos transformamos todos os dias, e assim, como assinala Arteau, tudo que ainda não nasceu pode vir a nascer, desde que não nos contentemos em ser simples órgãos de registro. (Antonin Arteau, “O teatro e seu duplo”, São Paulo Martins Fontes, 2006). A compreensão radical e necessária do mundo é uma forma de luta, portanto um posicionamento político. Notas 1 - Marcel Proust, À sombra das raparigas em flor, tradução Mario Quintana, Rio de Janeiro, Editora Globo, 1987, página 12 2 - Dostoiewsky, Notas do Subsolo, página 40 ALDO PAVIANI AUTOBIOGRAFIA DE ALDO PAVIANI 1 – PRIMÓRDIOS. Estou com 86 anos. Nasci na cidade de Erechim (RS),Alto Uruguai, no dia 10 de janeiro de 1934, sendo meus pais Adélia Villetti Paviani e Narciso Paviani, são originários de Nova Pádua (RS) e migraram para as “terras novas” do Alto Uruguai, embora meu pai não quisesse trabalhar na lavoura, estabelecendo-se em Paim Filho, já com um filho pequeno, meu irmão Mansueto Paviani. A família migrou por diversas cidades do norte do Rio Grande do Sul, até se estabelecer em Erechim, onde nasci. Cresci, sempre com a vontade de estudar e frequentei grupo escolar até concluir o primário (como então se denominava o “fundamental”). Também conclui o ginásio em Erechim, tendo estudado com Lassalistas em Canoas (RS) e com Maristas, em Erechim. Ao concluir o ginásio, em 1952, passei a trabalhar na Livraria do Sr. Estavam Carraro, com Carteira do Trabalho assinada em 2 de janeiro de 1952. Fui logo incumbido de trabalho na redação do diário “A Voz da Serra”. O trabalho não atrapalhou os estudos no Curso de Contabilidade dos Maristas, pelo contrário, foi facilitado pelo Sr. Carraro, pois me incumbia de tarefas de auxiliar de contabilidade de sua empresa composta de jornal, livraria e tipografia. Ao mesmo tempo, com colegas do curso e amigos iniciamos o curso de pilotagem no Aeroclube de Erechim. Todos visavam ser pilotos para obter o brevê, que equivalia a se tornar reservista da Aeronáutica. Ao mesmo tempo com o brevê os amigos de pilotagem desejavam ser pilotos da Varig (a grande empresa aeronáutica da época). Consegui fazer voos solo e com horas de voo suficiente para concorrer aos exames do Departamento de Aeronáutica Civil (DAC). também todos evitariam a incorporação pelo Exército Brasileiro. Essa incorporação, acabou se dando por falha nas pequenas aeronaves (teco-teco) e quase todos fomos incorporados ao Exército (GACAV/75), em Alegrete/RS, no início de 1953. Após me matricular em colégio noturno na cidade, o comandante, determinou que eu cancelasse a matrícula, o que realizei de pronto. O vice comandante, sabendo do ocorrido, providenciou minha baixa, em 12 de maio de 1953. Por isso, possuo um Certificado de Isenção do Serviço Militar. Isso facilitou meu retorno a Erechim, onde conclui o curso de nível secundário. 2 – NO RUMO A PORTO ALEGRE. Em meados de 1950, resolvi cursar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Pontifícia Universidade Católica (PUC), em Porto Alegre. O primeiro ano do Curso de Geografia e História, à época, era permitido realizou o primeiro ano à distância. Mas, no segundo ano, solicitei demissão da empresa Carraro, em 31 de março de 1956. De imediato, me mudei para Porto Alegre e cursei o Bacharelado em Geografia e História, em 1957 e a Licenciatura em 1958. Ao mesmo tempo, realizei um curso de Secretário de Colégio, o que me valeu um contrato na Ginásio Noturno, recém criado em Canoas. Todo dia me deslocava para a cidade vizinha de Porto Alegre, privado de jantar. Permaneci poucos meses nesse incomodo ir e vir. Em 7 de abril de1959, fui contratado pelo SENAC , onde permaneci até 12 de setembro de 1959. Ainda em 1959, fui contratado para a Secretaria da Fazenda/Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul e fui lotado, por ser contabilista, na Contadoria Geral do Estado. O contador geral, Dr. Holly Ravanello, vendo meu potencial, recomendou que eu realizasse o curso de Economia/Contadoria, na Universidade Federal do R. G. do Sul. Prestei vestibular e cursei o primeiro ano. Todavia, desejando ser professor, solicitei demissão em 1960 e me mudei para Santa Maria. 3 – NO MAGISTÉRIO EM SANTA MARIA. Destaco que, em Santa Maria, conheci a Professora Doutora Therezinha Isaia, com quem tive a satisfação de contrair matrimônio em 5 de julho de 1962. Uma vez casado, procurei trabalhar na Rede Estadual de Ensino, pois havia poucos candidatos com curso superior. Em 1961 fui contratado pela Secretaria da Educação para lecionar Geografia no Ginásio Caetano Pagliuca e, também para o Colégio Estadual Manuel Ribas. Ao mesmo tempo, com outros colegas, fundei, com os Colegas Professores Ivo Müller Filho, Renata Drewes e Sérgio Bernardes, o Curso de Geografia na Faculdade Imaculada Conceição (FIC) agregada a Universidade Federal de Santa Maria. Este foi um passo decisivo para que o Reitor Professor Doutor José Mariano da Rocha Filho, criasse o Curso de Geografia da USM no ano de 1964. Meu contrato foi de Auxiliar de Ensino, a partir de 01 de junho de 1964. Abro parênteses para informar ter ganho bolsa de estudos para um estágio pós-graduado em Portugal, em 1967. Viajamos, Therezinha Isaia Paviani e eu em 10 de janeiro de 1967 e retornando ao Brasil em 1968. O estágio se deu Centro de Estudos Geográficos (CEG) da Universidade de Lisboa, sendo orientado pelo Professor Doutor Orlando Ribeiro e pelo Professor Doutor Ilídio do Amaral. Foi sugerido que realizasse pesquisa de campo, tal como estava disposto em meu Plano de Trabalho (vencedor do concurso para obter a bolsa de estudos do Ministério das Relações Exteriores de Portugal. Do trabalho de campo no CEG resultou o trabalho Alenquer: Aspectos geográficos de uma vila portuguesa, publicado na prestigiada Revista Finisterra 3 (5): 32-78, 1968. Fiquei nesse posto até 28 de setembro de 1970, pois em 1968, comparecendo ao um Congresso de Botânica, fomos convidados, minha esposa e eu, para trabalhar na Universidade de Brasília (UnB), na qualidade de Professores Requisitados. 4 – MUDANÇA PARA BRASÍLIA. A requisição à Universidade de Santa Maria se deu a partir de 1969, com contrato de Professor Assistente, contratado em 1o. de julho de 1969, permanecendo ainda por tempo lotado na USM, por efeito da requisição. O regime de requisição teve se tornou inviável por reter vaga na USM e tive que optar – ou retornava à origem em Santa Maria e permaneceria na UnB. Optei pela UnB, sendo contrato e lotado no Instituto Central de Geociências, juntamente com o curso de Geologia. Neste Instituto, fundamos o Curso de Geografia com os professores Getúlio Vargas Barbosa, Ignez da Costa Barbosa Ferreira e Azize Drumond. Mas, por necessidade de dar cobertura no ensino dos Estudos dos Problemas Brasileiros (EPB), o reitor da UnB transferiu a Geografia para o Instituto de Ciências Humanas, com a criação do Departamento de Geografia, História e Filosofia, em 1973. Além de ter sido Diretor do Centro de Estudos Avançados (CEAM) da UnB e do Instituto de Ciências Humanas, nos anos 1990, participo do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais do CEAM, do qual fui coordenador e do Núcleo do Futuro também do CEAM. 5 – PÓS DOUTORADO EM AUSTIN/TEXAS. Em 1983, fiz pós-doutorado no Instituto de Estudos da América Latina (ILAS), em Austin, Texas, onde permanecei por quatro meses. E de cujos estudos escrevi uma súmula da bibliografia e contatos realizados: “Urbanização n América Latina: questões gerais”, inserida na obra Brasília: metrópole em crise. Ensaios sobre urbanização. Brasília: Editora UnB, 1989 e 2010. 6 – BRASILIANISTA: Ao retornar de Austin/Texas, fiquei convencido de que o melhor brasilianista é o brasileiro que se dispõe a publicar obras sobre nosso processo de urbanização. Para isso, convidei alguns colegas e durante um ano, a partir de 1984, debatemos possíveis contribuições a uma primeira coletânea sobre Brasília. Como resultado desse trabalho, em 1985,a Editora da Universidade de Brasília (Editora UnB), publicou a obra Brasília, Ideologia e Realidade – espaço urbano em questão, contendo dez trabalhos e o prefácio de Milton Santos (a meu convite). 7 – COLEÇÃO BRASÍLIA: Fruto da expertise, em 1988 convidei colegas para compor outra obra coletiva sobre Brasília e publicada pela Editora UnB e apoio da Codeplan, em 1987, sob o título Urbanização e Metropolização – a gestão dos conflitos em Brasília, com 251 páginas e 14 autores, docentes da UnB e técnicos de outras instituições da capital. 8 – OUTRA OBRA: Ainda como resultado do pós doutorado nos Estados Unidos, reunir diversos artigos meus, inclusive o que servira de relatório desse evento, e publiquei, pela Editora UnB, a obra Brasília: a metrópole em crise – ensaios sobre urbanização com oito trabalhos e o prefácio de Cristovam Buarque, então reitor da UnB. 9 – CONTINUIDADE: Em resumo, as obras listas em 6, 7 e 8 fazem parte da COLEÇÃO BRASÍLIA, que organizei para a Editora UnB. Dessa Coleção, ainda fazem parte, as obras abaixo que fui o organizador: a) Em 1991. A conquista da cidade: Movimentos populares em Brasília, obra com nove trabalhos e 266 p.; b) Em 1999. Brasília – gestão urbana: conflitos e cidadania, contém onze trabalhos e 294 p.; c) Em 2003. Brasília: controvérsias ambientais, com doze trabalhos e 316 p.; d) Em 2005. Brasília: Dimensões da violência urbana, com doze trabalhos e 379 p. – Obra em coorganização de Paviani, A. Ferreira, I. C. B, Barreto, F. F. P. e) Em 2010. Brasília 50 anos: da capital a metrópole, com quinze autores e 490 p. A coorganização é composta por Paviani, A. Barreto, F. F. P., Ferreira, I. C. B., Cidade, L. C. F., Jatobá, S. U.; f) Em 2013. Planejamento & Urbanismo na atualidade brasileira: objeto teoria prática. Obra com quatorze autores e 480 p. Coorganização de Gonzales, S., Francisconi, J. G, Paviani, A. g) Em 2019. Território e sociedade: as múltiplas faces da Brasília metropolitana. Contém dezoito trabalhos e 336 p. Coorganizada por Vasconcelos, A. M. N., Moura, L. B. A., Jatobá, S. U. S., Cruz, R. C. de S., Mathieu, M. R. de A., Paviani, A. TRABALHO NO CEAM: Desde 1986, quando com outros colegas fundamos o Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais/NEUR, abrigado no Centro de Estudos Avançados Muldisciplinares/CEAM/UnB, se trabalhou em dois tópicos: debater as questões urbanas/metropolitanas de Brasília e do Brasil – inclusive com conferencistas convidados e debater com os pesquisadores do Núcleo e/ou convidados externos, tópicos que ensejassem obra coletivas no interior da COLEÇÃO BRASÍLIA. É bom que se diga que o NEUR se constituiu em um dos cinco Núcleos Temáticos que se uniram para formar o CEAM. Nos anos subsequente, outros Núcleos foram se organizando com o que o CEAM conta com mais de 30 componentes, se ocupam com as mais as mais atualizadas temáticas que são objetos de pesquisas inter e multidisciplinares. CONCURSOS EM UNIVERSIDADES: 1 - Ingressando no corpo docente da Universidade de Santa Maria (USM), no início dos anos 1960, quando colaborou na organização do Departamento de Geografia, teve oportunidade de ingressar no corpo docente permanente, na posição de Professor Assistente, por meio de concurso de títulos e provas, nos dias 24 e 25 de agosto de 1970, sendo aprovado com a média de 9,75. 2 - Em setembro de 1973, se apresentou ao concurso de Professor Adjunto da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), sendo aprovado com a média de 8,2. 3 – Entre 19 e 22 de setembro de 1977, habilitou-se à Livre Docência na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com a elaboração de provas e apresentação de Currículo Acadêmico. Nas provas foi aprovado com a média de 8,85 e a Defesa de Tese, intitulada Mobilidade Intra-Urbana e Organização Espacial: o Caso de Brasília, foi aprovada com a nota 10,0. 4 – Ao ingressar na Universidade de Brasília, em 1o. de julho de 1969, assinou contrato como Colaborador de Ensino – Assistente. Nos anos subsequentes, foi promovido até chegar ao momento de se apresentar à posto de Professor Titular, o que se deu em fevereiro de 1990, com a defesa de prova de títulos e defesa de currículo. Nesse concurso recebeu a nota máxima (10,0). EXPERIÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA Chefia do Departamento de Geografia da UFSM/RS Coordenador do Núcleo de Geografia/IH/UnB Coordenador do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais/CEAM/UnB Membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE/UnB Diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares/CEAM/UnB Diretor do Instituto de Ciências Humanas da UnB LIVROS EDITADOS (Organizador/Editor) PAVIANI, Aldo e PINTO, Vânia. Bibliografia de Alguns Periódicos Brasileiros por Assunto Geográfico. Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, 1969. PAVIANI, Aldo (Org.). Organização Regional no Brasil. Brasília, Editora Universidade de Brasília, s/d. PAVIANI, Aldo (Org.). Brasília, Ideologia e Realidade. Espaço Urbano em Questão. São Paulo, Projeto Ed., 1985 e 2010.. PAVIANI, Aldo (Org.). Urbanização e Metropolização. A Gestão dos Conflitos em Brasília. Brasília, Editora Universidade de Brasília/CODEPLAN, 1987. PAVIANI, Aldo (Org.). Textos de Pesquisas do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1988. PAVIANI, Aldo. Brasília: A Metrópole em Crise. Ensaios sobre Urbanização. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1989 e 2010. PAVIANI, Aldo (Org.). A Questão Epistemológica da Pesquisa Urbana e Regional. Cadernos do CEAM/NEUR, Brasília, 2 (1), 1993. PAVIANI, Aldo (Org.). A Conquista da Cidade: Movimentos Populares em Brasília. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1991 e 2010. PAVIANI, A. e PEDONE, Luiz (orgs). Guerra e Paz no Golfo Pérsico - Avaliações. Brasília, CEAM-UnB, 1992. PAVIANI, Aldo (Org.) Brasília: Moradia e Exclusão. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1996. PAVIANI, Aldo (Org.) Brasília - Gestão Urbana: Conflitos e Cidadania. Brasília, Editora UnB, 1999. PAVIANI, Aldo e GOUVÊA, Luiz Alberto Campos. Brasília: Controvérsias Ambientais. Brasília. Ed. UnB, 2003. PAVIANI, Aldo, FERREIRA, Ignez Costa Barbosa e BARRETO, Frederico Flósculo Pinheiro (orgs.) Brasília: Dimensões da Violência Urbana. Brasília, Editora UnB, 2005 e 2015. PAVIANI, Aldo et. al. Brasília 50 anos: da capital a metrópole. Brasília, Editora UnB, 2010. GONZALES, Suely F. N; FRANCISCONI, Jorge Guilherme, PAVIANI, Aldo. Planejamento & Urbanismo na atualidade brasileira: objeto, teoria e prática. São Paulo: Rio de Janeiro: Livre Expressão, 2013. VASCONCELOS, A. M. N. et al. (Orgs) Território e Sociedade: As múltiplas faces da Brasília Metropolitana. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2019. Organizador com Sérgio Jatobá de Brasília 60 anos: desigualdade socioespacial em questão (no prelo). Autor de Brasília de todos nós: A Capital Federal aos 60 anos (no prelo). Autor de A Brasília que Queremos: os antecedentes e o futuro da Capital (no prelo). TRABALHOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS E OBRAS COLETIVAS. 73 ARTIGOS (Não incluso as centenas de artigos publicados na imprensa escrita de Brasília).. TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E REUNIÕES CIENTÍFICAS 99 TRABALHOS ORGANIZADOR DE EVENTOS E COORDENADOR DE SEMINÁRIOS E SEMANAS DE GEOGRAFIA. 14 EVENTOS MEMBRO DE BANCAS EXAMINADORAS 25 PARTICIPAÇÕES MEMBRO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS, DE APOIO À PESQUISA E À EDUCAÇÃO 30 INSTITUIÇÕES HOMENAGENS RECEBIDAS 01. Homenagem especial dos formandos do Curso de Geografia do Centro de Estudos Básicos da Universidade Federal de Santa Maria - RS., 1970. 02. Patrono dos formandos em Geografia do 1º semestre de 1976, da Universidade de Brasília. 03. Patrono dos formandos em Geografia do 2º semestre de 1977, da Universidade de Brasília. 04. Patrono dos formandos em Geografia do 1º semestre de 1979, da Universidade de Brasília. 05. Patrono dos formandos do Curso de Estudos Sociais do 2º semestre de 1979, da Universidade de Brasília. 06. Patrono dos formandos do Curso de Geografia do 2º semestre de 1980, da Universidade de Brasília. 07. Patrono dos formandos de Geografia do 1º semestre de 1981, da Universidade de Brasília. 08. Patrono dos formandos do Curso de Geografia do 1º semestre de 1986, da Universidade de Brasília. 09. Homenageado pelos formandos do Curso de Geografia do 2º semestre de 1986, da Universidade de Brasília. 10. Homenageado pelos formandos do 1º semestre de 1987, do Curso de Geografia da Universidade de Brasília. 11. Patrono dos formandos do Curso de Geografia do 2º semestre de 1989, da Universidade de Brasília. 12. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, do 2º semestre de 1995, da Universidade de Brasília. 13. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, do 1º semestre de 1996, da Universidade de Brasília. 14. Paraninfo dos formandos do Curso de Geografia, do 2º semestre de 1997, da Universidade de Brasília. 15. “Cidadão Honorário de Brasília”, Título concedido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 08 de novembro de 1999. 16. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, 1º semestre de 2000, da Universidade de Brasília. 17. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, 1º semestre de 2001, da Universidade de Brasília. 18. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, 2º semestre de 2002, da Universidade de Brasília. 19. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, 1º semestre de 2003, da Universidade de Brasília. 20. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, 2º semestre de 2003, da Universidade de Brasília. 21. Professor Emérito da Universidade de Brasília, em 28 de maio de 2004. Brasília, 4 de janeiro de 2021 ALDO PAVIANI
ALDO PAVIANI AUTOBIOGRAFIA DE ALDO PAVIANI 1 – PRIMÓRDIOS. Estou com 86 anos. Nasci na cidade de Erechim (RS),Alto Uruguai, no dia 10 de janeiro de 1934, sendo meus pais Adélia Villetti Paviani e Narciso Paviani, são originários de Nova Pádua (RS) e migraram para as “terras novas” do Alto Uruguai, embora meu pai não quisesse trabalhar na lavoura, estabelecendo-se em Paim Filho, já com um filho pequeno, meu irmão Mansueto Paviani. A família migrou por diversas cidades do norte do Rio Grande do Sul, até se estabelecer em Erechim, onde nasci. Cresci, sempre com a vontade de estudar e frequentei grupo escolar até concluir o primário (como então se denominava o “fundamental”). Também conclui o ginásio em Erechim, tendo estudado com Lassalistas em Canoas (RS) e com Maristas, em Erechim. Ao concluir o ginásio, em 1952, passei a trabalhar na Livraria do Sr. Estavam Carraro, com Carteira do Trabalho assinada em 2 de janeiro de 1952. Fui logo incumbido de trabalho na redação do diário “A Voz da Serra”. O trabalho não atrapalhou os estudos no Curso de Contabilidade dos Maristas, pelo contrário, foi facilitado pelo Sr. Carraro, pois me incumbia de tarefas de auxiliar de contabilidade de sua empresa composta de jornal, livraria e tipografia. Ao mesmo tempo, com colegas do curso e amigos iniciamos o curso de pilotagem no Aeroclube de Erechim. Todos visavam ser pilotos para obter o brevê, que equivalia a se tornar reservista da Aeronáutica. Ao mesmo tempo com o brevê os amigos de pilotagem desejavam ser pilotos da Varig (a grande empresa aeronáutica da época). Consegui fazer voos solo e com horas de voo suficiente para concorrer aos exames do Departamento de Aeronáutica Civil (DAC). também todos evitariam a incorporação pelo Exército Brasileiro. Essa incorporação, acabou se dando por falha nas pequenas aeronaves (teco-teco) e quase todos fomos incorporados ao Exército (GACAV/75), em Alegrete/RS, no início de 1953. Após me matricular em colégio noturno na cidade, o comandante, determinou que eu cancelasse a matrícula, o que realizei de pronto. O vice comandante, sabendo do ocorrido, providenciou minha baixa, em 12 de maio de 1953. Por isso, possuo um Certificado de Isenção do Serviço Militar. Isso facilitou meu retorno a Erechim, onde conclui o curso de nível secundário. 2 – NO RUMO A PORTO ALEGRE. Em meados de 1950, resolvi cursar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Pontifícia Universidade Católica (PUC), em Porto Alegre. O primeiro ano do Curso de Geografia e História, à época, era permitido realizou o primeiro ano à distância. Mas, no segundo ano, solicitei demissão da empresa Carraro, em 31 de março de 1956. De imediato, me mudei para Porto Alegre e cursei o Bacharelado em Geografia e História, em 1957 e a Licenciatura em 1958. Ao mesmo tempo, realizei um curso de Secretário de Colégio, o que me valeu um contrato na Ginásio Noturno, recém criado em Canoas. Todo dia me deslocava para a cidade vizinha de Porto Alegre, privado de jantar. Permaneci poucos meses nesse incomodo ir e vir. Em 7 de abril de1959, fui contratado pelo SENAC , onde permaneci até 12 de setembro de 1959. Ainda em 1959, fui contratado para a Secretaria da Fazenda/Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul e fui lotado, por ser contabilista, na Contadoria Geral do Estado. O contador geral, Dr. Holly Ravanello, vendo meu potencial, recomendou que eu realizasse o curso de Economia/Contadoria, na Universidade Federal do R. G. do Sul. Prestei vestibular e cursei o primeiro ano. Todavia, desejando ser professor, solicitei demissão em 1960 e me mudei para Santa Maria. 3 – NO MAGISTÉRIO EM SANTA MARIA. Destaco que, em Santa Maria, conheci a Professora Doutora Therezinha Isaia, com quem tive a satisfação de contrair matrimônio em 5 de julho de 1962. Uma vez casado, procurei trabalhar na Rede Estadual de Ensino, pois havia poucos candidatos com curso superior. Em 1961 fui contratado pela Secretaria da Educação para lecionar Geografia no Ginásio Caetano Pagliuca e, também para o Colégio Estadual Manuel Ribas. Ao mesmo tempo, com outros colegas, fundei, com os Colegas Professores Ivo Müller Filho, Renata Drewes e Sérgio Bernardes, o Curso de Geografia na Faculdade Imaculada Conceição (FIC) agregada a Universidade Federal de Santa Maria. Este foi um passo decisivo para que o Reitor Professor Doutor José Mariano da Rocha Filho, criasse o Curso de Geografia da USM no ano de 1964. Meu contrato foi de Auxiliar de Ensino, a partir de 01 de junho de 1964. Abro parênteses para informar ter ganho bolsa de estudos para um estágio pós-graduado em Portugal, em 1967. Viajamos, Therezinha Isaia Paviani e eu em 10 de janeiro de 1967 e retornando ao Brasil em 1968. O estágio se deu Centro de Estudos Geográficos (CEG) da Universidade de Lisboa, sendo orientado pelo Professor Doutor Orlando Ribeiro e pelo Professor Doutor Ilídio do Amaral. Foi sugerido que realizasse pesquisa de campo, tal como estava disposto em meu Plano de Trabalho (vencedor do concurso para obter a bolsa de estudos do Ministério das Relações Exteriores de Portugal. Do trabalho de campo no CEG resultou o trabalho Alenquer: Aspectos geográficos de uma vila portuguesa, publicado na prestigiada Revista Finisterra 3 (5): 32-78, 1968. Fiquei nesse posto até 28 de setembro de 1970, pois em 1968, comparecendo ao um Congresso de Botânica, fomos convidados, minha esposa e eu, para trabalhar na Universidade de Brasília (UnB), na qualidade de Professores Requisitados. 4 – MUDANÇA PARA BRASÍLIA. A requisição à Universidade de Santa Maria se deu a partir de 1969, com contrato de Professor Assistente, contratado em 1o. de julho de 1969, permanecendo ainda por tempo lotado na USM, por efeito da requisição. O regime de requisição teve se tornou inviável por reter vaga na USM e tive que optar – ou retornava à origem em Santa Maria e permaneceria na UnB. Optei pela UnB, sendo contrato e lotado no Instituto Central de Geociências, juntamente com o curso de Geologia. Neste Instituto, fundamos o Curso de Geografia com os professores Getúlio Vargas Barbosa, Ignez da Costa Barbosa Ferreira e Azize Drumond. Mas, por necessidade de dar cobertura no ensino dos Estudos dos Problemas Brasileiros (EPB), o reitor da UnB transferiu a Geografia para o Instituto de Ciências Humanas, com a criação do Departamento de Geografia, História e Filosofia, em 1973. Além de ter sido Diretor do Centro de Estudos Avançados (CEAM) da UnB e do Instituto de Ciências Humanas, nos anos 1990, participo do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais do CEAM, do qual fui coordenador e do Núcleo do Futuro também do CEAM. 5 – PÓS DOUTORADO EM AUSTIN/TEXAS. Em 1983, fiz pós-doutorado no Instituto de Estudos da América Latina (ILAS), em Austin, Texas, onde permanecei por quatro meses. E de cujos estudos escrevi uma súmula da bibliografia e contatos realizados: “Urbanização n América Latina: questões gerais”, inserida na obra Brasília: metrópole em crise. Ensaios sobre urbanização. Brasília: Editora UnB, 1989 e 2010. 6 – BRASILIANISTA: Ao retornar de Austin/Texas, fiquei convencido de que o melhor brasilianista é o brasileiro que se dispõe a publicar obras sobre nosso processo de urbanização. Para isso, convidei alguns colegas e durante um ano, a partir de 1984, debatemos possíveis contribuições a uma primeira coletânea sobre Brasília. Como resultado desse trabalho, em 1985,a Editora da Universidade de Brasília (Editora UnB), publicou a obra Brasília, Ideologia e Realidade – espaço urbano em questão, contendo dez trabalhos e o prefácio de Milton Santos (a meu convite). 7 – COLEÇÃO BRASÍLIA: Fruto da expertise, em 1988 convidei colegas para compor outra obra coletiva sobre Brasília e publicada pela Editora UnB e apoio da Codeplan, em 1987, sob o título Urbanização e Metropolização – a gestão dos conflitos em Brasília, com 251 páginas e 14 autores, docentes da UnB e técnicos de outras instituições da capital. 8 – OUTRA OBRA: Ainda como resultado do pós doutorado nos Estados Unidos, reunir diversos artigos meus, inclusive o que servira de relatório desse evento, e publiquei, pela Editora UnB, a obra Brasília: a metrópole em crise – ensaios sobre urbanização com oito trabalhos e o prefácio de Cristovam Buarque, então reitor da UnB. 9 – CONTINUIDADE: Em resumo, as obras listas em 6, 7 e 8 fazem parte da COLEÇÃO BRASÍLIA, que organizei para a Editora UnB. Dessa Coleção, ainda fazem parte, as obras abaixo que fui o organizador: a) Em 1991. A conquista da cidade: Movimentos populares em Brasília, obra com nove trabalhos e 266 p.; b) Em 1999. Brasília – gestão urbana: conflitos e cidadania, contém onze trabalhos e 294 p.; c) Em 2003. Brasília: controvérsias ambientais, com doze trabalhos e 316 p.; d) Em 2005. Brasília: Dimensões da violência urbana, com doze trabalhos e 379 p. – Obra em coorganização de Paviani, A. Ferreira, I. C. B, Barreto, F. F. P. e) Em 2010. Brasília 50 anos: da capital a metrópole, com quinze autores e 490 p. A coorganização é composta por Paviani, A. Barreto, F. F. P., Ferreira, I. C. B., Cidade, L. C. F., Jatobá, S. U.; f) Em 2013. Planejamento & Urbanismo na atualidade brasileira: objeto teoria prática. Obra com quatorze autores e 480 p. Coorganização de Gonzales, S., Francisconi, J. G, Paviani, A. g) Em 2019. Território e sociedade: as múltiplas faces da Brasília metropolitana. Contém dezoito trabalhos e 336 p. Coorganizada por Vasconcelos, A. M. N., Moura, L. B. A., Jatobá, S. U. S., Cruz, R. C. de S., Mathieu, M. R. de A., Paviani, A. TRABALHO NO CEAM: Desde 1986, quando com outros colegas fundamos o Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais/NEUR, abrigado no Centro de Estudos Avançados Muldisciplinares/CEAM/UnB, se trabalhou em dois tópicos: debater as questões urbanas/metropolitanas de Brasília e do Brasil – inclusive com conferencistas convidados e debater com os pesquisadores do Núcleo e/ou convidados externos, tópicos que ensejassem obra coletivas no interior da COLEÇÃO BRASÍLIA. É bom que se diga que o NEUR se constituiu em um dos cinco Núcleos Temáticos que se uniram para formar o CEAM. Nos anos subsequente, outros Núcleos foram se organizando com o que o CEAM conta com mais de 30 componentes, se ocupam com as mais as mais atualizadas temáticas que são objetos de pesquisas inter e multidisciplinares. CONCURSOS EM UNIVERSIDADES: 1 - Ingressando no corpo docente da Universidade de Santa Maria (USM), no início dos anos 1960, quando colaborou na organização do Departamento de Geografia, teve oportunidade de ingressar no corpo docente permanente, na posição de Professor Assistente, por meio de concurso de títulos e provas, nos dias 24 e 25 de agosto de 1970, sendo aprovado com a média de 9,75. 2 - Em setembro de 1973, se apresentou ao concurso de Professor Adjunto da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), sendo aprovado com a média de 8,2. 3 – Entre 19 e 22 de setembro de 1977, habilitou-se à Livre Docência na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com a elaboração de provas e apresentação de Currículo Acadêmico. Nas provas foi aprovado com a média de 8,85 e a Defesa de Tese, intitulada Mobilidade Intra-Urbana e Organização Espacial: o Caso de Brasília, foi aprovada com a nota 10,0. 4 – Ao ingressar na Universidade de Brasília, em 1o. de julho de 1969, assinou contrato como Colaborador de Ensino – Assistente. Nos anos subsequentes, foi promovido até chegar ao momento de se apresentar à posto de Professor Titular, o que se deu em fevereiro de 1990, com a defesa de prova de títulos e defesa de currículo. Nesse concurso recebeu a nota máxima (10,0). EXPERIÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA Chefia do Departamento de Geografia da UFSM/RS Coordenador do Núcleo de Geografia/IH/UnB Coordenador do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais/CEAM/UnB Membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE/UnB Diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares/CEAM/UnB Diretor do Instituto de Ciências Humanas da UnB LIVROS EDITADOS (Organizador/Editor) PAVIANI, Aldo e PINTO, Vânia. Bibliografia de Alguns Periódicos Brasileiros por Assunto Geográfico. Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, 1969. PAVIANI, Aldo (Org.). Organização Regional no Brasil. Brasília, Editora Universidade de Brasília, s/d. PAVIANI, Aldo (Org.). Brasília, Ideologia e Realidade. Espaço Urbano em Questão. São Paulo, Projeto Ed., 1985 e 2010.. PAVIANI, Aldo (Org.). Urbanização e Metropolização. A Gestão dos Conflitos em Brasília. Brasília, Editora Universidade de Brasília/CODEPLAN, 1987. PAVIANI, Aldo (Org.). Textos de Pesquisas do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1988. PAVIANI, Aldo. Brasília: A Metrópole em Crise. Ensaios sobre Urbanização. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1989 e 2010. PAVIANI, Aldo (Org.). A Questão Epistemológica da Pesquisa Urbana e Regional. Cadernos do CEAM/NEUR, Brasília, 2 (1), 1993. PAVIANI, Aldo (Org.). A Conquista da Cidade: Movimentos Populares em Brasília. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1991 e 2010. PAVIANI, A. e PEDONE, Luiz (orgs). Guerra e Paz no Golfo Pérsico - Avaliações. Brasília, CEAM-UnB, 1992. PAVIANI, Aldo (Org.) Brasília: Moradia e Exclusão. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1996. PAVIANI, Aldo (Org.) Brasília - Gestão Urbana: Conflitos e Cidadania. Brasília, Editora UnB, 1999. PAVIANI, Aldo e GOUVÊA, Luiz Alberto Campos. Brasília: Controvérsias Ambientais. Brasília. Ed. UnB, 2003. PAVIANI, Aldo, FERREIRA, Ignez Costa Barbosa e BARRETO, Frederico Flósculo Pinheiro (orgs.) Brasília: Dimensões da Violência Urbana. Brasília, Editora UnB, 2005 e 2015. PAVIANI, Aldo et. al. Brasília 50 anos: da capital a metrópole. Brasília, Editora UnB, 2010. GONZALES, Suely F. N; FRANCISCONI, Jorge Guilherme, PAVIANI, Aldo. Planejamento & Urbanismo na atualidade brasileira: objeto, teoria e prática. São Paulo: Rio de Janeiro: Livre Expressão, 2013. VASCONCELOS, A. M. N. et al. (Orgs) Território e Sociedade: As múltiplas faces da Brasília Metropolitana. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2019. Organizador com Sérgio Jatobá de Brasília 60 anos: desigualdade socioespacial em questão (no prelo). Autor de Brasília de todos nós: A Capital Federal aos 60 anos (no prelo). Autor de A Brasília que Queremos: os antecedentes e o futuro da Capital (no prelo). TRABALHOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS E OBRAS COLETIVAS. 73 ARTIGOS (Não incluso as centenas de artigos publicados na imprensa escrita de Brasília).. TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E REUNIÕES CIENTÍFICAS 99 TRABALHOS ORGANIZADOR DE EVENTOS E COORDENADOR DE SEMINÁRIOS E SEMANAS DE GEOGRAFIA. 14 EVENTOS MEMBRO DE BANCAS EXAMINADORAS 25 PARTICIPAÇÕES MEMBRO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS, DE APOIO À PESQUISA E À EDUCAÇÃO 30 INSTITUIÇÕES HOMENAGENS RECEBIDAS 01. Homenagem especial dos formandos do Curso de Geografia do Centro de Estudos Básicos da Universidade Federal de Santa Maria - RS., 1970. 02. Patrono dos formandos em Geografia do 1º semestre de 1976, da Universidade de Brasília. 03. Patrono dos formandos em Geografia do 2º semestre de 1977, da Universidade de Brasília. 04. Patrono dos formandos em Geografia do 1º semestre de 1979, da Universidade de Brasília. 05. Patrono dos formandos do Curso de Estudos Sociais do 2º semestre de 1979, da Universidade de Brasília. 06. Patrono dos formandos do Curso de Geografia do 2º semestre de 1980, da Universidade de Brasília. 07. Patrono dos formandos de Geografia do 1º semestre de 1981, da Universidade de Brasília. 08. Patrono dos formandos do Curso de Geografia do 1º semestre de 1986, da Universidade de Brasília. 09. Homenageado pelos formandos do Curso de Geografia do 2º semestre de 1986, da Universidade de Brasília. 10. Homenageado pelos formandos do 1º semestre de 1987, do Curso de Geografia da Universidade de Brasília. 11. Patrono dos formandos do Curso de Geografia do 2º semestre de 1989, da Universidade de Brasília. 12. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, do 2º semestre de 1995, da Universidade de Brasília. 13. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, do 1º semestre de 1996, da Universidade de Brasília. 14. Paraninfo dos formandos do Curso de Geografia, do 2º semestre de 1997, da Universidade de Brasília. 15. “Cidadão Honorário de Brasília”, Título concedido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 08 de novembro de 1999. 16. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, 1º semestre de 2000, da Universidade de Brasília. 17. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, 1º semestre de 2001, da Universidade de Brasília. 18. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, 2º semestre de 2002, da Universidade de Brasília. 19. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, 1º semestre de 2003, da Universidade de Brasília. 20. Patrono dos formandos do Curso de Geografia, 2º semestre de 2003, da Universidade de Brasília. 21. Professor Emérito da Universidade de Brasília, em 28 de maio de 2004. Brasília, 4 de janeiro de 2021 ALDO PAVIANI