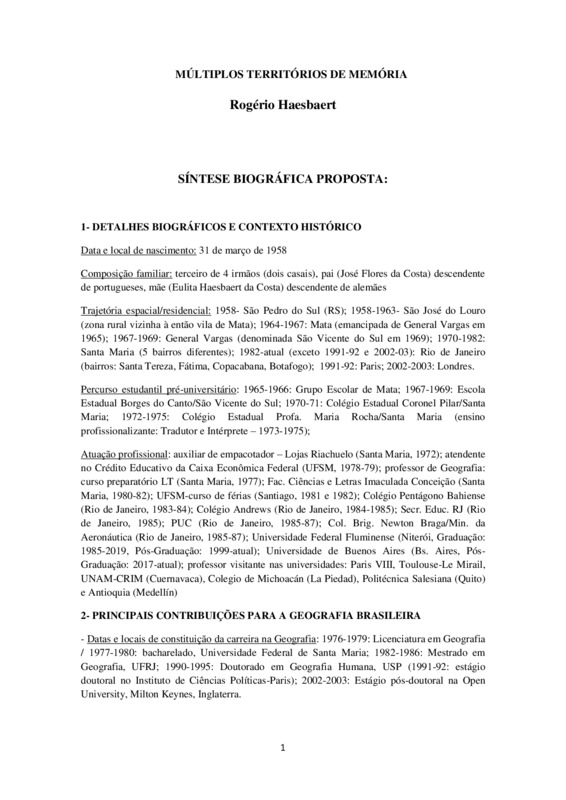-
Título
-
ROGERIO HAESBAERT DA COSTA
-
Nome Completo
-
ROGERIO HAESBAERT DA COSTA
-
Nascimento
-
31 de Março de 1958
-
História de Vida
-
MÚLTIPLOS TERRITÓRIOS DE MEMÓRIA
Rogério Haesbaert
SÍNTESE BIOGRÁFICA PROPOSTA:
1- DETALHES BIOGRÁFICOS E CONTEXTO HISTÓRICO
Composição familiar: terceiro de 4 irmãos (dois casais), pai (José Flores da Costa) descendente de portugueses, mãe (Eulita Haesbaert da Costa) descendente de alemães
Trajetória espacial/residencial: 1958- São Pedro do Sul (RS); 1958-1963- São José do Louro (zona rural vizinha à então vila de Mata); 1964-1967: Mata (emancipada de General Vargas em 1965); 1967-1969: General Vargas (denominada São Vicente do Sul em 1969); 1970-1982: Santa Maria (5 bairros diferentes); 1982-atual (exceto 1991-92 e 2002-03): Rio de Janeiro (bairros: Santa Tereza, Fátima, Copacabana, Botafogo); 1991-92: Paris; 2002-2003: Londres.
Percurso estudantil pré-universitário: 1965-1966: Grupo Escolar de Mata; 1967-1969: Escola Estadual Borges do Canto/São Vicente do Sul; 1970-71: Colégio Estadual Coronel Pilar/Santa Maria; 1972-1975: Colégio Estadual Profa. Maria Rocha/Santa Maria (ensino profissionalizante: Tradutor e Intérprete – 1973-1975);
Atuação profissional: auxiliar de empacotador – Lojas Riachuelo (Santa Maria, 1972); atendente no Crédito Educativo da Caixa Econômica Federal (UFSM, 1978-79); professor de Geografia: curso preparatório LT (Santa Maria, 1977); Fac. Ciências e Letras Imaculada Conceição (Santa Maria, 1980-82); UFSM-curso de férias (Santiago, 1981 e 1982); Colégio Pentágono Bahiense (Rio de Janeiro, 1983-84); Colégio Andrews (Rio de Janeiro, 1984-1985); Secr. Educ. RJ (Rio de Janeiro, 1985); PUC (Rio de Janeiro, 1985-87); Col. Brig. Newton Braga/Min. da Aeronáutica (Rio de Janeiro, 1985-87); Universidade Federal Fluminense (Niterói, Graduação: 1985-2019, Pós-Graduação: 1999-atual); Universidade de Buenos Aires (Bs. Aires, Pós-Graduação: 2017-atual); professor visitante nas universidades: Paris VIII, Toulouse-Le Mirail, UNAM-CRIM (Cuernavaca), Colegio de Michoacán (La Piedad), Politécnica Salesiana (Quito) e Antioquia (Medellín)
2- PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA A GEOGRAFIA BRASILEIRA
- Datas e locais de constituição da carreira na Geografia: 1976-1979: Licenciatura em Geografia / 1977-1980: bacharelado, Universidade Federal de Santa Maria; 1982-1986: Mestrado em Geografia, UFRJ; 1990-1995: Doutorado em Geografia Humana, USP (1991-92: estágio doutoral no Instituto de Ciências Políticas-Paris); 2002-2003: Estágio pós-doutoral na Open University, Milton Keynes, Inglaterra.
- Pesquisas expressivas realizadas que marcaram o perfil acadêmico: A Campanha Gaúcha e o resgate da identidade regional (mestrado); Gaúchos e Baianos: modernidade e desterritorialização (doutorado); O mito da desterritorialização (pós-doutorado); Globalização e regionalização – regiões transfronteiriças entre países do Mercosul; Sociedades de In-segurança e des-controle dos territórios; Território como categoria da prática numa perspectiva latino-americana.
- Autores de que recebeu influência: geógrafos: Bertha Becker (orientadora de mestrado; organização de livro e evento); Milton Santos (professor no mestrado e doutorado; pesquisa no mestrado); Jacques Lévy (supervisor em estágio doutoral); Doreen Massey (supervisora em estágio pós-doutoral; tradução de livro, eventos); não-geógrafos: Gilles Deleuze e Felix Guattari (livro “O mito da desterritorialização”); Michel Foucault e Giorgio Agamben (livro “Viver no Limite”): pensadores descoloniais latino-americanos (livro “Território e Descolonialidade”).
- Algumas parcerias de pesquisa ao longo da carreira – Brasil: Lia Machado (Faixa de Fronteira – Min. da Integração Nacional); Carlos Walter Porto-Gonçalves (livro “A nova desordem mundial”); Ana Angelita Rocha (biografia de Doreen Massey); Sergio Nunes e Gulherme Ribeiro (livro “Vidal, Vidais”); Fania Fridman (grupo CLACSO e livro Escritos sobre espaço e história); Frederico Araújo (livro Identidades e territórios); Argentina: Perla Zusman (UGI e livro “Geografías Culturales”); Chile: Pablo Mansilla (Univ. Católica de Valparaíso, projeto de pesquisa).
- Livros marcantes da carreira: RS: Latifúndio e identidade regional (P. Alegre: Mercado Aberto, 1988); Des-territorialização e identidade: a rede “gaúcha” no Nordeste (Niterói: EdUFF, 1997); Territórios Alternativos (Niterói e São Paulo: EdUFF e Contexto, 2002); O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004, editado em espanhol pela ed. Siglo XXI); Regional-Global: dilemas da região e da regionalização na Geografia contemporânea (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010; editado em espanhol pela CLACSO/UBA em 2019); Viver no limite: território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contenção (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014; editado em espanhol em 2020 pela ed. Siglo XXI); Território e Descolonialidade: sobre o giro (multi)territorial/de(s)colonial na América Latina (Buenos Aires: CLACSO, 2021)
3- AVANÇOS TEÓRICOS E CONTROVÉRSIAS
- Maiores contribuições conceituais e metodológicas realizadas: debates sobre região/regionalização (rede regional e região como arte-fato), regionalismo e identidade regional/territorial; território, multi/transterritorialidade e des-territorialização, contenção e exclusão/precarização territorial; debate modernidade-pós-modernidade; influência, na Geografia, das filosofias (pós-estruturalistas?) de Deleuze e Guattari, Foucault e Agamben; pensamento de Doreen Massey; pensamento descolonial na Geografia latino-americana.
- Principais controvérsias, críticas e embates sobre a produção científica realizada: debate sobre território para além de suas perspectivas estatal (incluindo as noções de multi/transterritorialidade e corpo-território) e funcional (incluindo a dimensão simbólica do poder) – criticado por Antonio Carlos Robert de Moraes; desterritorialização como precarização territorial, território e região como categorias de análise, da prática e normativas; influências “pós-modernas” e/ou pós-estruturalistas – debate com Blanca Ramírez (México) sobre o estruturalismo de “O mito da desterritorialização”
Decidi aproveitar a oportunidade deste convite para fazer um balanço autobiográfico de trajetórias que, em maior ou menor grau, formaram minhas múltiplas geografias vividas. Não se trata exatamente de uma “egogeografia”, nos moldes propostos por Jacques Lévy pois, como afirmam Yann Calbérac e Anne Volney, num número especial da revista “Géographie et Cultures”:
Para além da (auto)bio-geografia de geógrafo que visa, pelo relato de vida, compor uma figura de pesquisador(a) ao ancorá-lo nos lugares em que a carreira se desdobra, ou além da abordagem egogeográfica inspirada por Jacques Lévy, que pretende construir a autoridade de um(a) autor(a) graças a um retorno sobre sua produção científica, este número [estas memórias, no meu caso] convida[m] a explorar as múltiplas relações entre o ego (dimensão identitária do sujeito epistêmico) e a geografia (conjunto de conhecimentos e de métodos) (Calbérac e Volnev, 2015).
Redigir um memorial acadêmico (como fiz em 2015 para concurso de professor Titular) ou como, neste caso, um conjunto múltiplo de memórias, numa “autobiografia”, não é tarefa fácil, pois nossa lembrança é sempre seletiva e nem sempre aquilo que nos parece mais relevante – ou “crítico” – o seria sob o olhar de um outro. Realizar um balanço e uma análise crítica de nossa contribuição é ainda mais temerário. Corre-se todo o tempo o risco da falta e/ou do egocentrismo. Nossas trajetórias são moldadas não apenas pelo que é possível transpor em relatórios burocráticos, mas se revestem da dimensão do vivido que, muitas vezes, é a única capaz nem tanto de explicar, mas, pelo menos, de fazer compreensíveis nossas opções e feitos, não apenas no âmbito pessoal mas também na esfera mais estritamente profissional-acadêmica. Da mesma forma que as categorias analíticas que racionalizamos não podem ignorar seu uso enquanto categorias da prática, no senso comum cotidiano (pois é com elas que, em última instância, agimos), também devemos pensar nossos caminhos numa íntima associação entre construção intelectual e práticas da geografia vivida. Talvez nem tanto mas um pouco concordando com Clarice:
É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei-o bem, mas não posso dizer. Sobretudo tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar não só não exprimo o que sinto como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ou pelo menos o que me faz agir não é o que eu sinto, mas o que eu digo. (Lispector, 1943:11)
Por isso, acredito que somente um conjunto de memórias onde se cruzem sensibilidade e razão, experiência concreta e reflexão teórica, é capaz de revelar a riqueza labiríntica desses percursos. Com o cuidado, sempre, para não cair nem no esquecimento que ignora pontos e personagens significativos, nem na pretensão e/ou na arrogância que enaltecem exageradamente algumas de nossas realizações.
Romper com a dicotomia entre o subjetivo e o objetivo, a emoção e a razão, pois essa ordenação de memórias permite – ou melhor, poderíamos dizer, “exige” – a sua permanente imbricação é, portanto, um dos grandes méritos de uma autobiografia ou mesmo de um memorial. Como se trata sobretudo de uma tarefa individual, podemos lembrar o que nos afirma o saudoso geógrafo e amigo Maurício Abreu em seu artigo “Sobre a memória das cidades”:
O espaço da memória individual não é necessariamente um espaço euclidiano. Nele as localizações podem ser fluidas ou deformadas, as escalas podem ser multidimensionais, e a referenciação mais topológica do que topográfica (ABREU, 1998:83). (1)
Nesse sentido a literatura e seus escritores também podem ser acionados para nos recordar que não é nada fácil, e mesmo contraproducente, buscar “linhas” ou regularidades numa história pessoal, ainda que pelo viés acadêmico. O grande Guimarães Rosa, por exemplo, nos alerta que “as lembranças da vida da gente se guardam em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimentos, uns com os outros não se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância” (2) . Isso nos faz lembrar também da leitura genealógica foucaultiana, que privilegia as rupturas e as descontinuidades. Quando se trata de memória, fica ainda mais difícil encontrar um fio condutor que demonstre a continuidade da lembrança. Ela é feita em pedaços, e somente o menos importante é que permite falar em continuidade. O novo efetivamente emerge nos momentos de descontinuidade com o que já estava concebido, repetitivamente dado.
Talvez pudéssemos pensar também que na própria vida concreta os momentos de fato relevantes são aqueles que rompem com as continuidades e estabelecem rupturas. Nesse sentido, o novo, o que inaugura uma nova etapa ou descoberta, só pode brotar do sentido do “fazer diferença” que representam determinados momentos – e lugares, eu acrescentaria. Quem/aquilo que “faz diferença” em nossas vidas é quem/aquilo que nos instiga à mudança, rumo a outras perspectivas de mundo. E quem
faz diferença, obviamente, é o Outro. Daí uma marca que posso identificar, desde agora, na minha trajetória: a busca do Outro que eu fui buscar, através da Geografia, pela diferença que fazem os nossos múltiplos espaços de vida – relembrando imediatamente a noção de espaço de Doreen Massey como a esfera da multiplicidade. Daí a proposta de intitular este relato “Múltiplos territórios de memória”. São muitos os referentes espaciais que moldam nossas trajetórias e que permitem um processo de des-reterritorialização plural e constante.
Como afirma Assmann, pesquisadora na área de estudos culturais:
"Após intervalos de suspensão da tradição, peregrinos e turistas do passado retornam a locais significativos para eles, e ali encontram uma paisagem, monumentos ou ruínas. Com isso ocorrem “reanimações”, mas quase tanto o lugar reativa a recordação quanto a recordação reativa o lugar (Assmann, 2011)."
Com Assmann, deduz-se que lugares viram quase “sujeitos” pois, ao serem observados, podem instigar determinadas sensibilidades e ações. Assim, estamos bem acompanhados quando identificamos, em espaços do nosso passado – ou do passado que se condensa no presente (lembrando a “acumulação desigual de tempos” de Milton Santos), a força de determinados referenciais concretos que, imbuídos de um profundo simbolismo, podem provocar em nós uma espécie de atualização de viagem no tempo.
Gostaria de tecer primeiro as linhas gerais e as bases primeiras do ambiente vivido e familiar que permitirão, ao longo do percurso, transmitir um pouco da minha interpretação pessoal sobre vínculos importantes que possibilitaram construir a condição de geógrafo. Geógrafo que se envolveu com problemáticas e conceituações tentando pensá-las com um olhar de algum modo próprio, o que resultou em algumas contribuições e na inserção em debates mais amplos em nível da Geografia brasileira e, hoje, também, estrangeira, especialmente a latino-americana.
Mas há um roteiro proposto e, com base nele, elaborei uma síntese inicial, esperando não esquecer itens, muitos deles desdobrados também ao longo do texto. Em resumo, parto da ideia de ruptura geográfica ao longo da trajetória intelectual e de vida para delinear, de saída, alguns momentos fundamentais de mudança – ou, em termos mais especificamente geográficos, de des(re)territorialização – a saber:
1. A mudança do interior semirrural do Rio Grande do Sul (morei em zonas rurais e duas pequenas cidades, de 1.500 e 3.000 habitantes) para o polo regional que é Santa Maria, centro militar, estudantil e religioso. Essa mudança, aos 12 anos, representou uma grande abertura intelectual. Numa leitura simplista, poderia afirmar que se tratou de um salto do local para o regional – como cidade universitária, Santa Maria também me abria os olhos para as escalas nacional e mundial, auxiliado por meu radinho de ondas curtas e por meus correspondentes estrangeiros e de diversas cidades do Brasil.
2. A saída de Santa Maria, aos 23 anos, para realizar o mestrado no Rio de Janeiro, e aí permanecer – costumo dizer que saí direto do interior do Rio Grande do Sul para a megalópole, sem “estágio” em metrópole; toda uma alteração de modo de vida – e de identidade – se verificou aí, relativizando o regional e afirmando, definitivamente, o nacional (de nuança carioca).
3. A residência de um ano em Paris, durante o chamado doutorado-sanduíche, levou-me a desenvolver uma outra perspectiva sobre o Brasil e, pela primeira vez, fez-me confrontar com uma identidade latino-americana. Uma década depois, com o pós-doutorado, somou-se o ano de residência em Londres, cidade ainda mais global e cosmopolita, contribuindo para mudar uma perspectiva sobre o mundo, numa interação entre suas múltiplas escalas.
Nasci no final dos anos 1950 (31 de março de 1958) no interior semirrural do Rio Grande do Sul – a pequena São Pedro do Sul, da qual não guardei lembranças, pois com poucos meses de vida minha família (então com um casal de irmãos) mudou para a zona rural de Mata, vila que só se emanciparia de General Vargas (depois denominada São Vicente do Sul) em 1965. Ali nasceu outra irmã – somos uma família de quatro irmãos – e foi onde passei meus primeiros cinco anos de vida. Uma vida marcada pela atividade no campo e pelo contato com a grande família de avôs, tios e primos Haesbaert que viviam na localidade chamada São José do Louro . (3) Enquanto a família de meu pai era descendente de portugueses que povoaram a chamada Campanha Gaúcha, minha mãe descendia de migrantes alemães – meu tataravô (Johan Peter Haesbaert), proveniente de Hamburgo, na Alemanha, foi o primeiro pastor luterano na fundação de Novo Hamburgo.
A união de meus pais revela um pouco a integração entre Serra (“Colônia” ítalo-germânica, minifundiária e agrícola) e Campanha (de herança luso-espanhola, latifundiária e pastoril) que marcou a história do Rio Grande do Sul. Esse legado migrante e esse encontro de geografias marcaria também a minha trajetória acadêmica até o doutorado, e ajuda a compreender um pouco porque região, identidade, território e des-territorialização estiveram sempre no centro de minhas investigações.
É interessante perceber que, desde pequeno, sem uma razão clara, até porque estava envolvido concretamente num ambiente geográfico bastante limitado, sentia-me atraído por espaços distantes e desde muito cedo a curiosidade por saber o que se passava em outros cantos do mundo se revelou muito forte, o que incluía o meu inusitado interesse por mapas. Aos seis anos de idade, mesmo morando na zona rural, meus parentes e algumas visitas se divertiam me convidando a subir num banquinho e “discursar” sobre cidades e países distantes. Um tema recorrente era o Rio de Janeiro e o Pão de Açúcar, conhecido através de capas de “folhinhas”, os calendários da época. A partir dos sete anos passei a pedir como presente de aniversário e Natal lápis de cor e cadernos com paisagens na capa para neles (re)desenhar mapas e descrever diferentes regiões do mundo. Dos nove para os dez anos cheguei a redigir, manuscrito, um “almanaque mundial” de países para a biblioteca da escola.
É curioso relembrar o quanto, na infância e adolescência, a ansiedade (às vezes até a angústia) me tomava na busca por uma alternativa a um mundo que muitas vezes me parecia por demais acanhado e opressor. Minha inusitada paixão pelos mapas e descrições de lugares e a leitura/escrita como “diversão predileta” me tornavam de certa forma um estranho nesses ambientes onde transitava, lugarejos cuja condição urbana – ou urbanidade – era ficção dentro da alargada definição político-administrativa de urbano como toda sede de distrito (“vila”) ou município (“cidade”), independente da população.
No interior do Rio Grande do Sul, marcado por uma forte cultura de raízes patriarcais e machista, as barreiras do controle social eram ainda mais cerceadoras. Isso me leva a imaginar que também podemos discutir uma espécie de desterritorialização em nível pessoal, mais subjetiva ou psicológica, quando também individualmente nos vemos como que descontextualizados do espaço-tempo em que vivemos e ao qual, de início sem nenhuma alternativa de escolha, fomos atrelados.
A mudança da zona rural – São José do Louro – para a vila de Mata veio acompanhada da minha entrada na única escola local, o “Grupo Escolar”. Embora diminuta, sem nenhuma rua calçada, a vila – que se emanciparia no ano seguinte à nossa chegada – era servida por trem, uma grande atração, que me amedrontava e seduzia ao mesmo tempo. O trem significava a conexão mais vigorosa com o mundo, o vínculo com o desconhecido, a grande abertura para outras geografias. Uma diversão era, do alto da coxilha, contar os vagões do trem; outra, reunir pilhas velhas transformadas em trens deslocados em sulcos pelo chão. A chegada do “P”, o trem de passageiros, mobilizava o vilarejo.
Lembro de meu aniversário de seis anos e a coincidência com a dita “revolução”, o golpe militar de 1964. Foi minha primeira viagem de trem, com meu pai, convidado por minha tia e madrinha, que aniversariava um dia antes e que residia em São Pedro do Sul. Viagem de apenas 30 quilômetros, mas que para mim pareceu enorme. Lamentei foi antecipar a volta, todos atentos à “ameaça de guerra” e a mobilização do exército na vizinha Santa Maria, cidade que, na época, dizia-se, abrigava o segundo maior contingente militar do Brasil, dada sua posição geopolítica equidistante das fronteiras então mais sensíveis do país, com a Argentina e o Uruguai.
A religiosidade era forte. Fiz a “primeira comunhão” aos 7 anos de idade e compareci a uma reunião convocada pelo pároco com jovens voltados à “vocação sacerdotal”. Para lugarejos rurais ou quase rurais como aquele, o seminário, localizado num centro regional da Campanha, Bagé, era a grande oportunidade para garantir educação gratuita e o prosseguimento dos estudos, já que em Mata só havia “ensino primário”, até a atual quinta série. Lembro da enorme frustração quando o padre me considerou muito criança para decidir sobre o sacerdócio, deu-me um livreto ilustrado sobre a vida no seminário e mandou-me de volta para casa.
Minha família era marcada pela instabilidade financeira e pela des-reterritorialização: ao longo de meus primeiros 20 anos de vida mudamos 10 vezes, numa média de uma mudança de residência a cada dois anos. Com isso, mudava também a escola, e os transtornos eram grandes. Apenas para um exemplo, ao mudarmos de São Vicente do Sul (então chamada General Vargas) para Santa Maria eu havia estudado francês como segunda língua e fui obrigado, nas férias, por minha conta, a estudar inglês para poder acompanhar os estudos. Ao nos mudarmos de Mata para São Vicente do Sul, meus irmãos mais velhos que, para estudar, moravam com os avós em Santa Maria, tiveram uma enorme perda ao trocarem uma excelente escola pública pelo único “Ginásio” de São Vicente do Sul. Ali, mesmo no início da adolescência, estudando à noite, eles começaram a trabalhar – minha irmã como balconista numa livraria e meu irmão vendendo passagens na estação rodoviária. Eu, mesmo entre nove e dez anos, também consegui um trabalho como vendedor de revistas a domicílio. Em Santa Maria, aos 14, teria meu primeiro emprego com carteira assinada, como auxiliar de empacotador.
Uma grande frustração de meu pai era eu e meu irmão não nos envolvermos com ele nas “lides campeiras”. Autoritário e com um severo e muito próprio senso de justiça, meu pai era um típico representante da cultura gaúcha pastoril, e nossa reação, como que negando a vida do campo, ele muito criticou. Relutou muito em mudar para uma cidade maior para que pudéssemos estudar. Minha mãe, ao contrário, sempre gostou de ler e estudar, mas não teve a oportunidade de ir além da terceira série (dizia que havia aprendido na escola rural tudo o que a professora sabia). Ela é quem nos estimulava para que buscássemos outro caminho. Assim, foi graças ao auxílio dos filhos formados (meu irmão é médico e minha irmã mais velha, como eu, professora universitária) que meus pais tiveram uma velhice mais tranquila.
Não eram raras as reações enérgicas e mesmo violentas de meu pai a uma resposta contrária a comandar uma carreta e uma junta de bois ou a colocar os arreios e fazer um percurso (que ele nos forçava) a cavalo. Aos seis anos eu já tinha a tarefa, todas as tardes, de buscar o terneiro no campo, o que pra mim representava uma provação, pois era comum o bezerro sair em disparada e eu, para a indignação de meu pai, chegar em casa chorando porque não havia logrado o intento.
Minha identificação, definitivamente, não era com o ritmo e a tranquilidade do campo que meu pai tentava, a muito custo, nos impor. Preferia a agitação dos centros urbanos – mesmo que uma cidade “de verdade”, como a vizinha Santa Maria, fosse apenas alcançada nas férias a partir de uma muito esperada viagem de fusca proporcionada por um tio que ali residia. Em casa, inovações tecnológicas como luz elétrica e rádio só chegariam por volta dos sete anos de idade. Desenhava-se assim, gradativamente e com muita dificuldade, uma nova geografia, para mim muito mais múltipla e estimulante.
O professor de Geografia do 1º ano do então Ginásio (hoje correspondente à 5ª série, pois na 4ª realizei o então temido “exame de admissão”) convidou-me para um concurso em plena praça de São Vicente do Sul durante a Semana da Pátria, onde até o prefeito e o pároco locais formulavam perguntas. Ganhei como prêmio um dicionário de quatro idiomas ilustrado com mapas e entrada grátis para o cineminha local por dois anos. Lembro que isso me fez ficar muito conhecido, mas a sensação era a de ser percebido como alguém “fora do lugar”, que vivia na biblioteca ou enfurnado nos livros.
A paixão pela Geografia continuou se fortalecendo e a nova mudança, para Santa Maria, cidade média de mais de cem mil habitantes à época, sede da primeira universidade pública do interior do país, fundada em 1960, representou a primeira grande ruptura na minha trajetória de vida. Ali também, logo após a chegada, participei de vários concursos sobre Geografia (através de um programa de rádio chamado “Música e Cultura”, cujo prêmio era um determinado valor para gastar numa loja de roupas da cidade). Foi aí que me deparei com a clássica Geografia dos livros didáticos de Aroldo de Azevedo, que eram indicados para leitura pelo programa.
Logo depois da chegada a Santa Maria, criei o “Clube Amigos da Quadra” entre os vizinhos de quarteirão e passei a organizar um jornalzinho mimeografado, que tinha até “patrocinador” (um dos vizinhos que trabalhava numa concessionária de automóveis). A partir daí comecei a pensar se faria também o vestibular para Comunicação Social – “também”, porque para Geografia nunca tive dúvida. Cursar “Tradutor e Intérprete” como ensino profissionalizante no “Científico” (atual ensino médio) também foi mais um estímulo para escrever. Acabei publicando algumas crônicas no diário “A Razão”, todas elas de natureza geográficas.
O quanto um ambiente social e geográfico representa condição básica na trajetória de quem pertence às classes subalternas às vezes só é devidamente percebido quando nos deparamos com algumas situações concretas. Algum esforço a nível individual, é claro, deve ser considerado, mas, além do fato de ele obrigatoriamente ser muito mais árduo no caso dos subalternos, as condições do que, simplificadamente, denominamos “ambiente social e geográfico” é fundamental, sobretudo no que se refere às oportunidades favorecidas pelo Estado em termos de ensino público de qualidade e empregos e/ou bolsas como garantia de alguma autonomia financeira.
Na impossibilidade de realizar grandes viagens, eu acabava viajando por mapas e enciclopédias. Durante um tempo passava todos os sábados na biblioteca pública de Santa Maria. Numa família grande, de 14 tios e inúmeros primos, felizmente pude contar também com a ajuda de parentes distantes: uma prima de Criciúma, em Santa Catarina, patrocinou minha primeira viagem para conhecer o mar, sozinho, aos 11 anos (com troca de ônibus em Porto Alegre); um primo que se aventurou a trabalhar numa companhia de navegação no exterior e foi parar na Suécia pagava os fascículos de minha coleção de Geografia Ilustrada e, de vez em quando, me presenteava pelo correio com exemplares (muito esperados) da National Geographic. Nesse circuito é importante acrescentar ainda, mais tarde, um presente fundamental na minha formação: no início do ensino superior, escrevendo ao IBGE, fui brindado com uma coleção de dezenas de exemplares do Boletim Geográfico e da Revista Brasileira de Geografia.
Outra fonte básica de informação e que me proporcionou “viajar” por lugares muito distantes, fazendo uma espécie de conexão local-global pré-internet, foram os correspondentes postais. Depois de uma argentina que conheci na rodoviária de São Vicente do Sul e que me enviava folhetos da agência de turismo em que trabalhava, de uma chilena de Valparaíso (a partir de anúncio em diário de Porto Alegre, e que só recentemente fui conhecer pessoalmente), expandi amplamente o número de correspondentes ao colocar anúncio numa revista do Rio de Janeiro destinada ao público jovem e onde propunha “trocar selos, mapas e postais”. Cheguei a receber mais de 100 cartas e mantive cerca de 30 correspondentes durante vários anos, alguns deles do exterior, como Canadá (que depois me visitou em Santa Maria), Alemanha (que depois visitei em Nuremberg) e México. Essa foi a primeira forma que encontrei para, de algum modo, partilhar múltiplas territorialidades, conhecendo outras culturas e preparando o terreno para contatos que puderam se materializar, tempos depois, com viagens efetivas pelo Brasil e pelo mundo.
Em síntese, essa foi minha “entrada”, na infância e na adolescência, no universo geográfico dos mapas e da descrição de lugares, regiões e países, que me levou a desenvolver uma grande admiração pela Geografia – nem tanto a “ciência geográfica”, que eu ainda mal conhecia, através de mapas e descrições elementares, mas a geografia cotidiana, vivida, que tanto afeta o senso comum através da simples curiosidade por saber o que se passa em outros cantos do mundo e do quanto é rica – e desigual – a diferenciação do ecúmeno terrestre.
Essa multiplicidade de territórios que, concreta ou virtualmente, iam se sobrepondo na minha trama de vida, sem dúvida ajuda a entender a força futura de minha percepção da multi ou mesmo transterritorialidade de tantos grupos sociais – alguns diriam até, da condição multiterritorial inerente à condição humana. Condição essa que, dependendo da situação econômica e cultural, não só permite vivenciar, concomitantemente, múltiplos territórios, como também oferece distintas – e profundamente desiguais – possibilidades de transitar entre territórios diferentes. De algum modo, desde pequeno, desconfortável com a territorialidade que me era imposta, estive em busca de um outro espaço, e esse outro, eu descobriria ainda na adolescência, na verdade, também era parte de mim mesmo. A desterritorialização que vivíamos com tanta troca de residência era experimentada também subjetivamente: meu território era múltiplo, e Santa Maria seria apenas o começo de uma longa trajetória de busca e trânsito por múltiplas territorialidades.
A Geografia que recebi em minha formação básica na Universidade Federal de Santa Maria, na segunda metade dos anos 1970, em pleno ensaio para a saída da ditadura militar, foi basicamente uma Geografia tradicional e amplamente descritiva. Mas, pautado numa herança “enciclopédica” (ao memorizar as capitais, o desenho e características dos diferentes países do mundo), eu não condenava essa Geografia. O que me indignava eram professores que, como a esposa e a filha do reitor (professoras de Geografia medíocres que, por nepotismo, se tornaram docentes universitárias), usavam uma descrição tão elementar e inútil que suas aulas se transformavam num exercício de paciência e comiseração. “Virou lenda” a leitura em sala de aula, durante mais de um mês, da carta de Pero Vaz de Caminha na disciplina de Geografia do Brasil.
Alguns professores, entretanto, como os de Geomorfologia (o geógrafo e exímio desenhista Ivo Muller Filho) e Geologia (o geólogo Pedro Luiz Sartori) foram marcantes. A tal ponto que nos dois primeiros anos minha inclinação maior foi pela Geografia Física – até hoje com carga inicial mais forte na maioria dos cursos de graduação. Já no segundo semestre do curso assumi a monitoria de Mineralogia e Petrografia, o que me levou, mais tarde, a ser convidado pelo professor Pedro para um inesquecível trabalho de campo com coleta de amostras de rochas em todo o planalto catarinense, de Chapecó, no oeste, a São Joaquim, no leste do estado (4).
Também graças a essa formação uma das primeiras disciplinas que ministrei no ensino superior (na FIC – Faculdade Imaculada Conceição, hoje Universidade Franciscana, em Santa Maria) foi Mineralogia. Um currículo que em nada parece se relacionar com as linhas de pesquisa que segui logo depois, mas que marcou de tal modo minha formação que a isso delego a constante preocupação em não dicotomizar sociedade e natureza, Geografias Física e Geografia Humana. Isso já estava evidente em um de meus primeiros artigos de divulgação, “Pela unidade da Geografia”, publicado no diário Correio do Povo, de Porto Alegre, em 1979; (5)
Eram tempos complicados, politicamente turbulentos, com o início da “abertura”, e geograficamente agitados, com a disputa entre uma Geografia quantitativa de matriz neopositivista, dita também pragmática, por suas ligações com o planejamento, e uma Geografia crítica de matriz marxista, recém chegada ao contexto brasileiro. Em Santa Maria, de certo modo uma “periferia distante”, ainda dominada por uma Geografia “tradicional” e descritiva, eu vivia um duplo dilema. Difundida desde o final dos anos 1960 no Brasil, especialmente na UNESP-Rio Claro, no IBGE e na UFRJ (onde ainda em 1982 fui obrigado a fazer provas de Matemática e Estatística para ingressar no mestrado), a chamada Geografia quantitativa só apareceria no final do curso de graduação e a novata Geografia crítica marxista simplesmente, na UFSM, não existia.
O ingresso na primeira turma do curso de bacharelado (curiosamente denominado “curso de Geógrafo”, como constava até na pasta vendida pelo Diretório Acadêmico) deu-se após novo exame vestibular, depois de já ter cursado um ano de licenciatura. A conhecida hesitação dos cursos de Geografia, Brasil (e mundo) afora, entre as áreas de Ciências Humanas e Exatas/Naturais chegou ao extremo de colocar-se o curso de bacharelado num Centro (o de Ciências Matemáticas e da Natureza como ocorre, por exemplo, com o curso de Geografia da UFRJ) e o de licenciatura em outro (Filosofia e Ciências Humanas, como na Geografia da USP).
O contexto político da época também merece ser comentado, principalmente porque estive envolvido diretamente com a política estudantil, presidindo um Diretório Acadêmico. A politica altamente conservadora do período militar fazia com que a grande maioria do movimento estudantil, principalmente em universidades interioranas como Santa Maria, fosse cooptado pela Arena, o partido governista (e sua fictícia oposição, o MDB, que assegurava a máscara democrática do regime). Durante vários anos experimentei o ocultamento pela mídia do que se passava no país, especialmente para quem vivia no interior e sem acesso às raras mídias de oposição, associado a uma avalanche de publicações governamentais (algumas gratuitas, como a revista “Rodovia”, que eu recebia). Infelizmente só fui adquirir efetiva consciência política através de um radinho de ondas curtas (onde sintonizava programas em português de rádios como Deutsche Welle, Central de Moscou e Rádio Pequim), com alguns correspondentes estrangeiros que enviavam artigos de exilados brasileiros (como Francisco Julião, das Ligas Camponesas, no México) e, já no terceiro ano de universidade, a participação, fundamental, no Congresso Nacional de Geógrafos de Fortaleza em 1978.
O fascínio pelas viagens, quaisquer que fossem, por lugares diferentes, faz parte do meu envolvimento, desde a infância, com uma espécie de “heterotopia” que bem mais tarde fui descobrir, primeiro em Foucault, depois em Lefebvre – na verdade este antecedendo àquele em termos de proposição. Para Lefebvre, em sua teoria do “espaço diferencial”, comentada em “A Revolução Urbana”, a heteropia é o “o outro lugar e o lugar do outro, ao mesmo tempo excluído e imbricado” (2004:120) – e que, ele fazia questão de enfatizar, não era representada pela separação, pela segregação que, mesmo lado a lado, distancia, e sim pelos contrastes, superposições e justaposições – uma espécie de multiterritorialidade. Para este autor, as diferenças e a heterotopia, condizente com minha atração pelas cidades, referia-se basicamente ao urbano, pois “as diferenças que emergem e se instauram no espaço não provêm do espaço enquanto tal, mas do que nele se instala, reunido, confrontado pela/na realidade urbana” (2004:117).
Como lugar de encontro e sobreposição de diferenças, dirá Lefebvre, “todo espaço urbano teve um caráter heterotópico em relação ao espaço rural” (2004:117) – embora hoje, com as novas tecnologias, nem tanto. Para uma criança e adolescente como eu, morador do campo e de embriões de cidades, as diferenças brotavam de uma apropriação do espaço em que era impossível segmentar a diferença que o próprio espaço dito natural incorporava, “produzia”, e a diferença mais estrita dessa perspectiva urbana lefebvreana. O espaço, em maior ou menor grau de urbanidade, para mim, até hoje, é um “potencializador de diferenças” (ou da multiplicidade, como diria Massey [2008]) – o espaço geográfico, em seu mais amplo sentido, efetivamente, “faz diferença” – ou melhor, pode fazer diferença, dependendo da sensibilidade e do “afeto” (a capacidade de afetar e ser afetado) constituinte da geo-história de cada um de nós.
A ida ao III Encontro Nacional de Geógrafos, em Fortaleza, foi outro momento de ruptura muito representativo. A viagem foi realizada com grande dificuldade – consegui dinheiro emprestado com meu avô e tive o apoio de amigos correspondentes ao longo dos quatro dias de percurso. O momento mais aguardado era o do retorno de Milton Santos ao país, depois de muitos anos de uma espécie de autoexílio no exterior. A mesa-redonda que ele dividiu com Maurício Abreu, representante de outra linha teórica, a geografia quantitativa neopositivista de matriz norte-americana, tornou-se até hoje um momento emblemático da Geografia brasileira. Maurício se tornaria depois meu professor no mestrado e um de meus maiores amigos . (6) O Encontro de Fortaleza também me proporcionaria a leitura da cópia clandestina de “A Geografia, isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra”, de Yves Lacoste, fotocopiada e distribuída durante o evento por estudantes da Universidade Federal Fluminense.
Com relação à ruptura com a visão tradicional e conservadora de Geografia veiculada pelo curso, ressalto dois fatores principais: meu empenho em participar desses eventos da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), fundamentais na minha formação extracurricular, e o contato com professores externos, alguns convidados especialmente para ministrar módulos de disciplinas do bacharelado que não encontravam docentes no nosso próprio Departamento, como “Geografia Teorética” (um dos nomes equivocados da Geografia quantitativa neopositivista) e “Geografia Aplicada”.
A primeira foi ministrada por Dirce Suertegaray, uma de nossas poucas professoras com pós-graduação (nesse caso, mestrado na USP), contratada como colaboradora já que estava vinculada também à Unijuí (universidade desde então reconhecida por posicionamentos críticos). Dirce, que depois foi também diretora da AGB, é hoje uma das mais reconhecidas pesquisadoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. “Geografia Aplicada”, ministrada de forma concentrada, coube aos geógrafos convidados Aluizio Capdeville Duarte e Luiz Bahiana, do IBGE/Rio de Janeiro. Destaque especial teve Aluízio Duarte, responsável depois, via correio, pela orientação de minha monografia de conclusão de curso, relativa à delimitação da área central de Santa Maria. Ele havia realizado pesquisa, referência relevante, sobre a área central do Rio de Janeiro e teve, depois, participação importante no debate que travei sobre a questão regional durante o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Com base na herança dos encontros e cursos da AGB, até hoje incentivo muito os estudantes a participarem desses eventos, fundamentais para fortalecer o espírito crítico e estimular a abertura para novos horizontes teóricos. Os encontros e cursos promovidos pela AGB, tanto em nível nacional quanto estadual (a sempre atuante AGB-Porto Alegre), foram, assim, imprescindíveis na minha formação. Foi num desses encontros estaduais, em Caxias do Sul, que tive travei meu primeiro contato pessoal com Bertha Becker, depois minha orientadora de mestrado na UFRJ.
Meu grande dilema intelectual na graduação foi que, ao mesmo tempo em que me deparava com autores, principalmente geógrafos ligados ao IBGE e à UNESP de Rio Claro, que abraçavam uma Geografia neopositivista ou quantitativa que eu praticamente desconhecia, também tomava conhecimento da renovação crítica proporcionada pela Geografia de fundamentação marxista, representada principalmente pelas figuras de Yves Lacoste em sua “revolucionária” perspectiva de uma Geografia “para fazer a guerra”, e Milton Santos, o grande geógrafo brasileiro que retornava de sua espécie de exílio e que acabaria sendo meu professor durante o mestrado na UFRJ e o doutorado na USP.
Como as mudanças nunca são lineares e unidirecionais, não se pode esquecer do convívio concomitante com a crítica, de caráter mais epistemológico (e menos político-ideológico), da chamada Geografia Humanista – aqui mais conhecida, à época, como “Geografia da Percepção”. Nesse sentido foi muito importante um minicurso ministrado em 1980 pela geógrafa Lívia de Oliveira, uma das pioneiras desse pensamento na Geografia brasileira. Também ficou nítida para mim a relevância dessa perspectiva mais subjetiva do espaço quando de uma crítica que foi feita a meu trabalho sobre a delimitação da área central de Santa Maria, no Encontro da AGB em Porto Alegre, em 1982 . (7)
Um outro momento de ruptura espacial que representou uma transformação efetiva no meu modo de ver a Geografia – e o próprio espaço vivido – foi o saída de Santa Maria para cursar o mestrado no Rio de Janeiro, “com a cara e a coragem”, em 1982. Na verdade, minha intenção inicial era cursar pós-graduação na Universidade de São Paulo – principalmente pela maior identificação com a linha teórica crítica ali predominante. A opção pelo mestrado na UFRJ, mesmo com seus temidos exames de Matemática e Estatística, deu-se em função, fundamentalmente, de três fatores: a forma mais democrática de seleção – um concurso geral e aberto – ao contrário da USP, onde o ingresso era (e ainda é) feito diretamente com o orientador e suas vagas; o antigo fascínio pela cidade e o fato de já ter conhecido a geógrafa Bertha Becker, que me estimulou a candidatar-me ao mestrado em sua instituição.
A escolha pelos temas da diferença/desigualdade regional e da identidade pode ser vinculada às experiências vividas no interior do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, percebendo o encontro entre duas visões de mundo, muitas vezes antagônicas, simbolizadas pelas geografias e histórias diversas de meu pai e minha mãe. Enquanto o primeiro representava o velho “gênero de vida” gaúcho-campeiro, identificado com a pecuária extensiva e o latifúndio e amplamente moldado pelas práticas do chamado tradicionalismo gaúcho, minha mãe carregava uma herança imigrante da “Serra” minifundiária, pautada na ética protestante da ascensão social pelo trabalho, principalmente o trabalho agrícola.
Em segundo lugar, acredito que essa minha aproximação com o tema identitário (que se estenderia até meu doutorado) teve relação também com a busca por explicar a questão identitária representada, em nível mais individual, pela nem sempre fácil relação travada com meu pai e, através dele, com a identidade regional em seu conjunto. A identidade vista enquanto processo ambíguo e contraditório está, assim, indissociavelmente ligada às dinâmicas de diferenciação, pois só se constrói o “idêntico” (ou o “semelhante”) pela construção, concomitante, do diferente. Esse jogo permanente entre identidade e diferença está moldado sempre, é claro, como enfatizado na dissertação de mestrado em relação à identidade gaúcha, por um histórico de desigualdade e poder onde hegemonia e subalternidade se conjugam na imposição daquilo que Gramsci, reunindo coerção e consenso, definiu como bloco hegemônico ou bloco histórico – neste caso, também, um bloco agrário.
Ao falar dessa construção teórico-conceitual não há como, agora, através dessas memórias, não retomar meandros da própria relação com meu pai, sempre contraditória. Minha relação com seu espaço de referência identitária, a Campanha gaúcha, seria moldada por uma profunda ambiguidade, entre a atração e a repulsa. Vagar por aquele horizonte aberto do Pampa era um convite ao desafio (misto de fascínio e temor) pela abertura permanente para o novo, o ilimitado, e pela sensação de vulnerabilidade e não ocultamento do que ainda está por surgir. Os imensos latifúndios são ao mesmo tempo símbolo de liberdade e de dominação, através das cercas impostas sobre o modo de vida livre dos povos originários. Meu pai também portava, um pouco, essa representação: rígido, intempestivo, temido e marcado por uma afetividade reprimida, um forte e muito próprio senso de justiça, ao mesmo tempo que imerso em uma recorrente situação de fragilidade econômica.
O mestrado na UFRJ e a vivência da cidade do Rio de Janeiro para um gaúcho do interior do Rio Grande do Sul foi um dilema e um enorme aprendizado. A dificuldade da adaptação foi grande, mas o Rio era também um espaço profundamente estimulante, onde tive o privilégio de viver experiências marcantes, incluindo as políticas, como a campanha eleitoral de Brizola e as manifestações pelas Diretas-Já. Com as dificuldades financeiras, não conseguindo sobreviver apenas com a bolsa e a poupança que havia construído, tive de recorrer a vários empregos, começando por dar aulas para o “1º Grau” (da 6ª à 8ª séries) em Jacarepaguá e Botafogo, fazendo concurso para o magistério estadual (aulas para adultos no Sambódromo) e para o ministério da Aeronáutica (aulas para 2º Grau no Colégio Brigadeiro Newton Braga, na ilha do Governador) e também dando aulas na PUC-Gávea, para só enfim, em 1986, ingressar na Universidade Federal Fluminense.
Entre os professores do mestrado, além dos geógrafos Bertha Becker, Maria do Carmo Galvão, Roberto Lobato Corrêa e Maurício Abreu, da socióloga Ana Clara Ribeiro e do filósofo Hilton Japiassu, tive o privilégio de ser aluno de Milton Santos, durante sua rápida passagem pela UFRJ. No período em que cursei sua disciplina, fui convidado para trabalhar em sua pesquisa sobre as transformações urbanas na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente as consequências do Projeto Rio, que então se desdobrava na área do Complexo de favelas da Maré. Esse projeto implicava na remoção de um grande número de famílias da zona de palafitas para conjuntos habitacionais – agora mais próximos, dadas as críticas sofridas pelas remoções para áreas distantes, efetuadas na década de 1960 (caso, emblemático, da Cidade de Deus) . (8)
Milton Santos teria um papel importante na minha formação. Primeiro, pelo significado de sua fala no Encontro de Geógrafos de Fortaleza, em 1978. A partir daí, as leituras de livros como “Por uma Geografia Nova”, “O espaço dividido” e “Economia Espacial: críticas e alternativas” (que ganhei de meu pai como presente de formatura) foram decisivas. Além do convite para a pesquisa na favela da Maré, no congresso da AGB em Porto Alegre (1982) ele me apresentaria o geógrafo Jacques Lévy. Uma década depois, com o próprio incentivo de Milton (e uma carta de apresentação que até hoje muito me orgulha), Jacques Lévy se tornaria meu orientador durante a bolsa de doutorado sanduíche no Instituto de Estudos Políticos de Paris. Tentei a orientação de Milton no doutorado, na USP, mas ele estava sobrecarregado de orientações. Destaco, entretanto, suas relevantes contribuições através da disciplina que cursei e de sua participação no exame de qualificação, além do generoso prefácio que fez ao livro que resultou da tese, “Des-territorialização e identidade: a rede ‘gaúcha’ no Nordeste” (Haesbaert, 1997) (9) . No doutorado tive a orientação do geógrafo Heinz Dieter Heidemann, cujo grupo de debates muito me estimulou durante o período em que, mesmo morando no Rio de Janeiro, viajava semanalmente para o doutorado na USP.
As atividades desenvolvidas com Bertha Becker durante o mestrado também devem ser ressaltadas. Com ela participei de projetos e organizei eventos, com destaque para um encontro internacional da UGI, em Belo Horizonte. Um desses eventos resultou no livro “Abordagens Políticas da Espacialidade” (Becker, Haesbaert e Silveira, 1983), com a participação dos geógrafos Edward Soja, Arie Schachar, Walter Stöhr e Miguel Morales. A pesquisa de mestrado resultou no livro “RS: Latifúndio e identidade regional” (Haesbaert, 1988), tendo como principal contribuição a elaboração de um conceito de região a partir da realidade econômica, política e cultural da Campanha gaúcha. (10)
A questão regional atravessou diretamente minha vida acadêmica ao longo de toda a década de 1980 e tem a ver não apenas com o regionalismo e a identidade regional vividos, mas também com a aposta em uma Geografia minimamente una e “integradora”. Começou pela publicação do livro “Espaço & Sociedade no Rio Grande do Sul” (Haesbaert e Moreira, 1982) e de um breve artigo sobre a regionalização do Rio Grande do Sul (na ótica centro-periferia), em 1983. A questão seria retomada em pelo menos três livros na década de 1990: “Blocos Internacionais de Poder”, de 1990 (com diversas reedições), “China: entre o Oriente e o Ocidente”, de 1994a, e “Globalização e Fragmentação no mundo contemporâneo” (como organizador e autor de dois capítulos), em 1998 (com segunda edição atualizada em 2013).
Esses últimos, juntamente com “A Nova Desordem Mundial”, escrito com o colega Carlos Walter Porto-Gonçalves, em 2006, constituem o resultado, em grande parte, de minha inserção, desde 1985, na Universidade Federal Fluminense, na área de “Geografia Regional do Mundo” – uma área pouco valorizada em termos de pesquisa se comparada com outras áreas da Geografia, pelo menos no Brasil. Por isso esses trabalhos de divulgação, de ampla inserção paradidática (“Blocos Internacionais de Poder” foi adquirido em programa governamental para bibliotecas escolares), vieram preencher uma lacuna, especialmente em relação ao ensino, onde são temáticas recorrentes, mas com grande carência de bibliografia. Abriram também perspectivas mais amplas de minha participação em projetos educativos, como a consultoria ao suplemento cartográfico “Mundo – Divisão Política” (jornal O Globo, 1993), debate e consultorias na TV Futura/Fundação Roberto Marinho (1995-96), e convites para minicursos em instituições como o Colégio Pedro II e a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro.
Durante praticamente todo meu período de Universidade Federal Fluminense trabalhei com teoria da região/regionalização. Desses debates resultaram artigos como “Região, Diversidade Territorial e Globalização” (1999) e “Morte e vida da região: antigos paradigmas e novas perspectivas da Geografia Regional” (apresentação na UNESP-Presidente Prudente, 2001). Finalmente, em 2010, publiquei o livro “Regional-Global: dilemas da região e da regionalização na Geografia contemporânea”, publicado também em espanhol em 2019.
Como contribuições teóricas, além do conceito de região já comentado, propus a noção de “rede regional” (Haesbaert, 1997), a partir da experiência des-re-territorializadora dos migrantes sulistas (ditos “gaúchos”) no interior do país. No livro “Regional-Global” elaborei a concepção de região como arte-fato, a fim de superar a dicotomia entre região como simples artifício metodológico e a região como fato concreto, evidência empírica . (11) Boa parte dessas proposições teórico-conceituais teve como pano de fundo importantes trabalhos de campo, como os que desenvolvi na Campanha gaúcha, no mestrado, nos cerrados nordestinos (especialmente o oeste baiano), no doutorado, no leste paraguaio (com os “brasiguaios”), durante a primeira pesquisa como bolsista CNPq (1998-2002), e na fronteira Brasil-Paraguai (especialmente no Mato Grosso do Sul) durante o projeto de regionalização da faixa de fronteira desenvolvido junto com o grupo Retis, da UFRJ . (12)
Outro reflexo dessa importância da questão regional em minhas investigações foi o nome dado a nosso grupo de pesquisa, criado em 1994 como “Núcleo de Estudos sobre Regionalização e Globalização (NUREG)”. Somente em 2020, com a entrada de um segundo “líder”, Timo Bartholl, ele teve sua denominação modificada para “Núcleo de Estudos Território e Resistência na Globalização”, mantendo, entretanto, a mesma sigla. O NUREG, juntamente com o PET – Programa Especial de Treinamento, que implantei na UFF em 1996 e em cuja tutoria permaneci por 4 anos, representaram ambientes de intenso debate, intercâmbio e pesquisa, tendo por ele passado inúmeros alunos de graduação, incluindo 18 bolsistas de iniciação científica, 14 bolsistas PET e 20 com trabalhos de conclusão de curso, estudantes de mestrado (29), doutorado (21) e pós-doutorado (9), além de pesquisadores estrangeiros em diversos tipos de intercâmbio.
O primeiro grande projeto fundamentalmente teórico em nossas investigações veio com a pesquisa de pós-doutorado, realizada na Open University (Inglaterra), sob supervisão de Doreen Massey (2002-2003), com quem passou a ser desdobrado intenso intercâmbio pessoal e acadêmico .(13) Refiro-me às reflexões que resultaram no livro “O mito da desterritorialização: do ‘fim dos territórios’ à multiterritorialidade” (Haesbaert, 2004), que pode ser considerado meu trabalho de maior repercussão, já tendo onze edições em português e duas em espanhol (editora Siglo XXI, México). Este livro marca a consolidação de uma segunda grande linha conceitual de debates, já aberta antes da tese de doutorado, centrada no território e nos processos de des-reterritorialização.
Embora só se tornem majoritárias na passagem dos anos 1990 para os 2000, as reflexões sobre o território vêm de longa data, remontando à influência dos trabalhos de Bertha Becker, Milton Santos e da leitura de Deleuze e Guattari, nos anos 1980. Bertha Becker incorporava o debate do território, especialmente em seus escritos sobre o papel do Estado e a “ordenação” do território. Um dos livros chave de Milton Santos nesse tema foi “O espaço do cidadão”, de 1987. Assim, em meio à finalização do livro “RS: Latifúndio e Identidade Regional”, escrevi um artigo publicado no suplemento “Ideias”, do Jornal do Brasil, em 1987, intitulado “Territórios Alternativos”. Nele eu destacava a relevância da perspectiva geográfica e as novas alternativas que se colocavam a partir da abordagem de autores como Michel Foucault e Felix Guattari (citando também Castoriadis e Baudrillard).(14) Esse artigo me inspiraria, quinze anos depois, abrindo e dando nome ao livro “Territórios Alternativos” (Haesbaert, 2002).
A preocupação com o território se intensificou na década de 1990, com a publicação de artigos, especialmente em congressos – um deles é precursor, no título e no conteúdo, de proposições muito mais aprofundadas, uma década depois, em “O mito da desterritorialização”. Trata-se de “O mito da desterritorialização e as ‘regiões-rede’” (Haesbaert, 1994b), onde era discutida a íntima relação entre território e rede e a conceituação de território-rede (15). O livro resultante da tese de doutorado (Haesbaert, 1997) trouxe no próprio título a questão da des-territorialização e apresentou o conceito de multiterritorialidade, que seria desdobrado em trabalhos posteriores e representaria uma contribuição importante no nosso campo, inclusive entre cientistas sociais de outras áreas. Era uma época de tamanho domínio do debate territorial que território muitas vezes se confundia com a própria noção de espaço. Tentávamos ali, à luz da experiência migrante, precisar um pouco mais o conceito (16).
A influência dos debates sobre território acabou se expandindo, especialmente com a publicação de “O mito da desterritorialização” (em 2004 no Brasil e em 2011 no México), influenciado pela obra de Deleuze e Guattari (especialmente “O Anti-Édipo” e “Mil Platôs”) e, uma década depois, “Viver no limite”. Neste livro diálogo com ideias como a biopolítica de Michel Foucault e o Estado de exceção de Giorgio Agamben, aprofundando noções como as de contenção, precarização e exclusão territorial. Empiricamente, volto-me para a realidade das favelas do Rio de Janeiro.
Nos anos 2000 cabe mencionar também a participação em debates a nível governamental – além do projeto desenvolvido com a UFRJ para o Ministério da Integração Nacional, já comentado, ocorreu em 2003 a “Oficina sobre a Política Nacional de Ordenamento Territorial”, em Brasília. Ali, debatendo a concepção de território a ser incorporada nessa política, tive a satisfação de discutir com colegas geógrafos como Antônio Carlos Robert de Moraes (que, defendendo uma visão estatal, discordava de minha noção de território), Wanderley Messias da Costa e Bertha Becker. O debate foi intenso, principalmente entre uma visão que eu chamaria predominantemente “de cima para baixo”, das dinâmicas territoriais centrada na própria figura do Estado, e outra mais “de baixo para cima”, focada na vivência/prática cotidianas de seus habitantes. Diversos convites recebidos de áreas externas à Geografia, como a Sociologia, a História, os Estudos Culturais, as Artes, a Literatura, a Economia, a Comunicação e até mesmo a Medicina Social demonstram a amplitude de nossa inserção no debate sobre o território, a territorialidade e os processos de des-reterritorialização.
O diálogo teórico-filosófico que pautava nossas reflexões buscou desde o início questionar as abordagens monolíticas e o autoritarismo de uma ciência objetivista e heterônoma sem, no entanto, menosprezar a busca pelo rigor conceitual, analítico, a permanente retroalimentação entre teoria e prática e, sobretudo, a prioridade à crítica social (17) . Foi assim que estivemos entre os primeiros geógrafos a questionar o excessivo racionalismo “moderno” em leituras materialistas mais ortodoxas e a inserir a dimensão cultural, mais subjetiva, na constituição do espaço geográfico. Evidências disso são artigos como “O espaço na modernidade” (escrito com Paulo Cesar da Costa Gomes em 1988), “Filosofia, Geografia e crise da modernidade” (de 1990) e “Questões sobre a (pós)modernidade” (de 1997), todos republicados em “Territórios Alternativos” (Haesbaert, 2002). No intenso debate que se travava na época entre modernidade e pós-modernidade, uma das proposições foi de que uma perspectiva distinta e transformadora da modernidade envolveria: ... a possibilidade de que, rompendo com os dualismos, se assuma um projeto profundamente renovador, que nunca se pretenda completo, acabado, que respeite a diversidade e assimile, ao lado da igualdade e do “bom senso”, a convivência com o conflito e a consequente busca permanente de novas alternativas para uma sociedade menos opressora e condicionadora – onde efetivamente se aceite que o homem é dotado não apenas do poder de (re)produzir, mas sobretudo de criar, e que a criação é suficientemente aberta para não se restringir às determinações da razão. (Haesbaert, 1990:84)
O estágio de doutorado na França, sob supervisão de Jacques Lévy, entre 1991 e 1992 foi outro momento vivido de clara ruptura de trajetória, principalmente na minha perspectiva de olhar o mundo (aquilo que mais tarde eu definiria como a característica mais marcante potencializada pelo espaço geográfico: a mudança de perspectiva). Na França – e nas inúmeras viagens realizadas a partir dali, especialmente aquelas ao Marrocos e à China/Tibet (ambas em 1992) – pude perceber pela primeira vez uma “identidade latina” – ou “latino-americana” – que, de outra forma, não seria tão nítida (18). Esse impacto das viagens no modo de olhar o mundo – que começara virtualmente com os “correspondentes” da juventude – se fortaleceu a tal ponto que boa parte de minhas economias passou a ser canalizada para essas viagens. Além das muitas viagens a trabalho, onde quase sempre proponho acrescentar uma saída de campo, durante muito tempo planejei viagens de férias nas quais, sem outro compromisso que o de um relato, redigia escritos pessoais e tirava fotos que acabaram servindo como material para dois livros de crônicas: “Por amor aos lugares” (2017) e “Travessias” (2020).
Essas viagens acabavam, de um modo ou de outro, problematizando a minha identificação pessoal e com os lugares. A questão identitária, assim, nunca saiu completamente do meu campo de preocupações. Meu memorial para professor Titular, ao qual recorri para parte deste relato biográfico, termina com o item “De volta ao início: questão de identidade”. Trata-se da busca permanente de um sentido de vida, sempre atrelado ao espaço onde nos movemos. Presente tanto no título do livro de minha dissertação de mestrado quanto no do doutorado, “identidade” é tratada a partir de sua caracterização como processo social (de “identificação”), de sua imbricação indissociável com relações de poder (o “poder simbólico”) e de sua multiplicidade. Assim, desde o artigo “Identidades territoriais”, de 1999, diversos trabalhos aprofundaram o debate teórico da questão, culminando em 2007 com a organização do livro “Identidades e territórios”, num projeto conjunto com Frederico Araújo (IPPUR-UFRJ).
Durante alguns anos dividi com Perla Zusman (UBA) a representação latino-americana do comitê de Geografia Cultural da UGI, tendo como resultado evento e livro (“Geografías Culturales”, 2011), com a presença de geógrafos como Neil Smith, Gil Vallentine, Paul Claval, Jacques Lévy, Vincent Berdoulay, Daniel Hiernaux e Alicia Lindon, além de diversos brasileiros. Em duas realizações do “Simpósio Nacional Discurso, Identidade e Sociedade” (2001 e 2006), organizado pelo departamento de Letras da UFRJ e PUC-Rio, participei como membro da comissão científica e como conferencista, além de ter publicado capítulos de livro. Os eventos promovidos por artistas mineiros na Oi Futuro-Belo Horizonte e no Museu da Pampulha (além de outro, sem publicação, na FAOP-Ouro Preto), resultaram em obras bilíngues onde também publiquei dois capítulos de livro. A artista Marie Ange Bordas, que tem um reconhecido trabalho vinculado a campos de refugiados, estimulada por meu conceito de multiterritorialidade, convidou-me para participar de publicação por ela organizada e de mesa-redonda de lançamento da obra no SESC-Pompeia (São Paulo).
Diversos outros debates envolvendo o tema foram realizados, incluindo análise da identidade brasiguaia, a questão do hibridismo cultural e, um pouco mais recente, uma associação entre transterritorialidade e antropofagia – essa forma muito brasileira, definida no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, de “deglutir” o outro e fazer dele, sempre, algo diferente. Maior hibridismo cultural, às vezes moldado de forma violenta e/ou compulsória, como aquele de muitas diásporas migratórias, mescla-se com novas formas de apego a identidades (nacionais, regionais, locais) tidas como fechadas e que, quando vinculadas a um território específico, alimentam o fenômeno dos novos territorialismos. Abre-se um amplo leque de questões, revalorizando a questão cultural-identitária, cultura vista sempre como cultura política, sem falar na mercantilização que até a imagem dos lugares pode transformar em instrumento de compra e venda.
“Não concluindo”, com a questão da identidade (e toda a polêmica que envolve o tema nos nossos dias, incluindo aqueles que questionam o termo e propõem um tratamento teórico “para além da identidade”) podemos dizer que “voltamos ao início”, já que toda a nossa trajetória foi marcada, de um modo ou de outro, pela (des)construção identitária, seja em nível mais pessoal, seja em um nível acadêmico em sentido estrito. Isso para afirmar que nossos caminhos de investigação não podem nunca ser desvinculados das questões com as quais nos encontramos mais direta e pessoal e/ou socialmente envolvidos.
Identidade/identificação lembra também o contexto espaço-temporal em que está inserido nosso pensamento, aquilo que hoje banalizou-se como “lócus de enunciação” ou “lugar de fala”. Pois é a partir da valorização desses contextos geo-históricos ou da nossa geopolítica do conhecimento (como diria, entre outros, Ramon Grosfoguel) que nos inserimos, a partir do debate pós-colonial nos anos 2000 (iniciado com a leitura de Stuart Hall), na abordagem dita descolonial, de bases latino-americanas. A participação em diversos eventos na Colômbia (universidades de Antioquia e Javeriana, de Medellín), na cidade do México, na Argentina (Mendoza e Córdoba, além de cursos ministrados em Tucumán e Buenos Aires), com estadas também em Cuernavaca e Zamora (México, onde conheci a experiência autonomista de Cherán), Quito (Equador, onde visitei uma comunidade cayambe), Lima (Peru) e Chile (com visita a uma comunidade mapuche) – tudo isso me despertou para a realidade latino-americana e acabou me levando a debater o conceito de território a partir do corpo (tal como proposto pelos movimentos feminista e indígena) e a refletir sobre a abordagem descolonial na Geografia. Isso resultou no meu último livro, “Território e descolonialidade”, publicado pela CLACSO/Buenos Aires. De alguma forma é a minha “identidade latino-americana” que finalmente se coloca no centro de minhas preocupações, em todo o jogo político-econômico que coloca a questão territorial numa inédita centralidade.
Dois momentos iniciais que considero decisivos para essa guinada rumo ao chamado giro territorial (que eu denomino também multiterritorial) descolonial na América Latina, além das leituras iniciais sobre pós-colonialidade (que se fortaleceram no pós-doutorado com Doreen Massey, em 2002-2003), foram a redação do livro “Regional-Global”, cuja conclusão coloca claramente a questão, e a organização do “IV Encontro da Cátedra América Latina e Colonialidade do Poder: para além da crise? Horizontes desde uma perspectiva descolonial”, em 2013, juntamente com os colegas Carlos Walter Porto-Gonçalves, Valter Cruz (UFF) e Carlos Vainer (UFRJ). Nesta ocasião foram nossos convidados pensadores chave nessa perspectiva de pensamento, como Anibal Quijano, Catherine Walsh, Alberto Acosta, Edgardo Lander e Luis Tapia.
É importante lembrar ainda que todo esse trabalho acadêmico estava sempre associado a atividades administrativas e em órgãos institucionais, como a vice-coordenação da Pós-Graduação por duas vezes (partilhada com o companheiro Marcio Pinon), a participação por vários anos no comitê do Vestibular e na avaliação PIBIC, além do comitê editorial da editora da UFF. Em nível nacional, participei do comitê assessor da Capes e fui representante de área junto ao CNPq. Participei ainda da fundação e, durante duas décadas, do comitê editorial da revista GEOgraphia. Nela ainda hoje sou responsável pelas seções Nossos Clássicos (que esteve também ligada ao livro “Vidal, Vidais”, organizado com os colegas Sergio Nunes e Guilherme Ribeiro) e Conceitos Fundamentais da Geografia (onde já participaram geógrafos convidados, como Paulo Cesar da Costa Gomes, Sandra Lencioni, Leila Dias, Werther Holzer e Iná de Castro).
Poderia dizer, assim, que fui gradativamente ampliando minha escala geográfica em termos de envolvimento na investigação. Da área central de Santa Maria no trabalho de conclusão de curso aos gaúchos da Campanha, no mestrado, passei aos migrantes sulistas no Nordeste, no doutorado, segui ainda pelos brasileiros (a grande maioria sulistas) no Paraguai. Somente fui deixar o vínculo com os “gaúchos” (e sua/minha identidade) ao incorporar de fato o Rio de Janeiro e sua multiterritorialidade, o que ocorreu basicamente com a pesquisa “Sociedades de in-segurança e des-controle dos territórios”, efetivada entre 2007 e 2013. Foi quando iniciou, também, meu apoio a movimentos populares como o MCP – Movimento das Comunidades Populares, especialmente seu projeto na favela Chico Mendes, no complexo de favelas do Chapadão, uma das áreas mais problemáticas em termos de precarização social no Rio de Janeiro.
A partir de 2014 a escala de pesquisa ampliou-se para o âmbito continental, tratando do “território como categoria da prática social numa perspectiva latino-americana”, consolidando assim a abordagem territorial a partir “de baixo”, de seu uso como ferramenta da prática, política, entre múltiplos grupos sociais subalternos. Como indiquei, essa ampliação veio como consequência tanto da intensificação do diálogo inspirador com colegas como Carlos Walter Porto-Gonçalves e Valter Cruz quanto dos laços com outros países da América Latina, na condição de professor visitante ou como membro efetivo de programas de pós-graduação (caso ainda hoje da Pós-Graduação em Políticas territoriales y ambientales da Universidade de Buenos Aires e do doutorado em Ciências Sociais da Universidade de Tucumán).
Com isso chego ao final dessa “autobiografia”, intitulada “Múltiplos territórios de memória”. Lamento não ter conseguido alcançar plenamente algumas das metas colocadas de início, como não ser “euclidiano” no caráter sequencial e metódico do relato ou não dissociar razão e emoção, teoria e prática. Acabei conseguindo isso um pouco mais ao falar de minha infância e adolescência. Depois a trajetória intelectual acabou sendo priorizada. Mas espero que o leitor entenda – afinal, quem por ventura ler essas linhas, a maioria certamente será de geógrafos, interessados mais na geografia como campo “científico” do que na geografia individualmente vivida. Espero não ter sido por vezes demasiado cansativo – ou mesmo, como ressaltado no início, egocêntrico.
Como uma espécie de “conclusão inconclusiva” – já que biografia, teoricamente, termina apenas com o fim de uma vida (embora saibamos quantas releituras poderão brotar depois) – eu diria que intitulei “múltiplos territórios de memória” por dois grandes motivos. Primeiro, porque nossa memória, como mencionado no início, é sempre seletiva e geo-historicamente situada – em cada momento e local fazemos uma leitura diferente de nós mesmos, explicitando certos pontos e ocultando outros. Segundo, porque a multiplicidade espacial/territorial é a grande marca que posso identificar na minha trajetória de vida.
Assim como falei de múltiplas rupturas a partir das mudanças geográficas e das viagens, múltiplas territorialidades iam se acumulando ao longo do tempo. Algumas enfraqueciam, outras emergiam com força, mas posso dizer que todas elas, em distintos níveis, continuaram sempre fazendo parte de mim. Seletivamente, é claro, mas numa construção híbrida, num amálgama que sempre foi um traço importante que carrego. Somar e sobrepor, mais do que dividir e excluir. Envolver-se e buscar compreender o espaço/território do Outro. Abertura para a multiplicidade do mundo, para a diversidade do outro, que é também a minha. Tarefa difícil, mas cada vez mais necessária, num mundo tão polarizado e excludente.
Na minha história, a geografia, a diferença que é o espaço e que se multiplica através dele, sempre amalgamou paixão e razão. Transpor limites, fronteiras, para desvendar outros espaços, construir novos horizontes, foi um desafio constante que me coloquei. Nem por isso tem a ver com uma espécie de self made man (neo)liberal – que tanto critico. Sem desconhecer a força que o indivíduo tem – ou melhor, pode ter – gostaria de finalizar lembrando o quanto o Outro e o coletivo têm papel na minha trajetória, e o quão pouco eu teria sido sem eles:
- meu pai e seu gauchismo (que, criticamente, me instigou ao longo de tantos anos de estudos), uma relação conturbada, mas ao mesmo tempo uma vida que, prolongada por 91 anos, proporcionou o tempo indispensável para que também nos amássemos;
- minha mãe, estímulo maior, sensibilidade e resistência, a quem eu afirmava em minha dissertação de mestrado: “teu carinho plantou sementes que outros campos (não importa) estão fazendo brotar”;
- minhas irmãs e irmão, cada um a seu modo, solidários na luta por superar as dificuldades de toda ordem, do emocional ao financeiro;
- meus professores, mestres complacentes e/ou desafiadores, e a escola pública, esta que cursei e em que trabalhei quase a vida toda, grandes responsáveis por me possibilitarem romper com a reclusão da minha condição de classe e de gênero;
- meus estudantes, alunos-mestres, especialmente aqueles do grupo de debates, que me ensinam cotidianamente, há décadas, os (i)limites da razão e o quanto a emoção com ela caminha junto e é indispensável para fortalecer e dignificar o trabalho acadêmico;
- meus colegas de universidade, parceiros de tantas batalhas, na gestão e na renovação de nosso departamento, na criação da pós-graduação, na valorização de nossa revista, na promoção de eventos ou no simples diálogo cotidiano dos corredores às bancas de conclusão de curso (quanto aprendizado conjunto).
- meus grandes, “velhos” amigos, batalhadores como eu, cada um com sua história de luta a nos ensinar, pelo exemplo, o quanto a vida é política, e o quanto o afeto é uma das armas mais poderosas que se pode mobilizar;
- meus amigos da ação direta, do trabalho abnegado, da ajuda mútua, das diferentes frentes de luta, que, apesar de tudo, não abrem mão de sua fé em outros mundos/territórios, sempre múltiplos, e que nunca cessarão de, conosco, batalhar por eles.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABREU, M. 1998. Sobre a memória das cidades. Revista da Faculdade de Letras – Geografia Vol. XIV.
ABREU, M. 1997. Memorial para o concurso de professor Titular na UFRJ. Rio de Janeiro (inédito).
ASSMANN, A. 2011. Espaços da Recordação: formas e transformações da memória cultural. Campinas: Editora Unicamp.
BECKER, B.; HAESBAERT, R. e SILVEIRA, C. (orgs.) 1983. Abordagens políticas da espacialidade. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Geografia.
BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. 2005. Proposta de reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Brasília: Ministério da Integração Nacional.
CALBÉRAC, Y. e VOLNEY, A. 2015. J'égo-géographie, Géographie et Cultures, n° 89/90.
HAESBAERT, R. 1988. RS: Latifúndio e identidade regional. Porto Alegre: Mercado Aberto.
HAESBAERT, R. 1990. Blocos Internacionais de Poder. São Paulo: Contexto.
HAESBAERT, R. 1991. A (des)ordem mundial, os novos blocos de poder e o sentido da crise”. Terra Livre (AGB) n. 9.
HAESBAERT, R. 1994a. China: entre o Oriente e o Ocidente. São Paulo: Ática.
HAESBAERT, R. 1994b. O mito da desterritorialização e as “regiões-rede”. Anais do 5º Congresso Brasileiro de Geografia v. 1. Curitiba: Associação dos Geógrafos Brasileiros.
HAESBAERT, R. 1997. Des-territorialização e identidade: a rede “gaúcha” no Nordeste. Niterói: EdUFF.
HAESBAERT, R. (org.) 1998 (2ª ed. 2013). Globalização e Fragmentação no mundo contemporâneo. Niterói: Editora da UFF.
HAESBAERT, R. 2002. Territórios alternativos. S. Paulo e Niterói: Contexto e EdUFF.
HAESBAERT, R. 2004. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
HAESBAERT, R. 2010. Regional-Global: dilemas da região e da regionalização na Geografia contemporânea. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
HAESBAERT, R. 2013. A global sense of place and multi-territoriality : notes for a dialogue from a “peripheral” point of view. In: Featherstone, D. e Painter, J. (orgs.) Spatial politics: essays for Doreen Massey. Oxford: Wiley-Blackwell.
HAESBAERT, R. 2014. Viver no limite: território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contenção. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
HAESBAERT, R. e MOREIRA, I. 1982. Espaço e sociedade no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Mercado Aberto.
HAESBAERT, R. e ROCHA, A. 2020. Doreen Massey, 1944-2016. In: Bright, E. e Novaes, A. (orgs.) Geographers: biobliographical studies. Londres: Bloomsbury Academic.
HAESBAERT, R. e ZUSMAN, P. 2011. Geografías culturales: aproximaciones, intersecciones, desafíos. Buenos Aires: Editora da Facultad de Filosofía y Letras da UBA.
LEFEBVRE, H. 2004 (1970) A Revolução Urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG.
LISPECTOR, C. 1943. Perto do coração selvagem. Rio de Janeiro: Rocco (disponível em: https://prceu.usp.br/repositorio/perto-do-coracao-selvagem/)
MASSEY, D. 2008. Pelo espaço. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
PETERS, M. 2000. Pós-estruturalismo e filosofia da diferença. Belo Horizonte: Autêntica.
SANTOS, M. 1997. Prefácio. In: Haesbaert, R. Des-territorialização e Identidade: a rede “gaúcha” no Nordeste. Niterói: EdUFF.
NOTAS:
1 Substitui a última palavra, “geográfica”, por “topográfica”, por entender que o topológico é outra perspectiva para a leitura do espaço geográfico.
2 Agradeço a Amélia Cristina Bezerra por essa expressão de Guimarães Rosa.
3 À época, além dos avós, viviam ali 6 de seus 11 filhos. Hoje restam ali apenas primos, sendo que um deles criou um museu (“Fragmentos do tempo”) que recupera um pouco a memória da região e da família.
4 Nesse trabalho ele confirmou sua tese de que os últimos derrames de lava do planalto meridional eram ácidos, dando origem a uma rocha distinta do basalto e que ele denominou “granófiro”.
5 "... sinto-me na responsabilidade não de atentar para uma “nova geografia”, cujo próprio sentido de “nova” é duvidoso, mas de defender seu caráter fundamental (...): a geografia como síntese, (...) de unificação das características fisionômicas e de relação no espaço em que se desenvolvem as atividades humanas. (...) ciência que nunca poderia estar seccionada, como está hoje, em trabalhos “físicos” e “humanos”, como se fazer geografia fosse trabalhar em Geografia Física ou Geografia Humana [grifados "em" e "ou"]. Afinal, o que visam nossos estudos geográficos senão a síntese, a visão global de tudo aquilo que contribui para a explicação de um ambiente, tal como é, e possibilitando prognosticar seu quadro futuro, com base também em etapas passadas?” (Correio do Povo, 17 Ago. 1979)
6 Sobre sua participação nessa mesa, Maurício assim se referiria: “A mesa redonda foi uma experiência que jamais esqueci. Ao contrário de Milton, que era ovacionado a cada ataque que fazia à ditadura cambaleante, que era aplaudido a cada crítica que fazia ao neopositivismo ou ao establishment geográfico, que levava a plateia ao delírio com seu discurso engajado, marxista, até pouco tempo atrás impensável de ser proferido numa universidade sem perseguição política ou mesmo encarceramento, tudo o que recebi da multidão foi silêncio e indiferença. De alguns recebi inclusive o rótulo de ‘reacionário’, e mesmo de ‘imperialista’. Embora não concordando de forma alguma com isso, não havia clima para retrucar. A festa era de Milton e não minha. Ao invés de brilhar, fui eclipsado. Até hoje admiro, entretanto, a coragem que tive ao enfrentar aquela multidão. E continuo gostando muito do trabalho que apresentei naquela tarde”. (ABREU, 1997)
7 O geógrafo paranaense, Lineu Bley questionou-me, a partir de sua perspectiva “humanística”, sobre o objetivismo de minha abordagem. Mesmo reconhecendo a importância da teoria que eu utilizava, destacou que ela ignorava a percepção dos próprios habitantes sobre o que seria a “área central” de sua cidade.
8 Milton propôs a aplicação de questionários (que defini em amostragem de uma centena) junto à Vila do João, conjunto recém inaugurado a cerca de 1,5 km da área residencial original. O discurso era de que com esse “pequeno deslocamento” não teriam ocorrido mudanças negativas importantes na vida dos moradores. A pesquisa demonstrou o contrário, desde o desrespeito a laços de vizinhança e o tamanho (padronizado) das casas até dificuldades no acesso a comércio e serviços. O trabalho foi apresentado no Congresso de Geógrafos de São Paulo, em 1984. Lembro a minha tensão (e ao mesmo tempo honra e gratidão) quando Milton chegou para assistir à apresentação.
9 Neste prefácio ele afirma que o estudo “foi feito com maestria notável, o autor manejando, com propriedade, princípios oriundos da filosofia e de diversas ciências humanas, de modo a produzir uma síntese geográfica com grande riqueza interdisciplinar” (p. 11), “um trabalho sério e documentado, escrito em uma linguagem meticulosa e agradável, mas sobretudo uma análise e uma síntese originais, um estudo fadado a servir como modelo de método (...) e uma importante contribuição teórica à compreensão atual de categorias tão controvertidas quanto as de territorialidade e identidade” (Santos, 1997:12).
10 “... um espaço (não institucionalizado como Estado nação) de identidade ideológico-cultural e representatividade política, articulado em função de interesses específicos, geralmente econômicos, por uma fração ou bloco ‘regional’ de classe que nele reconhece sua base territorial de reprodução”. (Haesbaert, 1988:22)
11 “... qualquer análise regional que se pretenda consistente (e que supere a leitura da região como genérica categoria analítica, ‘da mente’) deve levar em conta tanto o campo da produção material quanto o das representações e símbolos, ideais, tanto a dimensão da funcionalidade (político-econômica, desdobrada por sua vez sobre uma base material-‘natural’) quanto do vivido (simbólico-cultural, mais subjetivo) – em outras palavras, (...) tanto a coesão ou lógica funcional quanto a coesão simbólica, em suas múltiplas formas de construção e des-articulação – em que, é claro, dependendo do contexto, uma delas pode acabar se impondo sobre – e refazendo – a outra”. (Haesbaert, 2010:117)
12 Esse projeto esteve vinculado ao Ministério da Integração Nacional e foi realizado entre 2004 e 2005, através de licitação e foi coordenado pela geógrafa Lia Machado. A participação nesse projeto foi relevante não apenas do ponto de vista de minha primeira experiência direta em projetos governamentais (e consequente diálogo com autoridades como o próprio ministro da Integração Nacional – Ciro Gomes, à época), mas também pelo rico intercâmbio com o Grupo Retis de pesquisa e o trabalho de campo pela região de fronteira entre várias cidades-gêmeas (de Saltos del Guayrá-Guaíra, no Paraná, a Bella Vista-Bela Vista, no Mato Grosso do Sul), incluindo um encontro com lideranças políticas hegemônicas e dos movimentos sociais em Ponta Porã. Seus resultados foram publicados em um livro (Brasil, 2005).
13 Esse intercâmbio incluiu convite para Doreen Massey vir ao Brasil (UFF e ANPEGE-Fortaleza, 2005), tradução de seu livro “For Space” (Massey, 2008), capítulo de livro (em sua homenagem) colocando em diálogo sua concepção de lugar e a nossa de multiterritorialidade (Haesbaert, 2011), participação em mesa-redonda em sua homenagem, após seu falecimento, no encontro da AAG (Boston, 2016) e redação de sua biografia para o livro “Geographers: biobliographical studies” (Haesbaert e Rocha, 2020). A grande amizade com Doreen também me proporcionou viagens de lazer conjuntas, como a que realizamos a Jericoacoara, no Ceará, e ao Lake District, na Inglaterra.
14 Deste artigo, ressalto os seguintes trechos: “Rompendo com uma postura empobrecedora que por longa data marcou as rupturas teóricas radicais ocorridas dentro da Geografia, divisamos hoje um desejo relativamente comum do geógrafo em resgatar suas raízes e assimilar a diversidade com que o novo se manifesta, buscando com isso respostas mais consistentes e menos simplificadoras para as questões que se impõem através da ordenação do espaço e do território. (...) Ao lado da corrente majoritária de geógrafos ainda engajados em torno de teorias universalizantes, simplificadoras, quase sempre, mas ainda assim dotadas de poder explicativo relevante para muitas questões (notadamente de ordem econômica), colocam-se hoje novas exigências teóricas, capazes de responder à dinâmica múltipla e fragmentária do espaço social”. São representativos do momento de mudança que se vivia e do caráter de reavaliação de uma Geografia crítica que deixava de ser monolítica (capitaneada por um marxismo mais ortodoxo) e adquiria rumos mais plurais, com ecos do chamado pós-modernismo e/ou pós-estruturalismo, muito criticados pelo mainstream geográfico brasileiro.
15 “... nunca teremos territórios que possam prescindir de redes (pelo menos para sua articulação interna) e vice-versa: as redes, em diferentes níveis, precisam se territorializar, ou seja, necessitam da apropriação e delimitação de territórios para sua atuação. (p. 209) (...) os territórios neste final de século são sempre, também, em diferentes níveis, ‘territórios-rede’, porque associados, em menor ou maior grau, à fluxos (externos às suas fronteiras), hierárquica ou complementarmente articulados”. (p. 211)
16 “O território envolve sempre, ao mesmo tempo (...), uma dimensão simbólica, cultural, através de uma identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, como forma de ‘controle simbólico’ sobre o espaço onde vivem (sendo também, portanto, uma forma de apropriação), e uma dimensão mais concreta, de caráter político-disciplinar: a (...) ordenação do espaço como forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos. Historicamente, podemos encontrar desde os territórios mais tradicionais, numa relação quase biunívoca entre identidade territorial e controle sobre o espaço, de fronteiras geralmente bem definidas, até os territórios-rede modernos, muitas vezes com uma coesão/identidade cultural muito débil, simples patamar administrativo dentro de uma ampla hierarquia econômica mundialmente integrada”. (Haesbaert, 1997:42)
17 Ao contrário do que afirmam críticos que, em posições mais fechadas, não concebem abertura para o diálogo, elementos ditos pós-estruturalistas presentes em muitas abordagens podem perfeitamente dialogar com leituras críticas como o marxismo. Veja por exemplo, esta afirmação: “ ... pode-se afirmar que não existe nada de necessariamente antimarxista ou pós-marxista seja no pós-modernismo seja no pós-estruturalismo. Na verdade (...) é possível fazer uma leitura pós-estruturalista, desconstrutivista ou pós-modernista de Marx. Na verdade, o marxismo estruturalista althusseriano teve uma enorme influência sobre a geração de pensadores que nós agora chamamos ‘pós-estruturalistas’ e cada um deles, à sua maneira, acertou suas contas com Marx: vejam-se, por exemplo, as ‘Observações sobre Marx’ (1991) que Foucault faz (...); ou os ‘Espectros de Marx’, de Derrida (1994); ou a tese da mercantilização ‘marxista’ no livro de Lyotard, ‘A condição pós-moderna’. (...) Deleuze [que escreveu ‘O Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia’] (...) se via, claramente, como um marxista (Deleuze, 1995:171). Todos esses pós-estruturalistas veem a análise do capitalismo como um problema central” (Peters, 2000:17).
18 Além disso, é claro, a estada em Paris trouxe grandes contribuições intelectuais, especialmente através das disciplinas cursadas na Sorbonne/Collège de France ou na École des Hautes Études em Sciences Sociales (EHESS), ministradas por intelectuais reconhecidos como Cornelius Castoriadis, Pierre Bourdieu, Alain Touraine, Marc Augé e o geógrafo Augustin Berque. Participei ainda dos debates do grupo Europe, dirigido por Jacques Lévy, do Grupo Brésil no IHEAL (Institute des Hautes Études de l’Amérique Latine), dirigido por Martine Droulers, e do Centre des Recherches sur le Brésil Contemporaine da EHESS (nos três participando também como conferencista)
 Foto Pessoal
Foto Pessoal Grupo Escolar de Mata, 1965: desfile de 7 de Setembro, turma do 1º ano primário: a múltipla/ estereotipada identidade brasileira, étnica e de classe (gaúcho, baiana, indígena, camponês, estudante formando [eu] – e o negro como fábula: Saci
Grupo Escolar de Mata, 1965: desfile de 7 de Setembro, turma do 1º ano primário: a múltipla/ estereotipada identidade brasileira, étnica e de classe (gaúcho, baiana, indígena, camponês, estudante formando [eu] – e o negro como fábula: Saci Desfile de 7 de setembro de 1968 em São Vicente do Sul (estou entre a bandeira e a gaúcha)
Desfile de 7 de setembro de 1968 em São Vicente do Sul (estou entre a bandeira e a gaúcha) A boa escola pública: turma de “Tradutor e Intérprete” (Ensino Médio) em visita ao campus da UFSM (ao fundo o prédio do então Instituto de Geociências)
A boa escola pública: turma de “Tradutor e Intérprete” (Ensino Médio) em visita ao campus da UFSM (ao fundo o prédio do então Instituto de Geociências) Visita de correspondente do Canadá em Santa Maria (com meus pais, 1979)
Visita de correspondente do Canadá em Santa Maria (com meus pais, 1979) DCE - UFSM
DCE - UFSM III Encontro Nacional de Geógrafos, Fortaleza, 1978 sou o terceiro da direita para a esquerda, ao alto, seguido de Armando Correia e Eliseu Sposito
III Encontro Nacional de Geógrafos, Fortaleza, 1978 sou o terceiro da direita para a esquerda, ao alto, seguido de Armando Correia e Eliseu Sposito Despedida para o doutorado sanduíche em Paris (1991), com os amigos Maurício Abreu, Paulo Freitas, Ana Regina, João Rua e Inês Aguiar
Despedida para o doutorado sanduíche em Paris (1991), com os amigos Maurício Abreu, Paulo Freitas, Ana Regina, João Rua e Inês Aguiar Com Doreen Massey, John Allen e Sarah Whatmore (Londres, 2003)
Com Doreen Massey, John Allen e Sarah Whatmore (Londres, 2003) Confraternização com colegas da Universidade Federal Fluminense – Niterói, 2019
Confraternização com colegas da Universidade Federal Fluminense – Niterói, 2019 Visita ao teleférico do complexo do Alemão, 2015, com Jacques Lévy, Flavia Grimm, Timo Bartholl e José Borzachiello da Silva
Visita ao teleférico do complexo do Alemão, 2015, com Jacques Lévy, Flavia Grimm, Timo Bartholl e José Borzachiello da Silva Breve autobiografia
Breve autobiografia