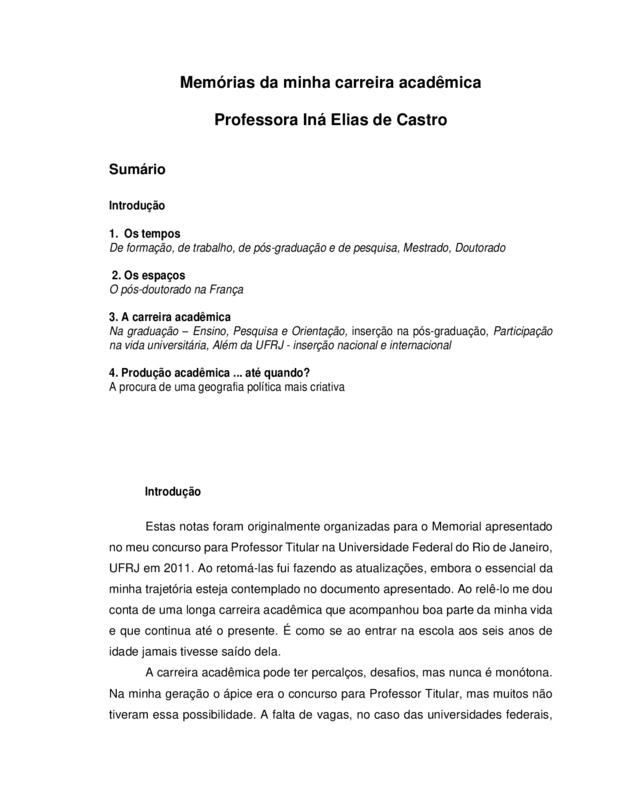-
Título
-
INÁ ELIAS DE CASTRO
-
Nome Completo
-
INÁ ELIAS DE CASTRO
-
Nascimento
-
1954
-
História de Vida
-
MEMÓRIAS DA MINHA CARREIRA ACADÊMICA
INTRODUÇÃO
Estas notas foram originalmente organizadas para o Memorial apresentado no meu concurso para Professor Titular na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ em 2011. Ao retomá-las fui fazendo as atualizações, embora o essencial da minha trajetória esteja contemplado no documento apresentado. Ao relê-lo me dou conta de uma longa carreira acadêmica que acompanhou boa parte da minha vida e que continua até o presente. É como se ao entrar na escola aos seis anos de idade jamais tivesse saído dela.
A carreira acadêmica pode ter percalços, desafios, mas nunca é monótona. Na minha geração o ápice era o concurso para Professor Titular, mas muitos não tiveram essa possibilidade. A falta de vagas, no caso das universidades federais, fez com que chegassem à aposentadoria antes. Independente da importância do título e do ritual acadêmico do concurso, esse é o momento de reflexão e revisão de toda uma vida. É essa revisão que compõe boa parte do que será aqui apresentado.
Aquela foi a ocasião de resgatar uma longa história, de mais de 40 anos de formação, de atividades de docência, de pesquisas, de orientação e formação de recursos humanos, de administração e de representação, além de momentos curtos, mas importantes, de atividades de gestão pública. Poder percorrer a memória desse tempo vivido, condensá-la, ampliá-la após dez anos da titulação e trazê-la a público é um privilégio.
Trata-se aqui de uma viagem em tempos e espaços. No meu tempo, no tempo do país e no tempo da geografia. Embora o tempo não seja linear e nem sempre o passado explique o presente, ao resgatar o passado e refletir sobre ele encontro as raízes (ou seriam razões?) das escolhas dos muitos presentes vividos nesta trajetória, especialmente o interesse pela geografia política e pela polêmica em torno das questões de uma geografia, hoje cada vez mais informada pela política, dimensão inescapável da vida em sociedade e do espaço que ela organiza.
As escolhas profissionais são escolhas de vida, nem sempre claras no momento em que são decididas, mas sempre influenciadas pelos lugares de vida, contextos familiares, social, cultural e político. Oriunda de uma família de migrantes, nordestino meu pai e portugueses meus avós maternos, nascida no subúrbio do Rio de Janeiro, na época a capital da República, meu horizonte do desejo, os limites de possibilidade de mobilidade social foram delineados neste ambiente. A condição de migrantes, e seus sonhos, e a opção dos meus pais pelo protestantismo definiram desde muito cedo a importância do esforço e da ética do trabalho para atingir metas mais elevadas. Para as meninas a profissão mais adequada era ser professora. Não era ainda muito importante no momento definir “de que”, mas de qualquer forma para que a meta fosse alcançada era preciso estudar e ir muito além da prática corrente das famílias da classe trabalhadora da época, que tiravam os filhos da escola logo que aprendessem a ler e a escrever.Era momento de arranjar um emprego e ajudar no orçamento doméstico ou quiçá um marido bom provedor. Meus pais eram sonhadores e perceberam que suas três filhas poderiam ir mais longe. Tínhamos acesso às redes do ensino público e de saúde com qualidade. Estes recursos institucionais do Estado brasileiro, disponível em partes muito restritas do território do país e para uma minoria deixava claro que morar na capital do país fazia diferença. E fez toda a diferença para mim e para minhas irmãs. Ratzel tinha razão quando elegeu a cidade capital como um tema necessário.
Ser professora era então um destino e a geografia estava latente e se manifestava esporadicamente no prazer de ouvir as histórias de meus avós e do meu pai sobre suas terras distantes e a saga das viagens. A curiosidade sobre estas terras e as condições impostas às pessoas obrigadas a abandoná-las apontavam para uma visão em que o social devia ser explicado. Paralelamente, o prazer em viajar revelava a curiosidade permanente sobre terras, pessoas e seu modo de vida, seus costumes, suas normas. Tudo isto foi potencializado desde o ensino secundário. Nunca entendi bem por que, mas minhas melhores notas eram sempre em geografia. Meus professores do segundo grau perceberam e sempre me estimulavam.
Houve, porém um fato que não deve ser esquecido nesta narrativa, embora eu não tenha ainda avaliado plenamente o seu grau de determinação. Minha irmã mais velha que eu (a do meio das três) e minha companheira de brincadeiras escolheu fazer geografia um ano antes, pelos mesmos motivos que eu. Fazer o vestibular para disciplina foi o caminho quase natural para mim. Estas foram as razões primárias e até ingênuas da escolha, mas o futuro mostrou que a decisão foi acertada.
Nas 4 partes que se seguem faço o relato da minha trajetória, demarcada pelo tempo e pelos espaços que de algum modo deram significado a cada uma. A vida acadêmica é sempre múltipla, nunca monótona e de ritmos variados. Cada compromisso com aulas, pesquisa, orientação, participação em eventos, redação de textos, administração, extensão, representação em colegiado implica tempos e movimentos exclusivos. Alguns mais acelerados outros menos. Mas, quaisquer que sejam estes ritmos, confesso que vivi cada um deles e que a carreira acadêmica é composta de ciclos nos quais o ofício de pensar, indagar e ensinar estimulam a imaginação e reforçam o compromisso ético com a sociedade, que afinal é quem nos suporta e anima e para quem nosso trabalho deve ser útil.
1. OS TEMPOS
Tempo de formação - a graduação e o golpe militar (1964-1967); (FNFi), trabalhos de campo, bolsista de IC do Centro de Pesquisas de Geografia do Brasil (CPGB); descoberta da pesquisa: a curiosidade e a dúvida como vocações.
A graduação e o golpe militar (1964-1967) - O vestibular para o curso de geografia da então Faculdade Nacional de Filosofia – FNFi da Universidade do Brasil foi um sucesso. Segundo lugar na média, mas primeiro na prova de geografia. Aos 18 anos eu fazia parte dos menos de 2% que no país tinham acesso ao ensino superior, mas desde o ano anterior, ainda secundarista, eu participava das ebulições da universidade acompanhando minha irmã e seus amigos do Diretório Acadêmico. Era o governo trabalhista do Presidente João Goulart e a luta para o aumento de vagas na universidade já havia começado, apesar da resistência dos professores mais conservadores que temiam a queda de qualidade com a “massificação” do ensino superior. As universidades públicas eram para os ricos. O ano de 1963 foi um marco no crescimento das vagas. Na geografia, a turma deste ano tinha cerca de 20 alunos, assim como a de 1964 que eu frequentei. Para alguns mestres isto tornaria a tarefa de ensinar muito mais difícil!
No início do meu primeiro ano letivo em março de 1964 o país passava por tensões políticas importantes e no então Estado da Guanabara (hoje município do Rio de Janeiro), governado pelo conservador Carlos Lacerda, a FNFi era o epicentro do movimento estudantil a favor do governo Goulart. Meu primeiro dia de aula no início de março foi inesquecível. Os estudantes bloqueavam a porta do prédio da Avenida Antônio Carlos, no centro da cidade, para impedir que o governador entrasse na universidade. Atraída pela geografia fiz minha estreia política: na força dos grupos sociais quando se organizam no espaço adequado. Era o espaço público ocupado e mobilizado para a ação, a praça contra o palácio, e uma semente que tem germinado desde então como questão para reflexão e pesquisa.
Mas a geografia me esperava dentro das salas da FNFi. Menos política do que na estreia, porém fornecendo instrumentos para perceber e interpretar a realidade. Muitos professores foram marcantes na minha formação de graduação: de geografia, Lysia Bernardes, Bertha Becker, Marina Sant’Anna, Manuel Maurício de história, Marina Vasconcelos de antropologia cultural, além outros que não cito por pura fraqueza de memória e não por falta de importância. Mas não posso deixar de fazer meu registro muito especial à professora Maria do Carmo Correa Galvão. Com ela aprendi coisas essenciais nos conteúdos oferecidos na sala de aula e nos muitos trabalhos de campo, alguns que chegaram a durar 30 dias. Ela mostrou o caminho da prática da pesquisa daquele tempo: a necessária relação entre a natureza e a sociedade, ou o que atualizaríamos hoje para os modos como cada sociedade doma sua natureza e organiza seu espaço; além da disciplina de ir a campo, de observar para discutir e analisar.
Viajamos com ela para o Centro-Oeste, para a Região Sul, para o interior de São Paulo e do Rio de Janeiro. Visitamos propriedades rurais, pequenas e grandes, e todos nós pegávamos o seu jeito de abordar os camponeses com um sorridente e sonoro “bom dia moço”. Visitamos indústrias como a Volkswagen no ABC paulista, a indústria de tecidos Renner em Porto Alegre, a porcelana Schmit e a malharia Hering em Blumenau, minas de carvão em Criciúma (até descemos numa, apesar da superstição dos mineiros quanto ao azar que a presença feminina traz), usinas de açúcar em Campos, a destilaria do Conhaque de Alcatrão de São João da Barra etc. Nesta última ganhamos pequenos frascos de amostras dos produtos: cachaça e conhaque. Como sempre voltávamos depois de o sol se pôr, extenuados na carroceria do caminhão que segundo ela era o único veículo que permitia uma ampla visão do terreno, neste dia enfrentamos um forte temporal. Temendo que nos gripássemos, pois chegamos gelados e encharcados aos nossos alojamentos, ela nos fez beber nossas amostrinhas que guardávamos para ocasião mais festiva. Nesta noite ela nos dispensou do relatório.
Como sua bolsista de Iniciação Científica do CNPq em 1966 e 1967 (à época chamada de Auxiliar de Pesquisa) tive a oportunidade de ir além e de participar em trabalhos de campo dos seus projetos de pesquisa, como o do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, que entre outras peripécias me levou ao CEASA paulista de madrugada para entrevistar os atacadistas, mas acima de tudo para observar e sentir aquele espaço e sua atmosfera impregnada de uma das dimensões da relação campo-cidade. Outro projeto foi o da geografia dos transportes do Brasil. Tive a tarefa de colher dados sobre os transportes rodoviários e ferroviários, seus fluxos, suas cargas. Eu ia às instituições indicadas por ela e voltava carregada de tabelas, mapas e muitas informações fornecidas por técnicos, funcionários e diretores. A obtenção de informações, onde elas estivessem deixou de ser mistério para mim e tem sido útil até hoje. Seja para minhas próprias pesquisas seja para orientar meus alunos. Não tenho dúvidas que “quem procura acha”, como dizia minha mãe antes da palmada, e que pesquisar é uma arte que se aprende na escola.
Enquanto isto, a praça se agitava. Eram tempos de mobilizações estudantis, cassações, censura à imprensa, delações e intrigas. O ambiente da FNFi era de efervescência, onde convivíamos com colegas da filosofia, da sociologia e de outras disciplinas engajados na resistência política à ditadura e perseguidos. Minha casa foi abrigo e ponto de passagem para muitos jovens colegas fugitivos. Meus pais não entendiam muito do que se tratava, mas eram solidários e nunca negaram o teto e uma mesa acolhedora.
Mas dentro dos muros da universidade a geografia como conhecimento passava ao largo da agitação política. Hoje acredito que mais pelas convicções de muitos de nossos mestres do que por uma deriva conservadora própria da natureza positivista do conhecimento produzido pela disciplina, como lhe foi atribuído alguns anos mais tarde. Afinal nossas leituras incluíam os mestres franceses como Pierre George, Bernard Kaiser, Yves Lacoste, Elisée Reclus, Max Sorre, Jean Lablache, Jean Brunhe, Richard Hartshorne além dos brasileiros Josué de Castro e Darcy Ribeiro. Passávamos por Ratzel e Lablache na inesgotável querela sobre o determinismo e o possibilismo, sobre o método regional ou sistemático, sobre a importância da observação e descrição rigorosas para a posterior interpretação e análise e sobre a pretensão da geografia em destacar-se como ciência de síntese, cuja melhor expressão no nosso aprendizado foi a professora Maria do Carmo. Posteriormente todos esses procedimentos seriam duramente criticados; era o tempo da pós-graduação, que vamos percorrer adiante. A história continua.
Mas este era também o tempo da geografia ativa, engajada no planejamento urbano, regional e nacional quando a geografia era chamada para diagnósticos e alguns geógrafos participavam diretamente da gestão pública, fato posteriormente criticado por Yves Lacoste como o papel de “conselheiro do príncipe” do profissional. Nossa professora Lysia Bernardes, que nos ministrava longas aulas sobre metodologia destacava esse papel, que ela mesma passou a exercer. A proximidade da nossa formação com o IBGE era grande. Tanto espacial, éramos vizinhos, como intelectual através das suas publicações, especialmente a Revista Brasileira de Geografia. O legado desta formação inclui a descoberta da pesquisa, a curiosidade e a dúvida sobre consensos absolutos como vocações.
A formação didática foi uma experiência do último ano do curso, em 1967, às vésperas dos sombrios anos de chumbo do governo Médici da ditadura militar, que se impuseram em 1968. Enfrentar os alunos inteligentes, irrequietos e politizados do CAp – Colégio de Aplicação da UFRJ era um novo desafio e uma nova aventura. Muitos ativistas políticos e representantes legislativos saíram daquelas turmas. Alguns colegas sucumbiram naquele turbilhão. Eu sobrevivi e, apesar do nervosismo dos iniciantes, fui capaz de enfrentar as questões daquelas pequenas feras que dentro daqueles muros podiam respirar liberdade, participação e democracia, mesmo se lá fora tudo isto desaparecia. Descobri que o prazer de dar aulas vinha do debate, do aprendizado que o ensino possibilita. Muitos anos mais tarde, no agradecimento aos meus alunos, lembrei a sabedoria dos franceses que tem um mesmo vocábulo para ensinar e aprender. Mas devo fazer justiça, minha sólida formação me salvou.
Tempo de trabalho - A dupla vocação – prazer de ensinar e de indagar, Ensino médio e superior nos anos de chumbo (1968-1974)
O último semestre do curso de graduação foi sombrio. A colação de grau no início de 1968 foi melancólica, não fizemos festa, seria um acinte aos colegas que se perderam pelo caminho. Era hora de trabalhar com diploma e deixar de ser explorada por colégios de segunda linha e cursinhos que afinal nos garantiam uma pequena renda adicional e nos permitiam praticar o ensino. Foi um tempo de aplicar o conhecimento acumulado na graduação e de continuar aprendendo com cursos rápidos sobre temas variados oferecidos por geógrafos do IBGE ou por outros professores de outras universidades.
Mas este tempo me permitiu consolidar minha dupla vocação: o prazer de ensinar e de indagar. Este último, porém, ficou relegado, ou limitado aos debates em aula. Na verdade, as chances de praticar a pesquisa do modo como fui treinada na universidade estavam fora de cogitação e mergulhei na experiência de ser professora do ensino médio por pelo menos quatro anos. De 1967, no último ano de graduação, como estagiária do ensino médio estadual até 1970 quando fui convidada a trabalhar na Universidade Gama Filho e tive meu primeiro contato com o ensino em curso superior. Mas a sombra da repressão espreitava nas salas de aula.
Dar aula de geografia para adolescentes foi uma experiência única e hoje percebo que o sucesso com meus estudantes vinha da intuição da geografia como uma experiência no mundo que nos cerca e como uma perspectiva que ajuda a perceber nosso lugar nele. Jovens são sensíveis e curiosos sobre o mundo que os cerca. O uso dos atlas escolares disponíveis, dos livros didáticos e do estímulo à imaginação sobre o distante e o diferente foram recursos inestimáveis.
Em 1970, as aulas na Universidade Gama Filho iniciaram minha incursão pelo ensino superior e a vontade crescente de fazer pós-graduação. Mas foi também o momento da minha experiência de trabalhar no ambiente opressivo de um regime de exceção, de me sentir vigiada em relação aos livros indicados e aos debates em sala de aula. Fui chamada a atenção muitas vezes: porque discutia com meus alunos a exploração do minério da Serra do Navio por empresas americanas, ou por indicar os livros de Yves Lacoste. Não cheguei a perder meus empregos, mas estive em risco algumas vezes. Como eu era uma professora bem avaliada pelos alunos, os pragmáticos Diretores das instituições privadas eram permissivos; nos colégios estaduais a tolerância era explícita e apenas falávamos mais baixo.
O exercício do magistério me fez ver logo que o professor é um eterno aprendiz. Mas eu já estava inoculada pelo veneno da pesquisa. Eu queria dar aulas, mas também indagar, abrir novas frentes no meu conhecimento e na minha formação. Nesse tempo eu já estava convencida da minha escolha profissional e da minha vontade de continuar na escola: para ensinar, para aprender e para ampliar minha visão de mundo e repassá-la aos meus estudantes. Sempre que as ofertas se apresentavam eu voltava aos “bancos” para fazer cursos de Aperfeiçoamento e Especialização de média duração que possibilitaram aprofundar temas estudados na graduação recentemente concluída. Entre estes destaco “As grandes regiões clímato-botânicas”, na AGB-RJ em 1968, ministrado pela professora Maria do Carmo Galvão e “Desenvolvimento regional”, no Instituto de Geociências da UFRJ, em 1969, com a professora Bertha Becker.
Ainda não era tempo de escrever, esta experiência veio mais tarde com a pós-graduação. Caminho natural para minhas ambições e compromissos profissionais.
Tempo de pós-graduação e de pesquisa; mestrado (1972-1975); A descoberta de novos espaços para o conhecimento geográfico; A geografia ativa: Consultoria e inserção na gestão pública (1977-1980); Professor Assistente da UFRJ - A experiência no IFCS; A descoberta de novos espaços para o conhecimento geográfico
Em 1972 teve início o Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ. Se não fui a primeira a me inscrever na primeira turma de mestrado, certamente estava entre os primeiros que buscaram o novo curso. Nestes tempos, a FNFi já não existia e a Universidade do Brasil tornou-se UFRJ. A geografia e o CPGB (Centro de Pesquisa de Geografia do Brasil) ocupavam temporariamente o prédio do Largo do São Francisco, antes ocupado pela Escola de Engenharia e hoje pelo IFCS (Instituto de Filosofia e Ciências Sociais), enquanto o prédio da Ilha do Fundão não ficava pronto. Lá fora a repressão apertava seus tenazes. Ainda era tempo de silêncio e medo.
A geografia também mudara. A revolução quantitativa estava em marcha. Nosso conhecimento de campo, de observação, de descrição e de análise já não servia para grande coisa. Precisávamos agora de um claro recorte conceitual capaz de nos conduzir com segurança a mensurar adequadamente os fenômenos a serem analisados. Nossos mestres eram outros: David Harvey do Explanation in Geography, Brian Berry e os métodos quantitativos e classificatórios, Petter Hagget e Richard Chorley com seu Models in Geography, Abler, Adams e Gould com seu inescapável Spatial organization: The geographer’s view of the world. A regionalização passou a ser uma questão de classificação de áreas e a região um recorte adequado para o fenômeno a ser analisado. Ou seja, nossos métodos também mudaram e as tentativas de resgatar o debate levantado por Harstchorne não foram suficientes para manter nossos vínculos com o passado. Tudo era muito atordoante, mas nem desconfiávamos do que ainda estava por vir...
A quantificação abriu novos campos, polêmicas e debates acalorados sobre o “novo” e o “velho” na disciplina. Alguns de nossos professores do curso de mestrado eram os mesmos da graduação e seus esforços para seguir a nova onda teórico-metodológica eram enormes. Tínhamos a matemática e a estatística como disciplinas obrigatórias, além da Teoria Geral de Sistemas. A informática dava seus passos e nós éramos levados a montar algoritmos e entender a linguagem binária daquelas máquinas sinistras, muito diferentes das amigáveis interfaces de hoje dos sistemas Windows ou da Apple.
Tudo era novo, novamente, e vivíamos uma fase de transição. O eixo de concentração do curso de mestrado era o desenvolvimento urbano-regional. A interdisciplinaridade com a economia espacial era evidente e devíamos percorrer a literatura sobre as teorias do desenvolvimento regional, a economia regional, disparidades espaciais do desenvolvimento e foram recuperados os modelos e padrões espaciais de Christaller e Lösch. Mas estávamos ainda longe do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky. Nossos mestres vinham de uma formação liberal com pinceladas de socialdemocracia de matriz keynesiana e era dentro deste campo que o debate se fazia e a questão era sobre as pré-condições e os percursos do processo. Lemos as teorias de W. W. Rostow (The stages of economic growth) sobre as etapas do desenvolvimento dos países e as condições para o “take off”. Também Gunnar Myrdal e seu livro sobre “Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas”, além do inescapável estudo de Friedman sobre os padrões espaciais do desenvolvimento, cujo modelo das relações centro periferia foi amplamente aplicado por nossos mestres, especialmente pela professora Bertha Becker. Na maioria dessas leituras o Estado era explícita ou implicitamente presente como um indutor do processo de desenvolvimento. A questão do planejamento era central e as políticas públicas para o desenvolvimento regional eram estudadas de várias maneiras. Estávamos no tempo da CEPAL na América Latina e Celso Furtado e SUDENE no Brasil e da versão do nacional desenvolvimentismo conduzido pelos governos militares.
Como os métodos quantitativos estavam na ordem do dia na geografia, novas exigências metodológicas estimulavam a busca de cursos, mesmo que rápidos, e palestras que complementassem a nova formação e ajudassem as atividades de pesquisas que se avizinhavam. Destaco a “Evolução recente da pesquisa histórica”, com o professor Frédéric Mauro, em 1972 e o de “Métodos quantitativos aplicados à regionalização”, com a professora Olga Buarque de Lima em 1974. Em ambos foram apresentados os métodos e as dificuldades enfrentadas naquele momento para a conceituação e quantificação nas ciências sociais.
Neste ambiente acadêmico aconteceram minhas primeiras incursões pela escrita de artigos científicos. No meu tempo de graduação, estudantes ficavam restritos a trabalhos das disciplinas e não eram estimulados a publicar seus textos ou apresentá-los em Congressos, como fazemos hoje com nossos bolsistas de IC. Mas o mestrado era uma etapa nova e, como hoje, éramos estimulados a publicar nossos textos bem avaliados nas disciplinas. Mas como eram tempos de transição, verifico quanto os textos sobre Madureira e Maricá, escritos com outros colegas refletem este momento. Fomos a campo, observamos, descrevemos, colhemos informações, analisamos, mas aplicamos o modelo de Christaller!
O primeiro projeto de pesquisa foi o desafio de conduzir uma investigação que, mesmo sob supervisão, colocava à prova minha capacidade escolher um tema, um problema e definir as etapas e os procedimentos necessários para alcançar um resultado que atendesse às exigências para o título de mestre. A dissertação, como não poderia deixar de ser, foi uma aplicação daquilo que nos foi oferecido como recurso para a pesquisa. O tema do desenvolvimento espacial em um país tão desigual como nosso me atraiu e a literatura sobre este processo trazia ao debate a questão sobre a diferença entre desenvolvimento e crescimento e sobre os mecanismos de ambos os processos. O computador permitiu fazer uma análise fatorial de todos os municípios brasileiros, a partir de variáveis previamente selecionadas, com dados obtidos no IBGE para identificar e analisar “Os desequilíbrios e os padrões espaciais do desenvolvimento brasileiro”, utilizando informações estatísticas e selecionar variáveis para todos os municípios brasileiros. O tema era também importante naquele momento e minha orientadora, a professora Lysia Bernardes, dispunha de bagagem prática sobre o assunto. A dissertação de mestrado teve boa repercussão, pois tratava da questão dos desequilíbrios espaciais, permanente questão do processo de desenvolvimento das nações periféricas.
O segundo projeto de pesquisa foi fruto dessa experiência e possibilitou expandir os resultados a partir do foco na construção de indicadores sociais, uma perspectiva que, naquele momento, vinha se impondo, especialmente no IBGE. Com base na metodologia utilizada na dissertação, novos dados foram incorporados e os resultados foram ampliados para construir os indicadores e definir uma tipologia e classificação dos níveis de desenvolvimento dos municípios para a Fundação MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização de Adultos) e outra para os municípios das Regiões Metropolitanas utilizada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS).
O primeiro foi publicado no formato brochura pela Fundação e distribuído por todos os municípios onde suas bases estavam organizadas, ou seja, praticamente todos. A demanda por este tipo de material para a análise era grande e a curiosidade sobre o universo dos municípios brasileiros no contexto de uma análise comparativa resultou em matéria que destacou a importância do trabalho no Jornal do Brasil, noticiário importante no período. Minha primeira experiência de divulgação do trabalho fora do ambiente acadêmico foi gratificante e me dei conta da importância de poder oferecer à sociedade informações que possam ser apropriadas e utilizadas.
Já estávamos no governo Ernesto Geisel e a preocupação com as grandes obras de infraestrutura para a modernização da economia. Era o governo autoritário dirigindo o Estado e tomando as rédeas da direção do processo. O planejamento estava na ordem do dia e a geografia dava sua contribuição através de levantamentos e análises do território, suas características e diferenças. Este era um conhecimento do qual nenhum Estado pode abrir mão, aliás, em nenhum tempo e lugar.
Entre 1977 e 1980 foi a oportunidade de trabalhos de consultoria e inserção na gestão pública, ou seja, a geografia ativa tão valorizada no momento. Este foi um tempo novas práticas e de algumas publicações que expressavam esta atividade no período. As portas abertas pelo mestrado favoreceram uma experiência bem diferente daquela da sala de aula, seja para ensinar seja para aprender. A competência do geógrafo era requisitada para produzir informações e análises direcionadas a ajudar a tomada de decisões. Tratava-se aqui de um outro formato de pesquisa, mas com aplicação do mesmo rigor do método de investigação e do conhecimento produzido, destinado, porém a um público para além dos muros da escola. A experiência foi um desafio que fui capaz de cumprir, embora tenha descoberto que os trabalhos sob encomenda me motivavam menos por que eu preferia a liberdade da pesquisa acadêmica. Este não se consolidou como um nicho adequado às minhas indagações, embora reconheça a importância do conhecimento geográfico para a sociedade e, certamente, para os seus governos.
Entre 1973 e 1987 tive a oportunidade de consultorias no Centro de Documentação da Fundação MOBRAL, do Ministério de Educação (1973-1975);
na Companhia Morrisson-Knudsen de Engenharia para a Proposta de Projeto Educacional para a área da Superintendência da Amazônia (SUDAM, 1975); no Grupo de Trabalho para o Plano de Localização das Unidades de Serviço do Instituto Nacional da Previdência Social, do Convênio IPEA/INPS, para o Diagnóstico das Áreas Metropolitanas para a Regionalização dos Serviços de Saúde; no Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, para a elaboração de estudos e documentos referentes às áreas Social e Institucional do Brasil (1978-1979); na Fundação Legião Brasileira de Assistência para a Coordenação do Projeto de Regionalização dos Municípios para Programas de Assistência Social (1978); na Fundação Legião Brasileira de Assistência para a Organização da informações sobre as atividades e a elaboração de um Sistema de Indicadores para Avaliação de Desempenho e para o Planejamento dos Programas Institucionais (1987).
Ainda nesse período (1976-1979) ocorreu minha rápida inserção na gestão pública. Fui a primeira geógrafa contratada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS e encarregada de definir qual seria a função deste especialista. Não lembro exatamente os termos da definição no estatuto daquele novo Ministério, mas sei que sua tarefa seria construir uma base de informações que pudessem ser úteis à tomada de decisões dos agentes públicos. Hoje percebo o quão pretensioso isso era, mas de qualquer forma era a importância do conhecimento geográfico como recurso para as políticas públicas. Inicialmente estive lotada na Secretaria de Assistência Social desse ministério e posteriormente na Secretaria de Articulação entre Estados e Municípios – SAREM do então Ministério do Planejamento. Neste período pude ter uma perspectiva do processo decisório e das políticas públicas em ação, ou da geografia ativa, como diriam os franceses.
Pude perceber a importância do conhecimento que o geógrafo é capaz de oferecer para instituições públicas e privadas e meu pouco talento executivo na burocracia estatal e o quanto meu interesse continuava sendo investigar e analisar a complexidade do território e do federalismo no país, apesar do centralismo federal das decisões. A negociação e a mediação com os níveis de gestão dos estados e municípios eram necessárias, por mais que o poder estivesse concentrado. Esta experiência foi reveladora dos meandros do poder na base institucional do Estado e tem sido útil para a reflexão e teorização, desde a tese de doutorado.
A possibilidade de participar da administração federal foi fruto de laços familiares. Meu companheiro, que havia sido meu professor no mestrado, era um competente quadro da direção do MOBRAL e me convenceu da importância de vivenciar o processo de definição e de aplicação de políticas públicas. Ante minhas hesitações em fazer parte de um sistema que eu criticava e rejeitava, ele chamou a atenção para a grande diferença entre Estado, governo e sociedade e a lição de que para que haja transformação é preciso conhecer os mecanismos de reprodução daquilo que se quer transformar. Lição que aprendi e que aprofundei no meu doutorado e que é sempre recuperada. A sociedade brasileira era maior que seus governos autoritários e sobreviveria a eles. E eu não podia esquecer o quanto havia sido beneficiada por políticas sociais como ensino público de qualidade, saúde, bolsas de estudo de iniciação científica e de mestrado. Ou seja, o Estado não devia ser ignorado, mas ajustado aos interesses e necessidade da sociedade. Aprendi mais tarde que o Estado pode ser coercitivo no limite da sua legitimidade, mas que os governos não tem esse direito. O Leviatã não deveria ser aniquilado, mas domado e colocado a serviço da sociedade. Este conhecimento prático tem me ajudado a não abandonar na geografia política a escala estatal, mas ao contrário, tentar compreendê-la cada vez mais, inclusive na sua dimensão territorial.
Mas, nesse período, não abandonei minhas atividades de magistério superior, que agora incluíam também a PUC Rio de Janeiro e a própria UFRJ onde ingressei em 1979 como Professor Assistente após um concurso. Como é comum acontecer, aos novatos são atribuídos os cursos menos atraentes e eu fui indicada para ministrar Geografia Humana e Econômica para o curso de Ciências Sociais e Geografia Regional para o curso de História, ambos no IFCS (Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ). Oferecer cursos nas ciências sociais era o terror dos professores de geografia. Novo desafio, agora de enfrentar os estudantes de sociologia intelectualmente libertários, politicamente ativos e mergulhados na atmosfera que anunciava o fim dos governos militares. Este contato direto com as perspectivas epistemológicas que delineavam a visão de mundo e da sociedade nas ciências sociais abriu novos horizontes e mais tarde ajudou na difícil escolha do curso de doutorado. Esta experiência favoreceu o diálogo com as ciências sociais, incorporando questões novas colocadas por eles e ao mesmo tempo lhes demonstrando como a incorporação da dimensão espacial complementava e enriquecia a análise sociológica. Estávamos no tempo do David Harvey de “Social justice and the city” e dos problemas colocados pela rápida expansão do espaço urbano no país. Os futuros sociólogos aprenderam que não era possível compreender a sociedade urbana sem compreender seu espaço.
Essa influência ajudou a configurar meu terceiro projeto de pesquisa e o balanço desse período no Largo do São Francisco foi bem positivo. Alguns alunos de história e de ciências sociais foram cursar geografia, porque descobriram que a disciplina era interessante tanto para o magistério como para pesquisa. Meu primeiro bolsista de Iniciação Científica era aluno de sociologia e morava na Vila Kennedy, conjunto habitacional na Zona Oeste do Rio de Janeiro, construído no processo de remoção de favelas durante o governo Carlos Lacerda, e acabou se engajando no meu primeiro projeto de pesquisa como professora Assistente do Departamento de Geografia: “Políticas públicas e estruturação interna urbana – um estudo de caso no Rio de Janeiro” entre 1980 e 1981. O tema estava na agenda de pesquisas das ciências sociais e na geografia urbana e era um excelente campo para a interdisciplinaridade. Duas monografias de graduação foram concluídas neste projeto.
Poucos anos depois, os achados desta pesquisa resultou no artigo “Conjunto habitacional: ampliando a controvérsia sobre a remoção de favelas”, tema que na época mobilizava corações e mentes em várias especialidades no país, e foi publicado na prestigiosa Dados - Revista de Ciências Sociais, em 1983. Este foi também apresentado no Congresso da UGI e publicado em inglês, no mesmo ano, como "Housing projects - elarging the controversy about squatter removes” na Revista Geográfica do Instituto Panamericano de Geografia e História. Alguns anos mais tarde, quando eu já estava no doutorado, fui convidada pela professora de Metodologia da Pesquisa no IFCS para um seminário com seus alunos sobre essa pesquisa. Ela revelou que há alguns semestres vinha adotando o artigo da Revista Dados como exemplo de metodologia correta na condução de uma investigação. Fiquei realmente muito feliz e me senti recompensada por contribuir para a interface da geografia com as ciências sociais e especialmente por deixar claro o quanto temos a oferecer. Agora, depois de tanto tempo, revendo meus consultos percebo como as relações do espaço com a política me instigaram desde sempre!
Mas deve ser registrada ainda a dissertação de mestrado de Jurandyr Carvalho Ferrari Leite, também aluno de ciências sociais que buscou mais tarde o PPGG e minha orientação para sua pesquisa: “Projeto geopolítico e terra indígena. Dimensões territoriais da política indigenista”, defendida em 1999. Esta foi mais uma aproximação de estudantes do IFCS que tiveram seus interesses despertados pela geografia.
Nos primeiros anos como professora assistente da UFRJ, reconheço que era grande o sofrimento dos meus alunos, da geografia ou das ciências sociais, com as novas leituras metodológicas que eu lhes impingia como resultado da conclusão do mestrado e dos novos ventos que começavam a soprar na geografia. Através das dúvidas que eles apresentavam eu tomava consciência da confusão mental que algumas vezes eu mesma vivia. A transição da formação da graduação para a pós-graduação foi dolorosa e nem um pouco linear, e ao final da dissertação de mestrado e de aplicação dos métodos quantitativos que eu tão ciosamente utilizara, a geografia crítica fez sua aparição em Fortaleza, em 1968. O David Harvey do Explanation in geogragraphy metamorfoseara-se no de Social Justice and the city. O Milton Santos do Manual de geografia urbana era o de Por uma nova geografia. Eram tempos duros para um geógrafo novato. Mas era também tempo de debates estimulantes, de muita polêmica e do confronto de ideias, fundamentais para os avanços do conhecimento e do enriquecimento da agenda da geografia.
Embora as questões das políticas públicas e seus impactos sobre o espaço urbano fossem um campo aberto e minha inserção nele já houvesse dado alguns frutos, o problema regional que emerge da escala nacional, como ponto de vista para a análise do processo de desenvolvimento e suas disparidades territoriais, continuava sendo para mim apaixonante. Confesso que, apesar da competência de importantes mentores intelectuais, entre eles o David Harvey do Explanation in geography, nunca fiquei muito convencida sobre o recorte regional como mera “classificação de área” ou como um recurso a ser aplicado para definir uma determinada área para uma ação específica e que só tem existência no curso desta ação. Afinal, meu pai era da Região Nordeste e esta não é uma noção trivial. Este debate estava longe de ser esgotado e percebi mais tarde que a região se tornou um fantasma que de vez em quando me assombrava. O doutorado me permitiu exorcizá-lo.
O tempo de doutorado (1982-1988) implicou uma difícil escolha. O país vivia a distensão e a redemocratização e na geografia era tempo de novos fundamentos teóricos e metodológicos. Na política vivíamos em tempos de uma “abertura lenta e gradual” para o encerramento do ciclo de governos militares. Ainda não era a democracia, mas respirávamos um pouco melhor. Na geografia, as novas reviravoltas teórico-metodológicas que eclodiram no 3° Encontro Nacional de Geógrafos, realizado em julho de 1978 em Fortaleza – CE, com o confronto entre a "geografia clássica" e "geografia crítica", se impunham com grande vigor. Críticas contundentes ao passado positivista da disciplina eram lançadas e, mais uma vez, o que havíamos aprendido antes deveria ser revisto. Tanto a formação da graduação, definida como descritiva e alienada, e a da pós-graduação como um aprofundamento desta visão, apenas reforçada por métodos estatísticos que mais obscureciam do que revelavam a realidade.
Era neste ambiente de polêmicas e efervescência intelectual que, já professora assistente e tendo oportunidade de continuar minhas pesquisas, impunha-se a realização do doutorado. As opções no Brasil eram muito limitadas e outros colegas do departamento estavam diante da mesma circunstância e as escolhas foram variadas: Inglaterra, França, Estados Unidos, Espanha, Portugal. Para mim havia a possibilidade de cursá-lo na França, Inglaterra ou em Portugal, mas problemas pessoais do momento me impediram de fazer a escolha de atravessar o Atlântico. Da mesma forma, não me via percorrendo a Via Dutra ou a ponte aérea Rio - São Paulo uma vez que ainda não havia curso de doutorado em geografia no Rio de Janeiro. Mas havia por aqui o IUPERJ – Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e centro de excelência na pós-graduação em Ciência Política e Sociologia, sugerido por uma colega do Departamento e que vinha ao encontro do meu interesse pela política e da minha familiaridade com os temas das ciências sociais. O doutorado em ciência política tornou-se uma
possibilidade concreta. Minhas indagações e dúvidas epistemológicas e a convivência com os alunos de ciências sociais, suas inquietações, discussões e polêmicas apontavam para o doutorado no IUPERJ. Cedo percebi que, mesmo de modo um tanto paradoxal, meu contato com a nova agenda e os novos debates da geografia, influenciados pelos princípios teórico-metodológicos do marxismo, estava longe de ser tranquilo ou trivial.
Fui selecionada para o curso de doutorado. A primeira geógrafa aceita com alguma desconfiança no ambiente exclusivo dos cientistas sociais. Meu orientador foi o professor Sérgio Abranches, jovem e competente e com grande interesse pelas políticas públicas e com grande sensibilidade para a geografia. Meu professor de teoria política clássica foi Wanderley Guilherme dos Santos, seguramente o cientista político mais brilhante e inovador do país; de história política do Brasil foi José Murilo de Carvalho, membro da Academia Brasileira de Letras, intelectual do ano e pesquisador irrequieto. Outros professores foram Olavo Brasil, Amaury de Souza, Elisa Reis, Eli Diniz, Renato Borghi, Carlos Hasenbalg, Cesar Guimarães, Simon Schwartzman. Para cada um deles a perspectiva teórica era fundamental e percorremos a literatura dos clássicos da filosofia política: “O príncipe” de Maquiavel, “O Leviatã” de Hobbes, “O segundo discurso sobre o governo” de Locke, “O contrato Social” de Rousseau, “Do Espírito das Leis” de Montesquieu, “O antigo regime” e “Da democracia na América” de Tocqueville, “Economia e sociedade” de Weber, o “Dezoito Brumário” de Marx, além de muitos outros como Gramsci, Lênin, Trotsky, Robert Michels, Gaetano Mosca, Norberto Bobbio etc. No final do curso fui apresentada por Elisa Reis aos textos de Michael Mann e o comentário de que finalmente ela entendera, com este autor, o porquê da minha insistência em incluir o território nas discussões da ciência política.
O mergulho nesse universo teórico conceitual plural e a experiência dos debates que ideias contraditórias suscitam foi um aprendizado duro no início, mas que acabei incorporando como modo de refletir e de enfrentar problemas novos. Além disso, para minha grande surpresa cada vez mais eu encontrava a geografia subsumida ou explícita nesses textos: a relação entre o controle do território e o poder era clara em Maquiavel e em Rousseau, o problema do determinismo da
natureza teve em Montesquieu legitimação teórica, a relação entre o território e suas disponibilidades de recursos como condição necessária para a democracia em Tocqueville. Essas eram algumas das fontes de nossos teóricos, mas eu não tinha, até então, uma visão clara.
O Estado como problema e a questão de “porque existe governo” são centrais na ciência política. Em ambos os casos o território encontra-se subsumido e a relação com a geografia é evidente. Foi nesse desdobramento possível que procurei definir o tema e a questão central da minha tese de doutorado. E aqui o fantasma da região se materializou na indagação sobre o papel da política no recorte regional. A interdisciplinaridade era clara e o tema atendia à exigência do curso de que a tese fosse de ciência política e a minha de não me afastar da geografia. Afinal este continuava sendo o meu ofício.
A tese de doutorado foi meu quarto projeto de pesquisa: a importância da Região Nordeste e de sua elite política no histórico suporte ao poder central, fosse ele democrático ou autoritário, ia pouco a pouco se delineando para mim como uma questão que merecia ser investigada. Fui estimulada pelo meu orientador a seguir em frente e elaborar este novo projeto, diferente do que havia apresentado para ingressar no doutorado, influenciado pelas minhas incursões nas questões das políticas públicas na cidade. Após ser impactada por todas as leituras do primeiro ano de curso, a questão da política habitacional e do espaço urbano no país, meu projeto original, pareceu menos instigador do que a inserção territorial das estratégias se sobrevivência da velha, mas sempre renovada, elite política nordestina.
O tema não foi bem aceito por alguns pares da geografia. Era tempo da crítica radical ao conceito de região, da negação da política e da crítica ao Estado como um instrumento dos interesses capitalistas. Afinal, o que tinha relevância para as lideranças intelectuais na disciplina eram a economia política e seus atores privilegiados, ou seja, aqueles no comando das grandes empresas capitalistas, e o desenvolvimento desigual e combinado. Política e região eram vistas como resquícios do passado positivista e conservador da disciplina e a perspectiva de estudar a elite regional remetia a algo pior, ao pensamento liberal, considerado por definição aquiescente com injustiças. Mas, felizmente, a minha tese era em ciência política, pouco afeita a reducionismos, e espaço intelectual de convivência e diálogo entre matrizes teóricas as mais variadas. Pude passar ao largo das críticas e desenvolver minha pesquisa que pôs à prova minha capacidade de investigar e meu aprendizado de campo que vinha da graduação. A dimensão quase religiosa da adesão a paradigmas que não comportam dissensos e polêmicas era para mim incômoda na geografia desde a década de 1980. Em se tratando de ciência percebi que meu ateísmo foi de grande ajuda.
Para minha tese a base conceitual utilizada foi a dos debates sobre a região, que eram bem mais frequentes na geografia, e sobre o regionalismo mais presentes na ciência política e na sociologia. Os temas do regionalismo e da identidade regional na nossa disciplina eram abordados em diferentes perspectivas conceituais. Na década de 1980 muita tinta se gastou nessas discussões e algumas polêmicas importantes opunham as correntes materialistas às outras abordagens, fossem humanistas, institucionalistas ou econômicas. No conjunto das ciências sociais e da geografia, a bibliografia disponível era considerável, especialmente na França e na Inglaterra, o que indicava a importância do tema e as muitas discordâncias em torno da melhor forma de abordá-lo. A inclusão da elite – política, econômica ou cultural – não era estranha, embora menos frequente.
Como o meu interesse era identificar o modus operandi da elite política regional, a operacionalização foi feita com recurso ao material empírico disponibilizado pelos discursos parlamentares das legislaturas de 1945 a 1987 na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. Outras fontes e informações foram utilizadas, mas a análise temática dos discursos selecionados através de amostra foram os mais importantes e mais originais no modo como foram tratados. A repercussão da tese foi imediata e seus resultados muito debatidos – a favor e contra – em mesas redondas e seminários, no Rio de Janeiro e outros estados, mas especialmente na Região Nordeste. A pesquisa revelou a importância dos espaços institucionais ocupados pela elite política regional na condução do processo de desenvolvimento e do ethos nele implicado. A questão Nordeste, tão discutida e imposta à nação como um destino manifesto às avessas pôde ter uma nova maneira de ser pensada.
Fui convidada para uma longa entrevista no Caderno Ideias do Jornal do Brasil, para debates na televisão, além de comentários em Editorial do JB. Ou seja, a tese ganhou a rua. A editora Bertrand Brasil ofereceu-se para publicar o livro. Mas eu já estava de malas prontas para o pós-doutorado e adiei a publicação para a volta. Em 1992, meu primeiro livro, “O mito da necessidade. Discurso e prática do regionalismo nordestino” foi lançado. Mais debates e polêmicas, mas principalmente a consolidação de um tema e de uma abordagem que continuaria a produzir resultados acadêmicos importantes, como artigos e teses de doutorado, ironicamente na própria Região Nordeste e também na vizinha Argentina, onde uma dissertação foi feita utilizando a mesma metodologia para abordar a Região do Chaco, com grandes analogias com o Nordeste brasileiro.
Não posso deixar de mencionar a frieza com que o livro foi recebido em boa parte da geografia brasileira. Afinal, ele tratava da ideia de região a partir do discurso identitário elaborado por atores políticos e recorria a uma literatura teórico conceitual que não era usual na geografia crítica então praticada e não usava o jargão do materialismo histórico, embora Gramsci tivesse sido muito utilizado. Era o momento de um radicalismo epistemológico estreito, sem lugar para debate, especialmente se conceitos como política, região e estado fossem abordados.
Na França, quase que simultaneamente, mas só vim conhecer mais tarde, Yves Lacoste coordenava uma enorme obra, em três volumes, chamada “Géopolitique des régions françaises”, publicada em 1988. As regiões eram analisadas como recortes territoriais que construíam sua identidade e se diferenciavam a partir da história de suas elites políticas, seus discursos, interesses, conflitos e acordos. Todo o processo que eu analisei para compreender a Região Nordeste brasileira estava lá, em várias regiões francesas, o que reforçava minha convicção de que vieses ideológicos não são capazes de mudar a realidade estudada. Melhor ficar longe deles. Lacoste optou pelo uso do termo geopolítica ao invés de geografia política, que era o que se tratava na realidade. Essa estratégia escapista e simplificadora de usar o rótulo da geopolítica por negar sua tradição como disciplina tem consequências nefastas até o presente. A geopolítica do título apontava que todo este processo de construção se fazia no confronto com outros espaços regionais e com o poder central, mas o uso da palavra foi certamente uma recusa de tributo à geografia política, que ele tanto criticava, e que era afinal o conteúdo da obra, o que não deixou de ser provocativo. Ou seja, por via da política eu sempre chegava à geografia.
Trinta anos depois, está sendo preparada uma reedição de O mito da necessidade por insistência de alguns colegas e ex-alunos. O ambiente intelectual hoje talvez esteja mais preparado para pensar a geografia em paralelo com os processos de formação da região e do regionalismo, com a política como negociação necessária frente aos conflitos de interesses, que não pode jamais ser reduzida ou substituída pela ideia de poder, e com centralidade territorial de mando e obediência do Estado, que permanece ainda como instituição inescapável da vida contemporânea.
2. OS ESPAÇOS
O pós-doutorado na França (1990-1991); espaço de novas descobertas, a democracia e a cidadania como experiências do cotidiano; a França e o CEAQ
Após o doutorado, o pós-doutorado foi o caminho natural para buscar uma interlocução no exterior. Neste ínterim, uma entrevista com o professor Michel Maffesoli, sociólogo da Universidade de Paris V - Rénée Descartes, Sorbonne, chamou minha atenção. O regionalismo era o tema analisado naquele momento. Consultei seus trabalhos e verifiquei como o “genius loci”, ou seja, a identidade da sociedade com o seu território era um objeto de investigação necessário. Eu continuava encontrando a geografia fora da geografia nacional. Apresentei meu projeto: Espaço regional e modernização tecnológica: limites e potencialidades do regionalismo, escrevi para ele, fui aceita para um estágio de pós-doutorado, obtive uma bolsa do CNPq e arrumei as malas para Paris.
No ano de 1990 e primeiro semestre de 1991, participei das atividades do CEAQ – Centre de Recherche sur l’Actuel et Le Quotidien, na Université Réné Descartes. Além de seguir os seminários sobre imaginário político do professor Maffesoli, pude participar de dois dias de debates em torno da obra do antropólogo Gilbert Durand. Foi a oportunidade de acompanhar também os debates na geografia, especialmente a obra de Jacques Lévi e de Yves Lacoste e a polêmica entre eles. Tive também acesso a uma coletânea organizada por Phillippe Boudon, arquiteto preocupado com o problema epistemólogico da escala na arquitetura e que muito me ajudou a colocar o problema da escala com um pouco mais de precisão. A geografia, decididamente não estava só. A discussão de Edgard Morin sobre o problema epistemológico da complexidade, além de abordar a questão da escala, por sua vez, chamou minha atenção num momento em que eu me perguntava até onde era possível ir à busca de fundamentos conceituais mais consistentes para minhas indagações sobre a região e o regionalismo. Desde o doutorado, a ideia de que não é possível encontrar para a investigação um fundamento teórico conceitual único, capaz de dar respostas satisfatórias para os muitos problemas que somos capazes de identificar no mundo real permanecia como convicção.
Ao final desse um ano e meio de leituras e de contatos com novas questões e novos temas, o que havia sido apenas intuído na minha pesquisa para a tese pôde emergir e ser aprofundado, ou seja, a questão do nexo entre o imaginário político e o território. E a Região Nordeste continuava sendo um interessante campo de estudo desse vínculo. Da mesma forma, o problema da região e seu recorte permitiu examinar com mais calma o problema da escala como medida adequada para observar o fenômeno, trabalhada por outros especialista tanto na França como nos Estados Unidos.
Os produtos concretos desse período foram um artigo sobre “O problema da escala”, publicado originalmente na coletânea Geografia Conceitos e Temas, em 17ª Edição, organizado em parceria com os professores Paulo Cesar da Costa Gomes e Roberto Lobato Correa. Este artigo foi solicitado para ser publicado em inglês e espanhol na Revista Quaderns D'arquitetura i Urbanisme, de Barcelona, em 2002 e na coletânea Cuaderno de geografía brasileña, organizado por Graciela Uribe Ortega, no México.
Além da escala, a questão do imaginário político, intuído na pesquisa para a tese de doutorado, foi também aprofundada e ampliada e as leituras do pós-doutorado conduziram ao novo projeto de pesquisa, ainda focado na Região Nordeste, mas agora tendo como questão central as diversas facetas do imaginário político nas suas relações com a natureza e a sociedade. O eixo continuava sendo o discurso, porém tratava-se agora da elite econômica vinculada à produção irrigada no semiárido. Novos produtos desta etapa da vida acadêmica: artigos e orientações vinculadas ao problema da relação do imaginário político e o território. Foi interessante verificar como o clima semiárido assumia uma dimensão completamente diferente para os empresários da fruticultura irrigada. Da tragédia anunciada pelos políticos porta vozes de um modelo social arcaico, para os modernos empresários a falta de chuva era um recurso potencial inestimável. Este debate encontra-se no artigo “Seca versus seca. Novos interesses, novos territórios, novos discursos no Nordeste”, publicado em outra coletânea “Brasil. Questões atuais da reorganização do território”, em 8ª Edição, organizada novamente com os colegas Paulo Cesar da Costa Gomes e Roberto Lobato Corrêa, também pela Bertrand Brasil, Rio de Janeiro. Ainda nesta linha foram publicados: “Natureza, imaginário e a reinvenção do Nordeste”, no livro “Paisagem, imaginário e espaço”, organizado por Zeny Rozendahl e Roberto Lobato Corrêa, editado pela EDUERJ em 2001; "Novos interesses, novos territórios e novas estratégias de desenvolvimento no Nordeste brasileiro.", no livro Desarollo local y regional en Iberoamérica, organizado por R. González, R. Caldas e J. M. Bisneto, em Santiago de Compostela em 1999; e também, “Imaginário político e território. Natureza, regionalismo e representação” no livro Explorações geográficas, organizado por mim, Paulo Cesar da Costa Gomes e Roberto Lobato Corrêa, publicado pela Bertrand Brasil em 1997, em 5ª edição.
Esta foi ainda uma temática profícua na atração de estudantes interessados em desenvolver dissertações de mestrado e teses de doutorado. Nesta última modalidade foram 6 teses orientadas, todas realizadas por professores de universidades de estados nordestinos: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco (2) e Bahia (2), que explicitarei adiante.
Refazendo esse percurso não posso deixar de comentar as críticas que recebi pela opção de escolher como objeto de investigação as elites política e econômica nordestinas, na tese de doutorado como em pesquisas posteriores. Compreendi imediatamente que o problema é que eu não fazia parte dos que aderiram sem muita reflexão à geografia crítica, que na época substituiu o determinismo da natureza pelo determinismo do modo de produção capitalista e a luta de classes inerente. Esta chave mágica que abria as portas a todos os problemas e tudo explicava. Neste ambiente acadêmico, falar em elite política e empresariado rural soava como heresia imperdoável no momento em que o importante era o oprimido, não o opressor. Para mim, no entanto, numa perspectiva de Celso Furtado e mesmo gramisciana, que acredito ainda não estava em voga na época, era necessário justamente compreender os mecanismos de reprodução das desigualdades profundas da Região e analisar o papel dos novos atores econômicos regionais que disputavam espaços com a velha elite. A confusão entre epistemologia e ideologia, que não era restrita à geografia, confundia a escolha do objeto de pesquisa como recurso para compreender a realidade com engajamento político, o que infelizmente empobreceu o debate na geografia com impactos importantes para sua vertente política. Esta foi substituída por uma pretensa geografia do poder, que até hoje não quer dizer muita coisa, mas apenas uma tautologia. Confundiu-se os conflitos produtivos que pertencem ao campo da economia com os conflitos distributivos que pertencem ao campo da política. A submissão da política à economia produziu muitos reducionismos e não favoreceu a compreensão da realidade que teima em não se enquadrar aos moldes de um modelo explicativo previamente estabelecidos. Felizmente hoje há críticas importantes a essa deriva da disciplina, que começa a se abrir para um pluralismo conceitual mais saudável, que tem reduzido a desconfiança sobre a geografia política.
Voltando ao estágio em Paris, este me ofereceu muito mais. Tendo saído do Brasil no confuso início do governo Collor, vivenciando o processo de inflação sem controle que dificultava avaliar os limites do orçamento doméstico, mergulhar num ambiente de estabilidade, de democracia e de cidadania como experiências do cotidiano, deixou marcas que não mais se apagaram. Minha sensibilidade para a política como viagem intelectual era cada vez mais reforçada como viagem existencial. A descoberta da alteridade, o compartilhamento da diversidade – étnica, religiosa, de nacionalidade – nos espaços e transportes públicos era um exercício cotidiano de se reconhecer como brasileira, para o bem e para o mal. A experiência de viver um tempo fora da “concha protetora” na expressão de Bachelard, no estrangeiro é um privilégio que o mundo acadêmico oferece e deveria ser aproveitado. Estimulei todos os meus alunos a buscarem doutorado, bolsa sanduíche ou pós-doutorado no exterior. Os que souberam aproveitar reconhecem a importância da experiência. Mas, que fique claro, não é fácil mergulhar em outra cultura, grandes esforços e alguns sacrifícios são exigidos, mas os ganhos são para toda a vida.
Morar na Paris do início da década de 1990, partilhar de um espaço institucional no qual a praça e o palácio se confrontam, mas acima de tudo interagem, se reforçam e se respeitam por que sabem, como disse uma vez Norberto Bobbio, que “o palácio sem a praça perde a legitimidade e a praça sem o palácio perde o rumo”. Meu desconforto com os tempos da ditadura e a experiência do respeito que as instituições públicas devem aos cidadãos eram fundamentos sobre os quais minhas opções de temas de pesquisas, mais amadurecidas a partir da tese de doutorado, acabaram progressivamente se encaminhando.
Este percurso possibilitou reforçar minha sensibilidade pela política e definir o nicho da geografia no qual me encontro e que hoje vai muito além da Região Nordeste como problema e do imaginário político como substrato das análises sobre o território. Minha perspectiva da geografia política está na interface dos fenômenos políticos, perfeitamente inseridos na sociedade, com o espaço que ela organiza. Utilizando aqui as palavras de John Agnew, minha preocupação é de como a geografia é hoje cada vez mais informada pela política e, na mesma linha, a perspectiva de Jacques Lévy para quem mais do que geografia política nos moldes clássicos é importante hoje fazer uma geografia do político. E nesta direção, a centralidade territorial do Estado como fundamento da autonomia do seu poder, como discute Michael Mann, define uma agenda de pesquisa inovadora, que incorpora as múltiplas escalas com as quais o campo da geografia deve lidar. A escala do Estado-Nação, duramente criticada na retomada da geografia política desde a década de 1970, adquire significado bem diferente quando considerada a partir das entranhas do estado, ou seja, das suas instituições e dos vínculos destas com a sociedade e seu território. Não há divórcio entre a formação da sociedade e aquela dos aparatos para o seu governo, que na modernidade assumiu o formato do Estado moderno, como um olhar mais apressado para algumas das polêmicas entre a sociologia e a ciência política pode fazer crer. Na realidade, Estado é um “locus” de poder, mas do poder político, e a tentativa de substituí-lo na agenda por uma geografia do poder é no mínimo ingênua.
Neste sentido, o Estado é retomado da agenda da geografia política clássica, porém, menos nos seus conteúdos formais ou na relação com outros Estados, tema central da geopolítica e das relações internacionais, mas como uma escala política consistente que define um território pleno de problemas, conflitos e contradições. A ordem espacial e social que resulta desta dinâmica oferece uma agenda temática estimulante e também provocativa que, ao aceitar a multidisciplinaridade, recorre a matrizes intelectuais que transcendem ao campo da geografia e se estendem ao domínio mais amplo das ciências sociais. Uma lição de Milton Santos, em sua curta passagem pelo nosso departamento, foi bem aprendida: as ciências crescem nas suas margens.
3. A CARREIRA ACADÊMICA
Inserção na graduação da UFRJ; Ensino e Pesquisa; A inserção na pós-graduação: Disciplinas - Projetos de pesquisa – Orientações; participação na vida universitária:
Administração acadêmica, Representação em colegiados, Atividades de Extensão
Concluído o doutorado e o estágio de pós-doutorado, a bagagem acadêmica se consolidava e o oferecimento de cursos uma oportunidade de levar aos alunos da graduação em geografia a renovação do debate na geografia e a dimensão política como ingrediente necessário. O retorno do pós-doutorado me “credenciou" para finalmente reivindicar uma disciplina no curso de geografia e passar para outro novato os cursos do IFCS.
A disciplina “Trabalho de Campo” foi a primeira, que acumulei durante algum tempo com as do IFCS, e ensejou pôr em prática, agora na posição de responsável, a experiência de conduzir os alunos pela aventura da investigação, da definição da questão adequada, da observação, do aprendizado de como obter informações relevantes, de selecionar e de abordar atores sociais apropriados. Algumas experiências foram importantes: O Estágio de Campo III requer uma permanência mais prolongada dos estudantes, o que favorece a escolha de destinos mais distantes. Por duas vezes fomos explorar no Norte de Minas Gerais, a área dos projetos de irrigação da CODEVASF. As possibilidades de articular as decisões de políticas públicas federais, os atores sociais dos sindicatos rurais, os empresários, as cooperativas, a tecnologia necessária, as burocracias das prefeituras e muitos outros aspectos daquele espaço constituíram um aprendizado prático inestimável.
Em outra oportunidade, no Estágio de Campo I, que requer saídas de um dia para estudar um aspecto específico, no caso, a relação entre o espaço urbano e a política habitacional selecionei uma visita à Zona Oeste do Rio de Janeiro, espaço ocupado por grandes conjuntos habitacionais construídos pelos institutos de previdência corporativos – IAPC, IAPI etc., conhecido como Moça Bonita, na década de 1950 e, mais especialmente, a Vila Kennedy, construída no início da década de 1960 e que já havia sido meu objeto de investigação há 20 anos. Esta experiência, diante da deterioração dos conjuntos habitacionais me levou a escrever um artigo publicado no Jornal do Brasil: “Moça Bonita e os limites da democracia”, em 2000. Porém, como a exposição na mídia sempre produz mais impacto, o aprofundamento da questão levantada por aquela experiência resultou em artigo sobre a paisagem urbana brasileira e o imaginário nela subentendida e publicada com o título “Paisagem e Turismo. O paradoxo das cidades brasileiras”, no livro Turismo e paisagem, organizado por Eduardo Yázigi, colega da USP.
As disciplinas teóricas favoreciam a consolidação do meu interesse pela dimensão política do espaço: A Geografia Política, a Geopolítica, os Tópicos Especiais em Geografia Política e, mais recentemente, a Geografia política das eleições no Brasil tem constituído momentos de selecionar leituras e orientar debates fortemente articulados ao meu campo de pesquisa.
A Geopolítica, que tive oportunidade de ministrar por curto período, é importante por resgatar a dimensão clássica da disciplina e o papel das estratégias de disputas entre os Estados nacionais. A escala privilegiada para sua análise é a global. Seu conteúdo é tema cada vez mais importante nos cursos de relações internacionais, revalorizados num mundo globalizado onde não apenas os Estados Maiores, mas também as empresas necessitam definir estratégias para uma competição ampliada. Por opção passei ao largo da “geopolítica crítica”, hoje sob intenso debate e crítica.
Tópicos Especiais em Geografia Política é uma disciplina eletiva que possui conteúdo variado, definido pelo professor responsável no período em que é oferecida. Nas oportunidades de oferecê-la, optei por discutir a territorialidade do Estado brasileiro através do levantamento e análise da distribuição regional da burocracia federal: tipos de órgãos, cargos, funcionários. Trabalhos foram realizados pelos alunos e alguns decidiram aprofundá-los e transformá-los em monografia.
Mais recentemente, foi criada a disciplina eletiva Geografia política das eleições no Brasil, que tem despertado grande interesse dos estudantes, tanto pelo tema sempre polêmico das eleições como pela possibilidade de fazer uma verdadeira geografia eleitoral, com mapeamentos e análises dos resultados. Este tem sido tema de monografias e já foi objeto de uma dissertação e de outra em andamento, além de uma tese de doutorado sobre a territorialidade da representação parlamentar.
A geografia política, finalmente, firmou-se como o centro em torno do qual tenho desenvolvido minhas reflexões, meus projetos de pesquisa, minhas orientações. No entanto, algumas dificuldades foram imediatamente percebidas no momento de definir um conteúdo atual e compreensível para os alunos do curso de graduação e para obter material de leitura adequado e em português. Alguns livros importantes e traduzidos foram em algum momento utilizados: Geografía política de André-Louis Sanguin (em espanhol), A geografia serve, antes de tudo, para fazer a guerra, de Yves Lacoste, Geografia e poder, de Paul Claval, Por uma geografia do poder de Claude Raffestin, Geopolítica e geografia política, de Wanderley Messias da Costa, além de outros livros importantes. No entanto, nenhuma dessas leituras esgotava aquilo que eu considerava de inovador na geografia política, ou seja, a recuperação do recorte nacional como um espaço político por excelência no qual instituições fazem a mediação com os interesses conflitantes da sociedade.
Esta direção pode ser encontrada especialmente em geógrafos franceses como Jacques Lévy e Michel Bussi ou de alguns anglo saxões como Graham Smith, John Agnew, Clive Barnet, Murray Law ou John O’Loughlin. Além desses, toda uma gama ampla e variada de artigos na revista Political Geography, acessível no Portal Capes, mas em inglês. Esses autores menos “clássicos” têm sido importantes por contribuir para uma nova agenda da geografia política que resgata alguns temas clássicos da disciplina, como a geografia eleitoral, criada por Siegfried, mas abandonada pela geografia e utilizada pela ciência política, ou mesmo as questões colocadas por Gottmann em seu The significance of territory, menos conhecido do que o La politique des États et leur géographie.
Como era difícil estabelecer uma grade de leitura satisfatória e ao alcance dos alunos para evitar o hábito de tirar xerox de capítulos ou páginas avulsas, fui progressivamente preparando um material didático que acabou resultando no livro Geografia e política. Territórios, escalas de ação e instituições, editado pela Bertrand Brasil em 2005 e hoje em 7ª edição. Este livro constitui o produto de uma etapa madura do meu desenvolvimento intelectual e profissional que me permitiu elaborar um quase manual para os estudantes e interessados na geografia política. Digo quase por que não se trata do conteúdo que seria necessário para abranger todos os temas da disciplina, mas que reflete a direção e as escolhas que tenho feito. Neste sentido, o livro tem atendido a uma agenda da geografia política que abrange problemas conceituais da disciplina, suas escalas mais significativas e questões sobre uma geografia política brasileira. Alguns temas como federalismo, geografia eleitoral, cidadania e democracia tem sido aprofundado em teses de mestrado e doutorado. Os dois últimos tem sido objeto de minhas inquietações mais recentes, que compartilho com os estudantes.
É importante uma rápida menção à implantação do Curso Noturno de Geografia, objeto de grande debate no departamento, em meados da década de 90. Fui defensora do curso desde o seu início e só lamento o isolamento desses alunos e as poucas oportunidades que o espaço do IGEO lhes oferecia naquele momento. Como eram ainda poucos cursos, o horário noturno não favorecia para que eles usufruíssem da efervescência e da diversidade próprias da experiência de um curso superior. O convívio com esses alunos, mais maduros e com um cotidiano muito mais duro do que aquele dos jovens do curso diurno mostra como o ensino é acima de tudo um compromisso social. Felizmente este ambiente de isolamento mudou. Há muito mais alunos e interação entre eles no período noturno.
A proximidade com os estudantes de graduação em geografia permitiu estimulá-los a refletir sobre a importância da política para o cotidiano de cada um, partindo da perspectiva teórica conceitual que existe uma autonomia do político que deve ser compreendida e tomada como suposto nas análises. Nesta perspectiva, o território é visto como uma arena onde conflitos e disputas de interesses afetam e são afetados pela ordem social. As muitas dimensões da política: histórica, econômica, urbana, rural etc. são exemplificadas com os conhecimentos que os estudantes trazem de outras disciplinas.
Como não podia deixar de ser, o percurso da geografia política vem desembocando na reflexão sobre os espaços políticos, ou seja, aqueles espaços mobilizados para a ação política, seja o das casas legislativas, aqueles dos conselhos de representação para decisão sobre políticas públicas, seja o das ruas invadidas por passeatas e manifestações. Este é um nicho que já rendeu teses e dissertações e tem se mostrado cada vez mais desafiador intelectualmente.
A inserção na pós-graduação se deu a partir de 1991, com a oportunidade de participar do Programa de Pós-Graduação em Geografia, o que representou a fase de amadurecimento profissional e intelectual na geografia. Esta foi a ocasião de definir conteúdos que dariam suporte às pesquisas dos mestrandos e doutorandos, mas também às minhas próprias indagações. Após o retorno da França e dando continuidade à minha bolsa do CNPq, desenvolvi no LAGET – Laboratório de Gestão Territorial entre 1992 e 1994 meu sexto projeto de pesquisa: Natureza e imaginário político-territorial. Antigo e moderno no semi-árido nordestino. A pesquisa realizada identificou a tensão entre os velhos atores políticos regionais e o seu discurso tradicional, alimentado pelos impactos da seca sobre a vulnerabilidade econômica e social do sertão, e o surgimento de novos atores, impulsionadores de novas atividades, sobre as quais um novo imaginário foi progressivamente sendo elaborado. Este processo de mudança possibilitou a inversão do determinismo climático tradicional, dando origem a outro tipo de discurso, elaborado por outro tipo de interesse com suporte justamente nas condições naturais, tradicionalmente vistas como desfavoráveis.
As indagações da pesquisa de doutorado tinham se aprofundado e meu objeto de atenção tornou-se a elite empresarial nordestina que se beneficiava com as condições do clima semiárido. Identificá-la, analisar seus discursos sobre as vantagens da pouca chuva e o grande potencial que o clima semiárido representava permitiu aprofundar aquilo que a tese do doutorado já havia demonstrado, ou seja, como a imagem regional é uma elaboração social, jamais espontânea e sempre eivada de interesses. Mas, paralelamente, constatar a atualidade da leitura de La Boétie sobre “O discurso da servidão voluntária”. Neste tema foi defendida em março de 1993 a primeira dissertação de mestrado orientada por mim: “O imaginário oligárquico do programa de irrigação no Nordeste”, de Rejane Cristina Araújo Rodrigues. O tema já dava seus frutos que cresceram e amadureceram ao longo desses anos. O projeto incluía ainda estudantes de graduação (4); de Mestrado acadêmico (3) e de Doutorado (1).
Além da pesquisa, o compromisso com as aulas e seminários estava também presente. Como tínhamos liberdade de criar nossas disciplinas de acordo com nossas linhas de pesquisa, propus discutir inicialmente Imaginário político e território e Região e Regionalismo, temas aos quais eu me dedicava. Posteriormente criei mais uma: Território e políticas públicas, adequada aos avanços de minhas questões. Além desse compromisso com as disciplinas do programa, somos chamados também a oferecer os Seminários de Doutorado, disciplina obrigatória a todos os alunos deste nível. O formato do seminário é interessante porque reúne os alunos de todas as áreas de concentração e deve, preferencialmente, estabelecer debates e discussões em torno de temas e questões metodológicos da geografia em particular ou da ciência em geral. Nos últimos anos tenho focado o debate na metodologia da ciência, no debate epistemológico sobre o conhecimento científico e nos formatos possíveis da pesquisa em diferentes áreas científicas. Procuro sempre convidar pesquisadores da geografia e de outras áreas tão diferentes como a física, a antropologia, a ciência política, a economia etc. para apresentar suas pesquisas e seus métodos de investigação. Os debates são acalorados e aprendemos sempre que fazer pesquisa científica não é simples nem fácil, mas que torna cativo todo aquele que nela se inicia.
Por isso mesmo, o resultado é sempre surpreendente e os alunos que algumas vezes ficam reticentes quando o programa de leituras e de debates lhes é apresentado, ao fim são devidamente conquistados pela possibilidade de discutir questões do mundo da ciência, aparentemente distante de suas preocupações mais imediatas de tese, mas que contribuem fortemente para o enriquecimento intelectual e ampliação da visão sobre a ciência. Eles reconhecem que suas teses serão mais bem fundamentadas conceitualmente.
O caminho natural das aulas, das pesquisas e das orientações foi consolidar a linha de pesquisa “Política e Território” com a criação em 1994 de um grupo de pesquisas, GEOPPOL – Grupo de Pesquisas sobre Política e Território, registrado no diretório dos grupos de pesquisas do CNPq. O Grupo é vinculado ao PPGG e reúne estudantes de Graduação, Pós-Graduação e Pós-Graduados em Geografia. O GEOPPOL tornou-se um espaço privilegiado de debates dos temas das pesquisas dos profissionais e estudantes, bem como de temas de interesse mais amplo da geografia política. É neste fórum de discussão que meus projetos de pesquisa têm se desenvolvido desde então, com a participação de bolsistas de Iniciação Científica, mestrandos e doutorandos.
Já com uma bagagem de seis projetos de pesquisas que resultaram em publicações e elaboração de monografias e na primeira dissertação de mestrado orientada, mudo a cronologia para adequá-la aos tempos mais maduros de coordenação do GEOPPOL. A seguir indico os projetos de pesquisa e a importância que tiveram na produção acadêmica e formação de recursos humanos.
1994 – 1996: Natureza e imaginário político. A fruticultura irrigada e o novo imaginário do sertão.
Neste projeto foram analisadas as mudanças no discurso político decorrentes do desenvolvimento da fruticultura irrigada no semi-árido nordestino. Esta atividade propiciou o surgimento de novos interesses, comandados pelos novos atores econômicos a ela vinculados. Pelas especificidades e exigências desta atividade, o discurso regional dela decorrente demonstrou ser um contraponto importante àquele tradicional, fortemente marcado pela miséria e pela seca. Novas ações têm sido projetadas como decorrência da expansão dessas novas atividades e de seus atores mais importantes.
Participaram do projeto: dois estudantes de Graduação, três de Mestrado e três de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES.
1998 – 1999: Geografia, gestão do território e desenvolvimento sustentável.
O projeto teve como objetivo consolidar uma linha interdisciplinar de pesquisas no âmbito do PPGG/UFRJ em colaboração com o Centre de Recherche et Documentation sur l'Amérique Latine - CREDAL da Universidade Paris III, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES, Comission de Cooperation France Brésil-COFECUB, e do CNPq.
Participaram do projeto: um estudante de Graduação, um de Mestrado e um de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES.
1998-2001: “Novo imaginário político territorial e os sistemas territoriais de produção no semi-árido brasileiro”.
Neste projeto a questão institucional já se insinuava com a incorporação dos sistemas territoriais de produção. Foram feitos levantamento e análise das atividades vinculadas à fruticultura irrigada no semi-árido nordestino, especialmente nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará que podem ser considerados sistemas territoriais de produção. O objetivo da pesquisa era identificar as mudanças que se colocaram em marcha nos territórios onde foram implantadas novas atividades produtivas nas últimas décadas, especialmente aquelas vinculadas à fruticultura. As mudanças mais importantes detectadas ocorreram nas relações de trabalho e na melhoria do nível de mobilização política da sociedade local, identificada pelo aumento de sindicatos e associações.Foram analisadas também as condições de suporte ou de resistência das estruturas institucionais das escalas estaduais.
Participaram do projeto: Dois estudantes de Graduação, três de Mestrado e quatro de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES.
2002 – 2004: “Municípios, instituições e território. Possibilidades e limites ao exercício da cidadania no país”.
Este projeto constituiu um avanço em relação às questões pesquisadas anteriormente. A questão institucional e o município como um espaço político-institucional por excelência no federalismo brasileiro se consolidaram. O objetivo da pesquisa foi analisar as densidades institucionais nos municípios para compreender o seu papel nos mecanismos de produção e reprodução dos espaços da desigualdade social, no processo de transformações do território e na ampliação da cidadania. Tomando como suposto que a escala local é fortemente afetada pela sua base infra-estrutural, propõe-se comparar e analisar os padrões de distribuição, no território brasileiro, dos indicadores de desenvolvimento humano e social e os recursos institucionais disponíveis para a democracia e o exercício da cidadania, a partir dos padrões de dispersão das estruturas municipais de gestão e suas correlações com indicadores econômicos e sociais.
Participaram do projeto: três estudantes de Graduação, um de Mestrado e quatro de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES e do Institut de Recherche Pour Le Developpement Des Pays Du Sud-IRD.
2004 – 2007: “Inovação institucional, cidadania e território no Brasil. O município como problema e a localização como mediação”.
A aproximação com as bases institucionais e territoriais da cidadania possibilitou amadurecer a relação entre a política e o território a partir das densidades institucionais necessárias ao seu exercício. Afinal a cidadania é direito, mas é no território que ele é exercido. Neste sentido o objetivo do projeto era de analisar o município como escala do fenômeno político institucional, o qual se materializa na gestão e organização do território, tratando o recorte municipal como objeto de análise na geografia política brasileira. Identificar o papel e os limites das densidades institucionais no processo de transformações do território e nos mecanismos de produção e de reprodução dos espaços da desigualdade social, que afetam as condições de acesso aos direitos sociais inscritos da cidadania. Tomando como suposto que a escala local é fortemente afetada pela sua base infra-estrutural, propõe-se comparar e analisar os padrões de localização, no território brasileiro, dos recursos institucionais disponíveis nos municípios, inserindo no espaço na discussão sobre a cidadania e a democracia no país.
Participaram do projeto: quatro estudantes de Graduação, dois de Mestrado, um de Mestrado profissionalizante e três de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES, Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro-FAPERJ e Ministério da Defesa.
2008-2010: “O espaço político local. Problemas e significados da sobre-representação política no município”.
Este é o tema com o qual venho trabalhando. A geografia do político se impôs e o sistema de representação política das democracias contemporâneas, que têm sido objeto de amplos debates nas ciências sociais, especialmente na ciência política, vem sendo cada vez mais objeto de atenção na geografia. Este debate tem se dado em torno das vantagens ou dos limites dos sistemas eleitorais adotados para transformar os votos dos eleitores dispersos nos territórios nacionais em representação no legislativo. No Brasil, os problemas atuais decorrentes do sistema eleitoral vigente têm colocado na pauta nacional a questão da possibilidade de implantação do voto distrital. A dimensão territorial do sistema de representação política é evidente e inexplicavelmente a geografia do país se coloca a parte nesse debate. O objeto da investigação é a representação política nos municípios brasileiros menos povoados, tendo em vista o significado dos seus impactos para a sociedade e o território locais. Este será tratado em dois níveis, um geral que se propõe aprofundar a perspectiva teórico-conceitual de uma problemática territorial da representação política, no sentido de ampliar o escopo da geografia política; e outro específico que possibilitará identificar padrões de distribuição do impacto da sobre-representação nos municípios menos povoados no território nacional. Duas questões gerais são aqui propostas. Uma, é até que ponto a natureza da organização do território nacional afeta os desequilíbrios identificados no sistema de representação política, tomando como caso o sistema proporcional adotado no Brasil. A outra, é sobre a relevância, ou não, das escalas políticas locais para pensar a representação e a democracia, a partir das consequências do modelo de representação proporcional adotado nos legislativos municipais brasileiros, tendo em vista o pacto federativo da Constituição de 1988. A fundamentação conceitual apóia-se no problema da dimensão territorial da representação política e na questão da escala e da configuração dos espaços políticos. Participaram do projeto: três estudantes de Graduação, dois de Mestrado, um de Mestrado profissionalizante e três de Doutorado, com financiamento do CNPq e CAPES e Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro-FAPERJ.
As orientações constituem um capítulo à parte na vida acadêmica. Em cada projeto sumarizado, alunos de graduação e de pós-graduação constituem aquilo que poderíamos chamar de “as esperanças do futuro. Algumas se concretizam de modo mais completo, mas todas foram realizações daquilo que é parte do ofício de professor e pesquisador: a formação de recursos humanos.
As orientações de monografia são importantes porque qualificam os alunos para o exercício da profissão, mas também porque ensejam a continuidade na pós-graduação. Fazendo uma contabilidade rápida, verifico que das 15 monografias de graduação que orientei (o número é maior, mas me perdi nos levantamentos), sete continuaram no GEOPPOL e fizeram o mestrado e cinco ingressaram no doutorado dando continuidade ao seu engajamento nos temas de pesquisas do grupo. Destes, quatro hoje são professores em Instituições de prestígio, e já tem suas pesquisas e seus orientandos: destaco Rafael Winter Ribeiro, cuja tese “A invenção da diversidade: construção do Estado e diversificação territorial do Brasil (1889-1930)” aprofundou o problema da relação da natureza e do imaginário na construção de uma visão particular sobre o território. Rafael é hoje meu colega no Departamento de Geografia da UFRJ e Vice-Coordenador do GEOPPOL. Dou destaque aqui ao seu percurso, pois vem orientando monografias de graduação, está credenciado para participar do PPGG e já está orientando sua primeira dissertação de mestrado.
Rejane Rodrigues defendeu tese de doutorado sobre a logística do porto de Sepetiba, destacando os conflitos institucionais e políticos nas diferentes fases do projeto do porto. Hoje é professora do curso de Geografia e do Progama de Pós-Graduação da PUC-Rio. Fabiano Magdaleno fez uma tese de doutorado ousada, sobre a territorialidade da representação parlamentar no estado do Rio de Janeiro. Utilizou como material empírico um longo levantamento sobre o destino das emendas parlamentares. Um cientista político foi convidado para a banca de defesa da tese e declarou que após ler seu trabalho ficou convencido de que existe realmente uma “territorialidade da política”! Sua tese já está publicada e ele já tem sido solicitado por políticos para mapear seus votos e suas emendas. Hoje é professor no CEFET-Rio. A mais jovem, Juliana Nunes Rodrigues, cuja tese de doutorado em Lyon co-orientei, ganhou uma bolsa PDJ/CNPQ (Pós-Doutorado Júnior) para atuar sob minha supervisão no GEOPPOL. Estes jovens doutores, que acompanhei desde o curso de graduação e no mestrado, hoje são profissionais competentes e reconhecidos, cada um delimitando seu próprio nicho de atuação.
Destaco também o hoje professor da Universidade Federal Fluminense, Nelson Nóbrega Fernandes, que não orientei durante a graduação, mas que orientei no mestrado, com a dissertação “O rapto ideológico do conceito de subúrbio carioca”, em 1996, e no doutorado com “Festa, cultura popular e identidade nacional. As Escolas de Samba no Rio de Janeiro (1928-1949). Nos dois trabalhos, as possibilidades de explorar a política como questão, seja na construção de uma identidade perversa no espaço urbano seja no reforço da identidade nacional a partir de uma manifestação popular
Dos sete que continuaram o mestrado, mas não ingressaram no doutorado, destaco dois: Fabio Neves que é professor Assistente na Universidade Estadual do Paraná e faz o doutorado em Curitiba. Nossos vínculos continuam fortes e de vez em quando sou solicitada para discutir um tema ou tirar uma dúvida. Fico feliz em vê-lo amadurecer intelectualmente e profissionalmente. O outro é Danilo Fiani, que fez uma brilhante dissertação de mestrado sobre a territorialidade da IURD (Igreja Universal do Reino de Deus) a partir do mapeamento dos votos dos políticos vinculados a ela no município do Rio de Janeiro. Seu projeto de continuar e ingressar no doutorado foi adiado após sua aprovação em concurso nacional para fazer parte do quadros da ANAC – Agência de Aviação Civil como geógrafo. Ele foi o primeiro colocado e contratado imediatamente. Tem um excelente plano de carreira, mas pensa em voltar para o doutorado. Destaco ainda Savio Raeder Oselieri, que após a monografia fez o mestrado na UFF, mas voltou para o doutorado e paralelamente foi também aprovado em concurso nacional para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Está em Brasilia, mas continua trabalhando a sua tese.
Destaco também experiência de orientar a dissertação do estudante angolano Mario Caita Bastos sobre “As escalas institucionais e as bases étnicas na organização do poder e do território de Angola”. Esta foi uma aventura bem particular. Ainda nas orientações de mestrado, Maria Lucia Vilarinhos estudou a relação dos projetos da Universidade do Brasil com os debates e dilemas para a definição do seu local de implantação. A escolha da Ilha do Fundão para a localização do campus trouxe várias conseqüências, entre elas um território que mais separa do que integra a vida acadêmica. Retomando esta linha, porém com perspectiva bem diferente, o mestrando americano Brian Ackerman pesquisa os espaços de integração no campus para o fortalecimento da comunidade cívica para a cidadania, na linha de Robert Putnam, comparando com o campus da Universidade Estadual da Flórida. Outro mestrando, Vinicius Juwer, terminou sua monografia de graduação sobre a territorialidade das milícias e atualmente reforça a linha da Geografia eleitoral, já explorada no GEOPPOL por Danilo Fiani, através da ampliação de seu tema de investigação.
Devo acrescentar meus orientandos de doutorado que são professores de universidades federais ou estaduais em estados da Região Nordeste e que vieram ao Rio de Janeiro, com bolsas da CAPES ou do CNPq, motivados pelos temas que eram discutidos no GEOPPOL. Estes profissionais foram impactados pela temática do imaginário nordestino apresentado em minha tese de doutorado e puderam ampliar para seus espaços e questões de interesse aquilo que tinha sido iniciado com a minha pesquisa. O primeiro deles foi José Lacerda Alves Felipe, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cuja tese foi “Memória e imaginário político na (re)invenção do lugar. Os Rosado e o país de Mossoró”, defendida em 2000. Esta tese tem lugar especial, por minha primeira orientação de doutorado e por discutir o imaginário político em um caso tão singular como o da família Rosado Maia, até hoje dominante no cenário político do oeste do Rio Grande do Norte.
Em seguida, em 2003, outros defenderam teses: a professora Vera Lúcia Mayrink de Oliveira Mello, professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco, sensibilizada com a questão do imaginário, aplicou-o na tese “A paisagem do rio Capibaribe: um recorte de significados e representações”. O professor da Universidade Federal da Paraíba, Campus de Cajazeiras, Josias de Castro Galvão pesquisou “Água, a redenção para o Nordeste: discursos das elites políticas cearense e paraibana sobre obras hídricas redentoras e as práticas voltadas ao setor hídrico” o imaginário sobre a água como a redenção da Região foi aprofundado nessa tese. Da Bahia vieram dois professores da Universidade Estadual: Antonio Angelo Martins da Fonseca, do Campus de Feira de Santana, que estudou a “Descentralização e estratégias institucionais dos municípios para a capacitação de recursos: um estudo comparativo entre Feira de Santana, Ilhéus e Vitória da Conquista - BA (1997-2003)”. A vertente institucional e a questão do município como um território político-institucional se evidenciava e o território baiano mostrou-se um excelente campo de indagações e de estudos.
Do Campus de Vitória da Conquista veio Renato Leone Miranda interessado em investigar e compreender as “Políticas públicas e a territoriralização do desenvolvimento turístico da Bahia: o caso da Chapada Diamantina”. Munido de excelente bagagem intelectual e de longa experiência sobre os conflitos e interesses na ocupação turística da Chapada Diamantina, a tese tem sido uma referência sobre as políticas públicas na área do turismo em Parques Nacionais.
Em 2004, foi a vez de Caio Amorim Maciel focar, assim como Vera Mairink já havia feito, o tema do imaginário na perspectiva da geografia cultural. Sua tese “Metonímias Geográficas: imaginação e retórica da paisagem no semi-árido pernambucano” incorporou toda uma vertente teórica da geografia cultural e o problema das representações. Seu trabalho é também uma referência necessária ao tema.
No Rio de Janeiro duas orientações de doutorado foram importantes, não apenas pela qualidade dos trabalhos realizados, mas também pelos vínculos institucionais que elas ensejaram para o GEOPPOL. Trata-se de Monica O’Neill, geógrafa do IBGE que desenvolveu um conjunto sofisticado de indicadores para elaborar a tese inovadora na geografia brasileira sobre as densidades institucionais no território nordestino e de Linovaldo Miranda Lemos sobre “O papel das políticas públicas na formação de capital social em municípios novos ricos fluminenses”em 2008.
Como acredito que o contato com outras realidades é fundamental na formação da imaginação acadêmica, estimulo todos os meus estudantes a complementar sua formação no exterior. Nem sempre tenho sucesso pois a aventura de sair do país requer superar dificuldades que nem todos tem possibilidade. Mas tive sucesso com cinco:
Para a Espanha foram Antonio Angelo M. Fonseca, no Instituto de Xeografia de Santiago de Compostela e Nelson N. Fernandes, em Barcelona; para a França, na Universidade de Pau, foram Caio Amorim Maciel e Rafael Winter Ribeiro. Os quatro foram beneficiados com bolsas sanduíche da CAPES. Juliana Nunes Rodrigues recebeu bolsa para a realização de doutorado pleno na Universidade de Lyon. Concluiu sua tese em quatro anos e teve menção “Très honorable avec félicitations du jury à l’unamité”, o que é cada vez mais raro nas universidades francesas, especialmente para alunos estrangeiros.
Sendo levada pelas memórias dessas orientações verifico como cada estudante traz, com suas dúvidas, medos e inquietações, uma perspectiva, ou abordagem, ou dimensão nova para o eixo central da relação entre a política e o território. Usando a bacia semântica de Gilbert Durand como metáfora, o rio da geografia política vai ficando cada vez mais caudaloso com estes novos afluentes representados pelos livros, artigos e orientações que eles vêm produzindo. Mesmo se reconheço que contribui para a formação de cada um, tenho muito a agradecer a meus estudantes. Mas não posso deixar de assinalar que eles representam uma “descendência” intelectual, que tem fincado as bases para uma nova abordagem da geografia política brasileira em que o território nacional tem sido uma escala necessária e a comparação um recurso metodológico importante.
Na administração acadêmica participei, no período de 1986-1987 da direção do Instituto de Geociências como Diretora Adjunta de Pós-Graduação e Pesquisa do CCMN/UFRJ quando tive oportunidade de conhecer os meandros da gestão acadêmica. Entre outras atribuições, cabia ao Diretor Adjunto facilitar os meios para que os programas de pós-graduação pudessem cumprir seus objetivos de formação de recursos humanos. Como prerrogativa do cargo eu tinha assento na Congregação do IGEO e no Conselho do CCMN, o que me dava oportunidade de identificar dificuldades dos programas e ajudar a saná-las, mas também, no Conselho do CCMN ser a voz da “minoria” uma vez que numa composição de representantes dos Institutos de Física, de Química e de Matemática, o Instituto de Geociências quase sempre saia perdendo. Os debates e defesa de interesses de cada um desses institutos permitiram uma visão mais ampla dos limites, inclusive financeiros e materiais da instituição. Percebi que argumentar é uma arte e que na democracia os “mais fracos” podem ter voz e até ganhar adesões importantes para decisões favoráveis.
Esta foi também uma ocasião importante para reformular o Anuário do Instituto de Geociências, iniciado no início dos anos 1980, do qual me tornei pela primeira vez Editora em 1986. Voltei a assumir esta tarefa em 1992-1995. Este foi um periódico necessário, tanto para divulgação dos trabalhos dos pesquisadores do IGEO e fora dele, mas também um recurso que durante o tempo de sua existência permitiu à Biblioteca Central do CCMN manter a atualização do acervo dos numerosos periódicos nacionais e internacionais que ela disponibilizava. Durante os anos 80 e 90 este era o acervo mais completo e variado de revistas acadêmicas de geografia de alto nível.
De agosto de 1992 a dezembro de 1994 fui Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGG. Este foi um momento crucial para implementar o programa de Doutorado que havia sido implantado na gestão anterior. Foi tempo de definir regras de ingresso, de exames de qualificação, disciplinas e de distribuição de bolsas neste tempo ainda muito escassas.
Tive outras oportunidades de participar de colegiados da UFRJ. Fui eleita Representante dos Professores Adjuntos no Conselho do IGEO para o período 1989-1992, e em 1992 fui eleita representante dos professores adjuntos do IGEO para participar no Conselho do CCMN. Em agosto 2004 fui eleita para um mandato de três anos (até julho de 2007) como representante dos professores adjuntos do CCMN – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza no CEPEG – Conselho de Ensino e Pesquisa em Pós-Graduação, órgão de deliberação da Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Esta foi uma oportunidade ímpar de ter uma visão de conjunto da UFRJ, seus centros, departamentos, seus conflitos, as disputas de interesses entre as diversas áreas do conhecimento e seus lugares institucionais. O sistema de definição da pauta, debates, encaminhamentos e votações foi um aprendizado prático de como a democracia representativa funciona. Tensões, alianças e votos. Aos perdedores cabe aceitar e continuar debatendo sobre outros temas. Cansativo, mas fascinante.
Nos biênios 2007/2008 e 2009/2010 fui Membro da Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação em Geografia, convidada pelo Coordenador do Programa. A participação nesta comissão é a contribuição do meu tempo às questões da gestão do Programa de Pós-Graduação. A experiência acumulada tem me permitido contribuir, sempre que possível com as tarefas mais prementes que cabem ao colegiado do PPGG. No triênio 2009, 2010 e 2011 fui indicada para participar como representante da área do Turismo no Comitê de Assessoramento das Ciências Sociais – CA / SA do CNPq. Esta tem sido uma oportunidade ímpar de desenvolver uma ampla visão da área no país, bem como participar das discussões com todo o Comitê de Assessoramento, inclusive de prestar colaboração, sempre que solicitada, à área de Geografia Humana.
As atividades de extensão, devo confessar, tem sido menos prioritárias nas minhas atividades acadêmicas. Na realidade, esta não tem sido uma tradição do nosso departamento, embora este quadro venha mudando progressivamente. Em 2006 participei da atividade “A Escola vai a Universidade”, organizada pela professora Maria do Socorro Diniz com o objetivo de aproximar os professores de geografia do ensino médio com os debates e temas discutidos pelos professores pesquisadores do nosso departamento. Este foi um dia de trabalho para o GEOPPOL, parte da manhã e da tarde, quando as pesquisas em andamento e algumas já concluídas foram apresentadas e debatidas com os numerosos professores que procuraram a atividade. Foi um momento importante de treinamento para os professores e consciência, para nós, do quanto temos a oferecer. Outra atividade em que participei foi oferecida na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste caso foi um Curso de Especialização em Gestão de Políticas Públicas, aberto à comunidade, em Julho de 2006. De março a junho de 2008, ainda no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, participei no curso de Relações Internacionais. Na UNIOESTE – Universidade Estadual do Paraná, Marechal Cândido Rondon, em 17/06/2008, fui convidada a prestar assessoria técnico-científica para a implantação futura do programa de pós-graduação, cuja linha de concentração seria no âmbito da geografia política. Em 07/07/2008 tive oportunidade de debater questões relativas aos acordos e convênios internacionais com os pares da Cátedra Charles Morazé, na Universidade de Brasília.
Além da UFRJ inserção nacional e internacional: Projetos – Cursos – Eventos. A inserção internacional iniciou-se com meu estágio pós-doutoral na França. Nesta oportunidade, além das atividades do CEAQ, já abordadas, entre dezembro de 1990 e fevereiro de 1991 pude me aproximar do Centre de Recherche sur le Brésil Contemporain na École de Hautes Études em Sciences Sociales – EHESS, Paris, dirigido pelo Professor Ignacy Sachs. Ainda na EHESS, tive oportunidade de participar das atividades do grupo do sociólogo Jean Prevot.
Esta inserção tem tido continuidade seja na condição de pesquisadora em convênios de cooperação internacional, como naqueles financiados pela CAPES, seja em estágios obtidos em outras instituições. Em todos os casos a inserção tem aberto canais de diálogo e cooperação que passam a constituir espaços para a indicação e aceitação de doutorandos em estágio de Bolsa Sanduíche. Entre 1999-1992, participei do acordo CAPES – MINCyT com Elza Laurelli na Argentina, através do LAGET (Laboratório de Gestão Territorial). Em maio e junho de 1994 obtive uma bolsa do Programme Bourse de Recherche Brésil, oferecida pelo governo do Canadá, após ter meu projeto sobre “O discurso regionalista do Québec” indicado em primeiro lugar numa seleção nacional. As atividades incluíam levantamentos e contatos com pesquisadores em Otawa, Montreal e Québec.
Entre 1996 e 1997 tive oportunidade de participar do acordo CAPES-COFECUB, com o Institut de Hautes Études de L’Amérique Latine – IHEAL, com Martine Droulers, na França. Em 1998 obtive bolsa da CAPES para um projeto de um semestre de estudos e participação nos seminários e atividades do IEHAL – CREDAL em Paris, em cooperação com Martine Droulers.
Em resposta a um edital do IRD – Institut de Recherche pour Le Développement, apresentei um projeto que foi selecionado para dois semestres de atividades de pesquisa, em 2001 e 2002. O trabalho foi desenvolvido na École Normale Superieure do Boulevard Jourdan, em parceria com Philippe Vaniez e Hervé Thérry.
Entre 2005 e 2007, também no quadro do acordo CAPES-COFECUB, mas desta vez com o Laboratório SET – Société, Environement et Territoire, na Université de Pau, França, coordenado por Vincent Berdoulay, tive participação nas atividades de pesquisa e nos seminários organizados com os alunos de pós-graduação e com pesquisadores.
Todas estas ocasiões representaram oportunidades de dar a conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido no GEOPPOL, bem como debater e avançar questões novas e, principalmente, buscar visibilidade através de publicações conjuntas. Neste sentido, a aproximação com Philippe Vaniez e com Vincent Berdoulay foram particularmente fecundas, seja pela possibilidade de um retorno à quantificação, no caso do primeiro, como a de trabalhar o tema espaço público na perspectiva da política institucional e suas regras e constrangimentos.
Devo destacar o curso oferecido em setembro de 1977 na Maestria em Politicas Ambientales e territoriales da Universidade de Buenos Aires, Argentina, como professora convidada, quando foi ministrada a disciplina “Política e território. Discussão sobre as bases regionais da ação estatal”, com créditos para o dilpoma de mestrado na instituição.
Cada uma dessas ocasiões, além das atividades específicas a elas vinculadas, propiciou publicações conjuntas ou individuais, participação, em colóquios, simpósios e seminários internacionais, assim como em bancas de defesa de teses de doutorado, todas sempre bem vindas na construção da carreira acadêmica.
INSERÇÃO NACIONAL, EVENTOS
No Brasil, a demanda para oferecer cursos em diferentes programas de pós-graduação se somaram aos muitos convites para palestras, conferências, participação em mesas redondas, oportunidades de debates e apresentação dos resultados das pesquisas.
Devo destacar alguns desses cursos: em 1994 para o curso de Pós-Graduação, Especialização na Universidade do Ceará; em duas ocasiões, 1997 e 1998, para o curso de Especialização em Geografia da Universidade Estadual de Feira de Santana; em 1999 para o curso de mestrado do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília. Foram oferecidos também cursos nos programas de pós-graduação de da Universidade Federal de Sergipe, da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal de Santa Catarina.
Em Brasilia, como professora visitante no primeiro semestre de 2005, tive oportunidade de desenvolver o projeto “Território e cidadania nos municípios da Região do Entorno do Distrito Federal” em conjunto com a professora Marília Peluso, nos termos do acordo GEOPPOL/LATER– Laboratório de Análise Territorial do Programa de Pós-Graduação em Geografia.
Mas, voltando um pouco no tempo, devo acrescentar que desde a divulgação de minha tese de doutorado a repercussão, especialmente nos estados da Região Nordeste, propiciou uma série de convites para palestras e debates, na maioria das vezes bastante acalorados sobre o meu trabalho. Destaco o convite da Secretaria de Cultura do Ceará, no projeto “Conversa Afiada” para debater e fazer o lançamento do livro “O mito da necessidade” que havia sido editado no final de 1992.
A partir dessa visibilidade, as possibilidades de divulgar meus trabalhos tem sido freqüentes. É claro que se “o mito” foi um marco importante na minha carreira acadêmica e ainda dá frutos – afinal, é lento o processo de mudança do imaginário político, inclusive para boa parte da elite nordestina -, o tempo tem demonstrado que novas questões se impuseram e precisam ser investigadas.
Ambas as inserções se consolidaram com as publicações de livros individuais e coletâneas, artigos em anais e periódicos no Brasil, bem como artigos em coletâneas, em periódicos e em anais no exterior.
A participação em eventos encontra-se entrelaçada em todas estas oportunidades. Estes são espaços privilegiados de exposição de ideias, críticas e de debates, mas constituem também uma amostra do impacto intelectual das ideias na medida em que somos convidados para conferências e palestras.
Devo destacar os debates acalorados em muitas oportunidades quando da exposição de trabalhos cuja referência de fundo era o problema do Estado, da cidadania ou da democracia. Quanto mais esta vertente recebia crítica de alguns dos meus pares, mais eu me convencia da importância de aprofundá-las.
Nas participações em eventos no exterior era interessante perceber a curiosidade e o desconhecimento sobre o Brasil. O mapeamento sobre a desigualdade na distribuição dos recursos institucionais da cidadania, assim como a questão da especificidade do federalismo brasileiro e do seu sistema político eram objeto de debate e de perspectivas comparativas. Mas a oportunidade de ouvir a exposição de colegas de outros países ampliava minha visão dos novos eixos da pesquisa na geografia e a sensação confortável de que eu não estava só.
Não recupero aqui a lista de eventos de que participei por demasiado longa. Todos, grandes ou pequenos, próximos ou distantes, organizados por alunos ou por professores, no meio acadêmico ou fora dele são importantes por reunir idéias diferentes que se completam ou se enfrentam. Por isso mesmo reafirmo minha convicção de que essas são atividades necessárias à vida acadêmica, são espaços de visibilidade, de críticas, de debates; enfim, do duro escrutínio a que devem ser submetidos todos os trabalhos de pesquisa.
4. PRODUÇÃO ACADÊMICA
A procura de uma geografia política mais criativa
Esta é a parte das memórias de revisão da minha obra e que pretendo seja também conclusiva. Ao fazer este longo percurso reflito sobre os rumos, os meandros, as influências e os desafios dos meus escritos. Como talvez seja a única geógrafa brasileira com doutorado em ciência política, adquiri alguns vícios, especialmente aquele de olhar a ordem espacial, que afinal nos interessa, pelo viés do conflito de interesses que não se esgota no conflito produtivo, mas pelo viés do conflito distributivo que se encontra no campo da política, o que me levou a incorporar a política como tema para ampliar a agenda da geografia política.
Mas não poderia percorrer esta linha do tempo temático sem destacar o trabalho coletivo com meus colegas Paulo Gomes e Roberto Lobato. A discussão dos temas e a escolha dos autores refletiram aquilo que considerávamos propostas avançadas para a agenda da geografia em cada momento. As re-edições dos livros: Conceitos e temas, Questões atuais da reorganização do território e Explorações geográficas sugerem que tínhamos razão. Continuando esta aventura, encontra-se no prelo da editora Bertrand Brasil mais uma obra coletiva: Olhares geográficos. Modos ver e viver o espaço, cujo eixo são as muitas possibilidades conceituais e empíricas de recortar e analisar o nosso objeto. Minha contribuição individual expressa o interesse e resultado do trabalho em cada momento. Na primeira coletânea, o artigo sobre “O problema da escala”, ao que parece veio em boa hora, pois alem de traduzido para o francês e o espanhol tornou-se uma referência no debate sobre a questão na geografia brasileira. Na segunda, “Questões atuais...” foi a oportunidade de sistematizar a pesquisa sobre a fruticultura irrigada no Sertão nordestino e as implicações desta atividade na formação de uma nova elite agrária e um discurso diferente sobre a região estabelecendo os fundamentos de novas imagens da natureza semi-árida. Na terceira, “Explorações...” minha contribuição possibilitou discutir os fundamentos conceituais do problema do imaginário, estabelecer as relações possíveis com a natureza e aplicá-lo como modelo para análise dos regionalismos e das representações no país. Na última, o compromisso dos textos é mais conceitual. Minha contribuição contempla a política sob o ponto de vista do papel normativo dos conflitos de interesses e aquele dos arranjos e estratégias espaciais do fato político subjacentes à noção de espaço político. Nesta perspectiva, o texto é significativo das possibilidades do olhar geográfico para a espacialidade da política, quase sempre ignorada pelos politólogos. Há ainda neste trabalho um diálogo implícito com a noção de espaço público e a tentativa de distinguir os espaços políticos pela tensão fundadora entre força e poder, característica do instituído, que se expressa em diferentes escalas e que estabelece a métrica e a substância desses espaços.
“O mito da necessidade...” já foi abordado antes, mas o recupero aqui apenas como referência das etapas do percurso. Seu tema continua atual e objeto de debate entre aqueles que se debruçam sobre o papel nada inocente de uma elite política regional. O outro livro individual, “Geografia e Política...” também abordado antes, encontra-se em segunda edição e tem cumprido seu papel como suporte para a disciplina geografia política, mas tem ido além e tem servido de consulta para pesquisas e para pós-graduação. Ambos os resultados indicam as lacunas e demandas para uma geografia política brasileira que deve, cada vez mais, demonstrar a inescapável espacialidade da política.
Retomando o percurso temporal, volto ao universo acadêmico geográfico da dissertação de mestrado que definiu uma tendência de olhar o território e suas diferenças a partir de suas unidades políticas menores que são os municípios, porém muito mais como unidades estatísticas do que como espaços significativos politicamente. Eram tempos de gestão centralizada e o município um espaço para a aplicação de políticas, como aqueles que foram identificados no âmbito da minha experiência no Ministério da Previdência e Assistência Social.
Mas os artigos: “Classificação dos municípios das Regiões Metropolitanas segundo níveis de urbanização”, publicado na Revista Brasileira de Geografia em 1978, assim como o “Conjunto habitacional: ampliando a controvérsia sobre a remoção de favelas”, publicado na Revista Dados em 1983 e no mesmo ano em inglês na Revista Geográfica do IPGH marcam uma transição para as questões muito fortes na agenda da geografia urbana brasileira da época, da qual muitos de nós fomos de certo modo signatários.
O curso de doutorado me fez abandonar esta última e abriu novas vertentes e novos horizontes com a incorporação de temas da ciência política, de vieses mais teóricos como: “A dinâmica social e os partidos políticos” e "Conflitos coletivos e acomodação democrática” publicado em Debates Sociais em 1984 e 1986 respectivamente, assim como o artigo “O Estado no pensamento liberal clássico. Uma contribuição ao debate político na Geografia” publicado no Anuário do Instituto de Geociências/UFRJ em 1983. Estes eram produtos fortemente influenciados pelas leituras teóricas do doutorado e significativos do esforço de aplicá-las à geografia.
Mas como esta nunca deixou de ser o meu ofício, novas leituras tanto teóricas como aplicadas eram imediatamente remetidas às questões espaciais. A escolha do projeto de tese e seu encaminhamento abriu o campo de discussões sobre o regionalismo, que permitiu resgatar o problema da região, o imaginário político e o problema da escala como a medida adequada do fenômeno que se quer analisar. A tese gerou subprodutos que destaco aqui: “Política e território. Evidências da prática regionalista no Brasil” publicada em Dados em 1989 e também “Imaginário político e realidade econômica. O marketing da seca nordestina” publicado em Nova Economia (UFMG) em 1991.
Porém, a questão do imaginário regional despertou novas indagações e novas pesquisas, especialmente sobre os novos atores políticos na região que disputam espaços de poder com os atores tradicionais. O campo da irrigação mostrou-se fértil para a construção outro discurso no qual as potencialidades da Região são centrais. Esta nova pesquisa resultou novos escritos: “Escalas e redes de interesses no semi-árido nordestino: velhos e novos discursos, velhos e novos territórios” publicado no Anuário do Instituto de Geociências/UFRJ em 1994.
A relação entre o território brasileiro e as representações sobre ele constituem fonte inesgotável de estudos e debates. Neste sentido fui convidada a expandir a discussão do imaginário regional para o problema mais amplo de construção da nacionalidade e o substrato da natureza implicado neste processo. Esta solicitação resultou no artigo “Resposta à maldição. Brasil tropical e viável”, que compõe a Enciclopédia da brasilidade, de 2005. Esta perspectiva permitiu ainda resgatar a riqueza da obra de Jean Gottmann no texto “Identidade versus globalização: a dialética dos conceitos de iconografia e circulação de Jean Gottmann”, Fortaleza, 2005.
Nestes debates, o problema da região e do federalismo foram incorporados à agenda com: “Região - lugar político e da política. Representação e território no Brasil”, Cadernos Laget, 1995 e “Solidariedade territorial e representação. Novas questões para o pacto federativo nacional”, Território, 1996. E continuaram nela por mais algum tempo com “A região como problema para Milton Santos”, Barcelona, 2002 e “Regionalismo hoje. Do que se trata no Nordeste” em 2006
Mas percebo também que o problema político e de suas instituições já se insinuava fortemente como eixo importante de investigação, na linha dos institucionalistas e na vertente das densidades institucionais de Ash Amin e Nigel Thrift. Nesta perspectiva foram publicados “Territorialidade das instituições participativas no Brasil. A localização como razão da diferença”, em 2004 e “Territorialidade e institucionalidade das desigualdades sociais no Brasil. Potenciais de ruptura e de conservação da escala local” em 2005.
O problema das instituições e sua distribuição no território apontou para a questão da cidadania, que mais que conceito abstrato é uma prática cotidiana que se dá nos espaços de circulação e de convivência. Este eixo conduziu às pesquisas e aos trabalhos: “Instituições e cidadania no território nordestino”, MERCATOR, 2003; “Instituições e territórios. Possibilidades e limites ao exercício da cidadania”, 1999; “Desigualdades regionais, cidadania e representação proporcional no Brasil”, 1997. Também “Instituições e território no Brasil. Algumas possíveis razões das diferenças”, Rio Claro, SP, 2004.
Esta vertente foi publicada também na França: “Territorialité des ressources
instituionnelles au Brésil. Communes, mobilization et participation“, Paris, 2003 ; “Des dimensions teritoriales et institutionnelles des inegalités sociales au Brésil. Potenciels de rupture et de conservation de l'échelle politique locale“ publicado na coletânea : Territoires en action et dans l'action, Rennes, 2007 e “Resources institutionnelles, territoire et gestion municipale au Brésil“, 2003, Paris.
A questão das instituições e da cidadania, longe de se esgotar em sua vertente geográfica, aponta para o problema da democracia que representa o que poderíamos chamar de “l’air du temps” atual. Esta é uma perspectiva que tem se incorporado à agenda geográfica e tem estimulado pesquisadores franceses, bem como anglo-saxões já referenciados em outra parte destas memórias. A geografia política se enriquece, suas múltiplas escalas e o recurso necessário ao método comparativo encontram terreno fértil na temática. Algumas reflexões já foram publicadas: “Morar e votar. A razão da moradia e a produção do espaço político na cidade”, 2005, Fortaleza; “Isonomie et diversité. Le dileme des législatives municipales au Brésil“, 2008, Reims, também “Décentralisation, démocratie et répresentation législative locale au Brésil ", 2007, Rouen. Ainda, "O problema da sobre-representação no legislativo municipal brasileiro", 2007, Bogotá; “O espaço político local como condição de construção (mas também de negação) da democracia”, 2006 e “Do espaço político ao capital social. O problema da sobre-representação legislativa nos municípios pequenos”, 2008.
Mas o problema do regionalismo, que aparentemente havia ficado para trás, foi resgatado no I Simpósio Nacional de Geografia Regional, promovido por jovens colegas da UNIFESSPA em 2019, ocorrido em Xinguara no Pará. Foi uma grata surpresa ver o interesse pelo tema e, mesmo tendo resistido no início, retomei e atualizei minhas discussões. Confesso que acabei gostando da tarefa e me dei conta do quanto a realidade é mais resiliente do que nossa interesse em compreendê-la. No segundo SINGER em 2020, virtual, apresentei a versão aprofundada e ampliada das questões contemporâneas do regionalismo. Fiquei orgulhosa, feliz e muito agradecida por ter sido a geógrafa homenageada do evento. Pena que com as restrições da implacável pandemia do COVID 19 não pude estar novamente com meus jovens colegas na icônica região amazônica e poder abraçá-los pessoalmente.
As reflexões sobre a democracia como questão para a geografia têm possibilitado também a aproximação com as questões em torno do espaço público, objeto de atenção de outros colegas, Paulo Cesar da Costa Gomes e Vincent Berdoulay, com quem tenho tido oportunidade de debates sempre enriquecedores. Tenho considerado que o aprofundamento teórico se impõe e o problema da passagem do espaço público para o espaço político emerge como fundamento da realidade e da visibilidade da democracia, que por sua vez demarca a dimensão política da ação no espaço, que tende a ser minimizada na geografia cultural. No trabalho “Espaces publics: entre publicité et politique”, 2004, este ponto de vista começou a ser intuído. Também o texto “Imagens públicas da desordem no Rio de Janeiro: uma nova ordem ou o "ridículo de Pascal"?”, de 2008 o problema do político no espaço urbano é argumentado.
Questões de ordem teórica e empírica se entrelaçam nesta jornada. O problema do Estado, negado pela prisão conceitual adotada na disciplina, tem sido objeto de teorização e reflexão útil para a geografia e foi esboçado no texto publicado por ocasião do Encontro da ANPEGE de 2009: “O território e o poder autônomo do Estado. Uma discussão a partir da teoria de Michael Mann”. Este é um debate aberto com outras vertentes da geografia política que consideram esta escala sem significado para o mundo atual e privilegiam as escalas locais e globais.
Outros trabalhos foram publicados em temáticas que tangenciam meu centro de preocupação como o artigo “Turismo e ética” que me foi solicitado para o Segundo Encontro sobre o turismo na Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. Tentei recusar argumentando que o turismo não era o meu tema de eleição e havia o risco de cair em banalidades. Mas a professora Luzia Neide foi enfática sobre a necessidade de discutir a ética no turismo, pois esta era uma linha em construção e a minha contribuição seria importante. Mergulhei na filosofia e, afinal, gostei de escrever o artigo. Tenho tido informações de que ele tem sido leitura frequente entre os estudantes do turismo na geografia. Também a relação da paisagem com o turismo que faz parte da coletânea organizada pelo professor Eduardo Yázigi da USP teve estória semelhante. Tendo lido meu artigo no Jornal do Brasil sobre a deterioração dos conjuntos habitacionais no Rio de Janeiro foi sugerido que eu o ampliasse para compor a coletânea que ele estava organizando sobre “Turismo e paisagem”. Aqui o mergulho no tema da paisagem foi mais fácil e me deparei com o paradoxo brasileiro: um imaginário que valoriza a natureza como paisagem, importante para o marketing turístico, e ao mesmo tempo permite a deterioração da paisagem urbana. Para não ser completamente injusta admito que haja exceções, mas nossas cidades ganhariam facilmente concursos de feiura. Recentemente, em projeto conjunto com meu ex-aluno e hoje parceiro na coordenação do GEOPPOL Rafael Winter, o tema da dimensão política da paisagem vem sendo trabalhado. Nesta vertente, pesquisamos como as políticas públicas são capazes de produzir paisagens políticas características e o que estas nos dizem. Ou seja, como a geografia pode “ler” estas paisagens.
O entrelaçamento da mobilização nos espaços públicos transformando-os em espaços políticos abertos, efêmeros, mas de claras consequências sobre decisões tomadas por gestores ou legisladores tem sido objeto de pesquisas em teses do GEOPPOL. Há enormes possibilidades para a geografia de analisar as grandes mobilizações que têm ocorrido no país e no mundo, interrompidas momentaneamente nesses tempos de pandemia, mas certamente serão retomadas. O modo como os espaços públicos são mobilizados para a política, a paisagem política que emerge destes movimentos e as consequências concretas para o espaço e para a sociedade traz um caudal de indagações que não devem ser ignorados pela geografia política. Teses já foram defendidas, artigos e coletâneas publicadas. Deixo de nomeá-los para não alongar ainda mais este relato, que já está além do razoável.
Todo este caudal da minha “bacia temática” tem sido fortemente influenciado pelos debates e polêmicas na geografia e fora dela. Percebo o quanto me coloquei à margem dos paradigmas unívocos dominantes na disciplina, nas últimas décadas, o que me permitiu liberdade para maiores voos teóricos, conceituais e metodológicos para a compreensão da realidade, que afinal é o que interessa. Este percurso vem me conduzindo para o desafio de pensar conceitualmente os espaços da democracia e uma geografia da democracia capaz de recuperar a tradição tanto de filósofos como de historiadores e de geógrafos. Textos, teses e coletâneas já foram publicados sobre as possibilidades de a geografia abordar a democracia numa perspectiva do espaço geográfico.
Desde 2016, após minha aposentadoria e minhas atividades no quadro de Professor Voluntário do Departamento de Geografia e do Programa de Pós Graduação tenho continuado a exercer minha liberdade de pensar, um privilégio que a vida acadêmica nos concede num ambiente democrático. Que fique bem claro, uma vez que há entre alunos e até mesmo colegas, pretensamente progressistas que negam que tenhamos uma. Democracias pode ser imperfeitas e é preciso estar sempre atento para melhorá-las, mas é preciso estar atento também para os arautos de uma democracia perfeita, popular, direta nos termos rousseaunianos, ou daqueles mais modernos que propõe democratizar a democracia como ideia da única possibilidade de justiça social e espacial. A essência filosófica dessas vertentes, quando teve possibilidade de ser aplicada conduziu as sociedades à trágicos autoritarismos. Aqui fica lição de Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância e manter-se livre é uma tarefa permanente.
Ainda nesse período, criamos no GEOPPOL o blog Observatório de Geografia Política (www.observatoriodegeografiapolitica.com), um espaço na web onde os membros do grupo são instados a escrever textos curtos, em linguagem acessível a um público maior do que aqueles que temos na academia. A ideia é analisar e debater temas contemporâneos a partir do olhar de cada um e dos recursos analíticos que suas pesquisas ajudam a produzir. É um espaço aberto à criatividade dos pesquisadores e estudantes, que já publicaram ótimos textos sobre os temas mais variados. E como a realidade é inesgotável na criação de fatos e eventos a única limitação tem sido ainda a falta de hábito dos nossos estudantes e colegas de se deixarem levar.
Finalizando estas anotações, da mesma forma que na minha temática de doutorado exorcizei o fantasma da região que rondava a geografia, com a democracia como questão geográfica espero poder exorcizar o fantasma dos autoritarismos que rondaram minha trajetória, desde aquele que caçou bons anos da minha cidadania na juventude, intimidando e limitando minhas opções de leituras e escolhas de debates, até aquele da imposição na geografia de uma vertente conceitual unívoca que rondou minha trajetória profissional. Da mesma forma que a região continua um objeto de investigação interessante, também a democracia e a ordem institucional que ela instaura e os espaços que ela mobiliza na sociedade brasileira, que por tantos anos foi capaz de viver sem ela é uma dívida para com as novas gerações.
Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2021