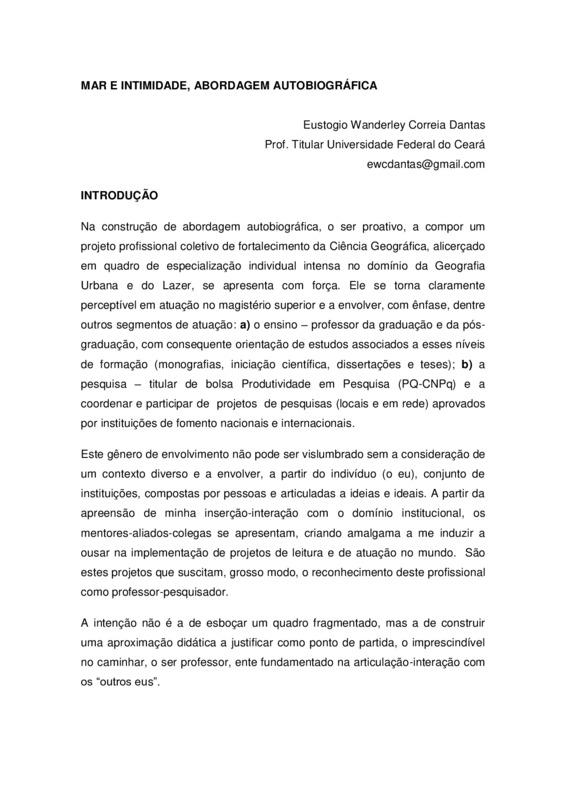-
Título
-
EUSTÓGIO WANDERLEY CORREIA DANTAS
-
Nome Completo
-
EUSTÓGIO WANDERLEY CORREIA DANTAS
-
História de Vida
-
MAR E INTIMIDADE, ABORDAGEM AUTOBIOGRÁFICA
INTRODUÇÃO
Na construção de abordagem autobiográfica, o ser proativo, a compor um projeto profissional coletivo de fortalecimento da Ciência Geográfica, alicerçado em quadro de especialização individual intensa no domínio da Geografia Urbana e do Lazer, se apresenta com força. Ele se torna claramente perceptível em atuação no magistério superior e a envolver, com ênfase, dentre outros segmentos de atuação: a) o ensino – professor da graduação e da pós-graduação, com consequente orientação de estudos associados a esses níveis de formação (monografias, iniciação científica, dissertações e teses); b) a pesquisa – titular de bolsa Produtividade em Pesquisa (PQ-CNPq) e a coordenar e participar de projetos de pesquisas (locais e em rede) aprovados por instituições de fomento nacionais e internacionais.
Este gênero de envolvimento não pode ser vislumbrado sem a consideração de um contexto diverso e a envolver, a partir do indivíduo (o eu), conjunto de instituições, compostas por pessoas e articuladas a ideias e ideais. A partir da apreensão de minha inserção-interação com o domínio institucional, os mentores-aliados-colegas se apresentam, criando amalgama a me induzir a ousar na implementação de projetos de leitura e de atuação no mundo. São estes projetos que suscitam, grosso modo, o reconhecimento deste profissional como professor-pesquisador.
A intenção não é a de esboçar um quadro fragmentado, mas a de construir uma aproximação didática a justificar como ponto de partida, o imprescindível no caminhar, o ser professor, ente fundamentado na articulação-interação com os “outros eus”.
DO FATO, PASSANDO PELAS TRAJETÓRIAS
O exercício do magistério superior se efetivou graças a meu envolvimento direto em política de especialização profissional animada na e pela Universidade Federal do Ceará, da qual fui beneficiado e, na sequência, contribui vivamente, especificamente no domínio da criação de uma pós-graduação stricto sensu.
ESPECIALIZAÇÃO ANIMADA NA UFC: REFINAMENTO DE BASE TEÓRICO CONCEITUAL
Sou diretamente beneficiado pela política de qualificação dos quadros profissionais no Departamento de Geografia, um dado facilitado por sermos titulares, à época, de um acordo CAPES-COFECUB, cujo coordenador, o Prof. José Borzacchiello da Silva, lembrava veementemente da importância em realizar estudos no estrangeiro, especificamente na França.
Para garantir implementação do citado intento, necessário se tornou construção de um projeto de pesquisa a submeter. A tarefa foi facilitada haja vista trazer comigo questionamentos resultantes do mestrado, finalizado em 1995 na USP, sob orientação brilhante da Profa. Ana Fani Alessandri Carlos.
Na leitura da cidade, uma questão atiçava minha curiosidade, no concernente ao delineamento de novas práticas de sociabilidade na cidade e a substituir as preexistentes. Dois caminhos se apresentavam, um apontando para o estudo dos Shoppings e outro das Zonas de Praia da Cidade. A primeira possibilidade de estudo, pautada na mesma matriz da dissertação, de uma Geografia Urbana do Comércio e dos Serviços, e a adentrar nos meandros do circuito superior da economia, especificamente no tratamento de concorrência aberta estabelecida entre o Centro e os Shoppings, e pautado na capacidade deste último em inovar na reprodução, em seu interior, de espaços de sociabilidade a concorrerem com nossas antigas praças. Espaços “semi-públicos” (CARLOS, 2001) a se instituírem como lócus de encontro da sociedade hodierna. A segunda possibilidade, ao adentrar em outro domínio da geografia urbana, se aproxima de uma geografia dos lazeres, com o apontamento de lógica crescente e gradual de valorização das zonas de praia como espaços de sociabilidade. Tal dado justificou um redirecionamento das cidades litorâneas para o mar, com densificação de ocupação desta parcela da cidade no tempo e em atendimento aos novos anseios da elite em reproduzir-reformatar práticas advindas do ocidente: os banhos de mar, os atuais banhos de sol, a vilegiatura marítima e o turismo litorâneo, não esquecendo das práticas esportivas náuticas e aquáticas. A concorrência viva destas áreas com o centro, suscitou processo de urbanização intenso e a se fortalecer com o advento das políticas públicas de desenvolvimento da atividade turística no estado.
Embarquei nesta possibilidade e haja vista, na segunda metade dos anos 1990, ainda existir uma lacuna na Geografia Urbana Cearense no tratamento do fenômeno de urbanização litorâneo, cujas dimensões suplantavam o limite da cidade, evidência clara do urbano a extrapolar sua matriz.
As únicas menções em relação à aproximação da sociedade ao mar se apresentavam perifericamente na literatura e na ciência. No primeiro caso, em apenas duas obras, uma escrita no século XIX, “A Afilhada” de Paiva (1971), e outra na primeira metade do século XX, “Praias e Várzeas” de Barroso (1915). Paiva foi o pioneiro na indicação da relação da cidade com o mar, evidenciando uma aproximação tímida da elite em relação às zonas de praia e marcada pela dinâmica dos tratamentos terapêuticos associados à ideia do bem respirar. Barroso, conhecido nacionalmente por obra associada ao Sertão, “Terra de Sol” nos oferece trabalho direcionado à apreensão da dinâmica característica das zonas de praia da cidade no início do século XX, com apresentação de uma ambiência cultural fortemente marcada pela pesca artesanal. Para o citado, tratar-se-ia de obra a devolver à sociedade cearense parte de sua geografia esquecida, aquela associada às Praias e que se apresenta como complementar ao Sertão. No segundo caso, restrito a trabalhos na área da Arquitetura e da Sociologia, respectivamente, “Fatores de localização e de expansão da Fortaleza”, de Castro (1977) e “Cidade de água e sal”, de Linhares (1992). Castro é um dos primeiros a evidenciar, na lógica de expansão da cidade, fluxo direcionado às zonas de praia. Linhares foi o primeiro a remeter vivamente ao processo de aproximação do mar pela sociedade local, produzido, segundo ele, a partir dos anos 1970, transformação das zonas de praia em equipamentos públicos de lazer, especificamente com a construção dos calçadões a acompanharem a faixa de praia.
Na inscrição no Doutorado em Geografia da Université de Paris IV - Sorbonne, sob orientação do Prof. Paul Claval. Da possibilidade de trabalhar com profissional e, principalmente, pessoa de seu quilate, me nutro de ambiência fértil da Geografia Francesa. Já no primeiro ano tomei conhecimento da realização de evento realizado no Institut de Géographie em 1992, intitulado La Maritimité Aujourd’hui. Reuniu conjunto de pesquisadores de renome, de diversas áreas e países, cujos resultados foram publicados, em obra a guardar o mesmo título, por Peron e Rieucau (1996). A citada obra alargou meus horizontes com evidenciação de: 1. Arcabouço teórico e conceitual envolvido no delineamento do conceito de maritimidade. Imbuído da tradição existente na França, seu ponto de partida foi o das representações coletivas, retomando, assim, o conceito clássico de maritimidade da Geografia Física e lhe dando nova abrangência: “trata-se de uma maneira cômoda de designar conjunto de relações estabelecidas por uma população com o mar, especificamente aquelas que se inscrevem em um quadro de preferências, de imagens e, principalmente, de representações coletivas” (CLAVAL, 1996); 2. Ponto de intersecção com outras ciências. Aqui destacaria a história, com reflexão pautada na História das mentalidades, e a contribuir no entendimento do fenômeno de “invenção da praia no Ocidente”, (URBAIN, 1996) e na Antropologia a oferecer matriz metodológica possibilitadora da apreensão da constituição das práticas marítimas tanto tradicionais como modernas, bem como seu redimensionamento no tempo (URBAIN, 1996); 3. Amplitude espacial adquirida pelo fenômeno, ao suplantar os limites do continente que o gestou, englobando novos espaços. Minha particular atenção se voltou ao fenômeno notado em ex-colônias francesas e a externalizarem implicações da maritimidade em países não ocidentais. Estas abordagens conceituam quadro no qual se percebe um gênero de maritimidade característica dos trópicos e a constituir quadro de embates entre duas dimensões: a de uma maritimidade externa (moderna e alóctone) vis-à-vis uma maritimidade interna (tradicional e autóctone). Neste sentido, os autores em foco, especificamente Michel Desse (1996) e Marie-Christine Cormier-Salem (1996), lidam com a ideia do conflitual, resultante da vontade dos governos em criarem nos trópicos espaços destinados aos ocidentais.
O trabalho de doutorado, finalizado em 2000, consistiu em leitura singular sobre o processo de aproximação da sociedade brasileira, ênfase fortalezense, em relação ao mar. Foi empreendido por uma elite local ansiosa em reproduzir espaços de sociabilidade vizinhos daqueles encontrados no ocidente e que implicaram na transformação de uma cidade com alma de sertão (voltada ao continente e, consequentemente dando as costas para o mar) em uma cidade marítima, vis-à-vis a incorporação de suas zonas de praia pelos banhistas (tratamento terapêutico e lazer), a vilegiatura e, mais recentemente, o turismo litorâneo. Tal movimento enseja conflitos pela terra, inicialmente na capital e no pós anos 1960-1970 nas zonas de praia de seus municípios litorâneos vizinhos. Os espaços de lazer e recreação, resultantes do exercício das práticas marítimas modernas, provocam expulsão das sociedades tradicionais a habitarem estas paragens. Um modelo inicializado na capital e a se fazer presente na totalidade da zona costeira. A cidade moderna, a atender demanda por espaços de lazer, e mais recentemente turísticos, se volta completamente à zona costeira. Nasce a Cidade do Sol, propalada e difundida pelos governantes em escala nacional e internacional. A cidade turística, litorânea, a se contrapor às imagens de seu passado, de capital do sertão.
Para alguém influenciado por Henri Lefebvre e Milton Santos, se deu impunha-se adoção de estratégia a possibilitar diálogo com uma nova bibliografia. O caminho trilhado foi o de me colocar aberto às novas possibilidades apresentadas pela Geografia Francesa. Nesta perspectiva, adentro, sem preceitos e preconceitos, no espectro da Abordagem Cultural na Geografia, dado a permitir, também, diálogo com bibliografia proveniente de ciências afins.
Toca minha memória discussão realizada por Serres (1990) ao tratar a história das ciências não como uma lógica contínua, mas a representar uma trama cortada, descontínua. Na consideração desta descontinuidade, com o emprego da metáfora de tempo espiralado, encontrei balizamento para livremente me voltar ao passado e a capturar fragmentos com o intento de reativá-los e, consequentemente, possibilitar comunicação com um mundo esquecido.
Nos termos supramencionados, consigo perceber como a reflexão em torno da aproximação da sociedade em relação ao mar encontra no ocidente um ambiente fértil. Desta assertiva me nutro para dar uma nova corporeidade à minha pesquisa. A intenção de trabalhar com a urbanização litorânea de Fortaleza é redimensionada face à dimensão tomada pelo fenômeno de valorização dos espaços litorâneos em escala internacional, delineando domínio de estudo amplamente valorado nos últimos decênios do século XX.
O redimensionamento do trabalho se apresentou neste contexto, com adoção de outras escalas, tanto temporal como espacial.
A adoção de escala temporal mais ampla se dá devido assimilação do diacrônico (da historia do espaço) como complementar à análise sincrônica (morfologia urbana) (LEFEBVRE, 1978). A preocupação em apreender a história do espaço me aproximou da Geografia Histórica Francesa, cujo desdobramento implicou, também, na “descoberta” de bibliografia de colegas da área no Brasil. No primeiro caso destacaria Jean-René Troche (1998) e, no caso dos brasileiros, Maurício de Abreu (1997) e Pedro Vasconcelos (1997,2002). A partir do momento que fornece um método para estudar o espaço no long terme, a Geografia Histórica contribui, sobremaneira, na explicação e entendimento dos eventos contemporâneos. A adoção de um approche metodológico a tomar como ponto de partida a identificação das comunidades, dos grupos e das organizações para apreender as transformações notadas no espaço e a influência deste sobre eles. Neste domínio posso destacar duas obras fundantes, uma relacionada aos tempos pretéritos e outra aos atuais.
Em tempos pretéritos, a obra de Alain Corbin (1978) possibilitou o entendimento de como o desejo em relação às praias se materializou no Ocidente, entre 1750 e 1840. Anteriormente se constituíam em ambientes portadores de imagens repulsivas, um “território do vazio”, cuja imagem somente foi modificada a partir de refinamento do olhar da sociedade interposto por atores estratégicos: os românticos, responsáveis pela elaboração de discurso coerente sobre o mar; os médicos/higienistas, a elaborarem discurso médico a provocar corrida de acometidos de males como o stress e a tuberculose às praias e; a nobreza, como geradora de um efeito de moda na sociedade. Tratar-se-ia da instituição do mito fundador de movimento a gerar fluxos cada vez maiores de usuários às paragens litorâneas, com a consequente instituição das práticas marítimas modernas: os banhos de mar, associados aos tratamentos terapêuticos e às atividades de lazer, acompanhados da vilegiatura marítima, sem se esquecer da invenção, dos esportes náuticos, especificamente da natação. Práticas a gerarem um ambiente de sociabilidade intenso e de caráter elitista, cuja implementação suscita fenômeno de urbanização caraterístico do mediterrâneo, com construção dos balneários e das residências secundárias da elite.
Relacionados aos tempos atuais, a obra de Jean-Didier Urbain (1996) consistiu em recurso de peso. Ela possibilita compreensão das transformações ocorridas no Ocidente, bem como suas implicações no redimensionamento das práticas marítimas modernas. Práticas a perderem caráter elitista, com consequente implementação de lógica característica de uma cultura de massa e devida a avanços no domínio socioeconômico (leis trabalhistas, ganhos salariais, etc.) e tecnológico (principalmente com importância que a ferrovia adquire). Para ele, os banhos de mar dão lugar aos banhos de sol e surgem novos agentes responsáveis pela propagação da praia como lócus principal de sociabilidade, os atores e atrizes.
Restou-nos a missão de apreender estes desdobramentos no Brasil. Em suma, compreender como se deu, no tempo, a aproximação da sociedade local em relação ao mar, com consequente valorização das praias. A missão não foi fácil, posto a obra de Alain Corbin (1978) ter virado modelo, padrão de análise, e não ponto de partida. É neste sentido que, em escala mundial, são produzidos trabalhos a evidenciar comportamento similar ao empreendido no Ocidente. As poucas exceções apresentavam quadro diferenciado do ocorrido no Brasil. Remetiam a ideia de conflito entre os de fora e os de dentro, sendo os primeiros os ocidentais e os segundos as populações autóctones das antigas colônias europeias. Dois mundos, porque não dois universos, que necessitaria apreender plenamente para avançar na leitura da lógica de constituição dos espaços de sociabilidade nas zonas de praia brasileiras.
Neste sentido se impõe, também, o redimensionamento da escala espacial, associando o trabalho à escala mundo. Em suma, a indicar como as práticas marítimas modernas extrapolam os limites da Europa e adentram nas Américas, reflexo direto das transformações socioeconômicas, tecnológicas e simbólicas gestadas no primeiro continente, assim como da filtragem realizada pelos lugares (1985).
O recurso a meu orientador me auxiliou nesta empreitada. Paul Claval (1995) trabalha com a ideia da fascinação exercida pela civilização europeia no mundo, dado a suscitar forte esforço de ocidentalização empreendido pelas elites e outras camadas da população. Consiste em tradição assimilada, também, na América Latina e a se fundar em forte processo de miscigenação, um quadro bem diverso do notado na América do Norte (países ocidentais como Canadá e Estados Unidos da América).
No Brasil não se trata unicamente do atendimento de demanda externa (Ocidental) por espaços de sociabilidade nas praias. Internamente dispõe de uma elite local a empreender esforço de ocidentalização centrado na ideia da virtude da civilização europeia. Civilização cantada e propalada pela elite local (na qual a intelectualidade dispôs de papel estratégico), a acreditar ser ela a responsável por sua difusão aos outros. Por se tratar de sociedade em via de constituição, a noção de processo é retomada para exprimir sentimento de superioridade da elite local (composta por europeus e com forte participação de mestiços) e de outras camadas da população em relação a outros grupos autóctones (Índios, Negros e, também, Mestiços pobres). Em suma, um esforço motivado tanto pela fascinação exercida pela sociedade europeia como por uma tentativa de diferenciação social. Os membros desta elite se apresentavam como os Porta-Vozes do Ocidente, representando, na essência, o que caracterizo como emergência de grupos locais a produzirem os mesmos territórios e entreterem os mesmos desejos reinantes no Ocidente. São traços do processo de ocidentalização marcantes em países pouco afetados pelo turismo internacional e nos quais suas elites podem reproduzir livremente o modelo de maritimidade ocidental. Assiste-se, assim, a uma modificação de mentalidade dos grupos locais em relação ao mar, dado a inviabilizar noção de oposição entre maritimidade externa (alóctone e moderna) e maritimidade interna (autóctone e tradicional). Do posto concluo ser, a partir deste amalgama, possível vislumbrar os meandros da construção do desejo pelo mar no Brasil, movimento considerado vizinho do notado no Ocidente. Empreguei vizinho para não incorrer em erro cometido por colegas brasileiros, a empreenderem uma simples transposição das categorias e sem refletir sobre a filtragem realizada in lócus.
ESPECIALIZAÇÃO ANIMADA PELA UFC: DOMÍNIO DA CRIAÇÃO DE CURSOS NOVOS
Aqui se apresenta a especificidade característica, até início dos anos 2000, do Departamento de Geografia da UFC, cujo reconhecimento em escala nacional se dava no domínio da graduação. A exemplo da maioria dos Cursos de Geografia no Nordeste do Brasil, nós não dispúnhamos de quadro propício à inserção em outros domínios, sendo necessário envolvimento direto da instituição e nosso na criação de cursos de pós-graduação na área de geografia.
No domínio da criação de cursos novos, stricto sensu, contei com ambiência relativamente favorável, o eu encontra os outros, principalmente colegas imbuídos dos mesmos anseios e desejosos em inovar.
Como professor do Departamento de Geografia, inserido no Centro de Ciências, cuja composição reunia profissionais de áreas tradicionais (Física, Matemática e Química), nos impulsionou a buscar novas possibilidades, seguindo, assim, o exemplo do efetivado na Universidade Estadual do Ceará, primeira instituição do estado a investir na criação de pós-graduação em nossa área. Tomávamos ciência, nestes termos, de processo de crescimento da Pós-Graduação em Geografia no Brasil, o que nos animou a envidar esforços na construção de projeto próprio.
Não se esquecendo da colaboração e assessoria de professores mais experientes, dentre os quais destacaria o Professor José Borzacchiello da Silva e a Profª Maria Clelia Lustosa, o primeiro com larga vivência em cursos de pós-graduação (Sociologia UFC, bem como de Geografia da UFPE e UFSE) e a segunda, uma das decanas da Geografia da UFC a oferecer contribuição impar, coube aos “recém-doutores” do Departamento de Geografia a incumbência de investir neste novo domínio (destaque a Vanda Claudino Sales e Antônio Jeovah de Andrade Meireles). Tal construção se deu de 2000 a 2004. Quatro anos de refinamento de nossa arte como profissionais, tudo direcionado ao objetivo de consolidar o Departamento de Geografia em escala nacional e internacional, bem como de seu reconhecimento na própria instituição.
Dos projetos implementados neste sentido merecem especial atenção o de envolvimento dos “recém-doutores” no PRODEMA/UFC e o de criação de periódico da Universidade Federal do Ceará na Área de Geografia. Sabíamos da importância destas duas variáveis em processo de avaliação de propostas de criação de cursos novos e contamos, para tanto, com a sensibilidade dos colegas à frente da administração universitária. No primeiro domínio, se deu envolvimento imediato de todos os colegas em orientação no PRODEMA. No segundo domínio, foi retomada a discussão quanto à criação de uma revista, com efetivação do projeto em 2002, ano no qual foi aprovada como periódico da UFC, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).
Meu envolvimento no citado constructo se deu no front, como primeiro Coordenador da Pós-Graduação em Geografia (Mestrado-Doutorado) e Criador da Revista MERCATOR.
O nível de refinamento apresentado acima indica novas escalas a abordar, resultantes da indicação de condições materiais propícios ao desenvolvimento da pesquisa. Indica-se, a partir de então, inserção em redes de pesquisa a propiciarem construção de uma proposta de análise em escala regional e a lidar com abordagem comparativa, do desdobramento das práticas marítimas no mundo.
As parcerias estabelecidas no Observatório das Metrópoles (no Brasil) e com colegas de instituições espanholas e francesas constituem o citado substrato sobre o qual a pesquisa se assenta.
No Brasil, o envolvimento no Observatório das Metrópoles-INCT permite atingimento da escala nacional e, no caso específico, regional (das metrópoles estudadas). A citada articulação já resultou em conjunto de obras e de teses a tocar a temática da urbanização litorânea.
Na Espanha, a aproximação em relação a colega espanhol da Universidad de Alicante (Antonio Aledo) se efetivou no interesse mútuo de apreender os desdobramentos do turismo no domínio do imobiliário, impactando na materialização de empreendimentos imobiliários-turísticos no mediterrâneo e, concomitantemente, com a exportação do modelo espanhol, no Nordeste brasileiro. A articulação em foco se fortaleceu ao ponto de orientarmos trabalho em co-tutela de doutorado.
Na França, as relações estabelecidas dispõem de diâmetro mais amplo. De um lado, os com vínculos mais antigo, especificamente trabalhos desenvolvidos em parceria com o professores Jean-Pierre Peulvast e Herve Thery e a experiência como Professor Visitante da Université de Paris IV (Sorbonne) (2010), ambos imprescindíveis na configuração do tema de pesquisa abarcado atualmente em grupo de pesquisa que coordeno. De outro lado, os com vínculos mais recentes, a implicar em retomada das relações e envolvendo outras instituições francesas em: i. atuação como Professor Visitante (Université d’Angers, 2018); ii. envolvimento em Jornada Científica em Sable d’Ollone sobre a dinâmica de valorização dos espaços litorâneos na França e nos Países do Sul (ênfase dada ao Brasil e México), organizado pelo Prof. Arnaud Sebileau.
A reaproximação indicada permitiu estabelecimento de diálogo com grupo de pesquisadores vinculados a ciências afins da Geografia. Na Espanha, os estudos são direcionados, sobremaneira, à incidência de dinâmica de valorização dos espaços litorâneos espanhóis por usuários, amantes de praia, a incorporarem como meio de hospedagem as segundas residências a pulularem na costa mediterrânea e cujo delineamento suscitou processo de urbanização intensa. Concebem assim o conceito de Turismo Residencial, para evidenciar comunicação que se tornou possível entre o turismo (fluxo de usuários) e o domínio do imobiliário (construção de condomínios residenciais de segunda residência nas zonas de praia) (ANDREU, 2005; ALEDO, 2008; NIEVES, 2008; DEMAJOROVIC et. al., 2011; FERNÁNDEZ MUNOZ & TIMON, 2011; TORRES BERNIER, 2013). Na França, há enveredamento para reflexão em relação aos esportes náuticos e aquáticos, apreendendo diversificação das práticas de lazer nas zonas de praia a partir do deslanche do surf (GUIBERT, 2006 e 2011), do winsurf e do kitesurf, ambos a animar as zonas de praia com a chegada de esportistas amadores (AUDINET; GUIBERT; SEBILEAU, 2017; SEBILEAU, 2017) a complementar fluxo de turistas e vilegiaturistas no mediterrâneo francês.
No lido específico da temática na qual me especializei no tempo, convém ainda destacar papel assumido por conjunto de alunos formados no tempo, mestres e doutores, a contribuírem no refinamento do conhecimento geográfico juntamente comigo. A lista de nomes é razoável e, dentre eles, destaco a parceria rica e viva estabelecida com o Professor Alexandre Queiroz Pereira, atualmente colega dileto do Departamento de Geografia da UFC.
OS SONHOS A JUSTIFICAREM O PRESENTE
Não resta dúvida que o profissional que sou é reflexo direto do tempo no qual vivi e com o qual interagi. Tal dado foi evidenciado em minha articulação com várias instituições, a possibilitarem descoberta de mentores, colegas e aliados na implementação de conjunto substancial de projetos.
No entanto, nada teria acontecido se não houvesse, no princípio, um elemento motivador. O começar pelo professor não foi à toa. A busca de implementação do projeto de ser professor me transformou no que sou, um profissional a investir e se articular com outros domínios: pesquisa e editoria.
A colocação face ao apresentado reside em minha memória, especificamente no contexto a envolver um jovem pleno de sonhos e projetos almejados, especificamente o relacionado à primeira metade dos anos 1980. Refiro-me ao momento anterior a meu ingresso na universidade e cujas características fundantes são apresentadas na instituição basilar da família, com a qual os indivíduos têm o primeiro contato e balizam tanto caráter como pessoa como apontamento das possibilidades como profissional.
Notem que não falarei de geógrafo! Geografia não constava em meu vocabulário inicial. A influência recebida de meus familiares (especificamente o lado feminino: a avó, Alvina Alves Correia; a mãe e tia, respectivamente Francisca Correia Dantas e Maria José Correia de Sousa, esta última minha primeira professora e responsável por minha alfabetização) indicava como meta o ser professor.
Guardei na minha memória as histórias de minha avó ao se vangloriar de ter sido “Professora Interina” em Parnaíba/Piauí. Em suma, por saber ler e escrever medianamente havia, à sua época, a possibilidade de atuação voluntária na alfabetização de jovens e adultos, dado que ela guardou até seus últimos dias como boa recordação de sua juventude. No mais ela sempre afirmava ser a família de meu falecido avô composta de homens inteligentes, “todos doutores”. Nestes termos, apresentava naturalmente o peso do gênero no delineamento do papel dos sujeitos no tempo no qual viveu.
Minha avó conseguiu influenciar, sobremaneira, minha mãe e tia. Ambas concluíram o antigo Normal e exerceram o magistério, no ensino fundamental, até a aposentadoria. O ciclo se fechava com elas ao realizarem um projeto de vida profissional almejado e não alcançado, de fato, por minha avó.
Não fugi à regra. Com influência desta tríade, também abracei esta vocação e, no momento de pensar no ingresso na universidade somente existia uma certeza: o magistério. Minha vontade era tamanha que mesmo meus amigos mais próximos não ousavam me dissuadir. Eu não vislumbrava outras possibilidades e eles eram forçados a endossar. Toco neste ponto para denotar a já clara tendência de desvalorização deste profissional face a outras profissões.
A Geografia apresentou-se como um meio para se atingir um fim, o me tornar professor. Na escolha desta ciência minha mãe me antecedeu, ingressando, aos 42 anos de idade, no Curso de Licenciatura da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Ingresso um semestre após (1985.2), dando início a meu percurso profissional. Consiste em trecho breve de meu relato, mas que carrego até hoje em minhas andanças. Seria a bússola a me orientar literalmente em mares bravios e a suscitar descoberta da praia.
Ao entrar na universidade quis impor um ritmo diferente em minha vida, dedicando atenção especial a este momento de formação. Coloquei como meta, diferentemente do comportamento notado no ensino fundamental e médio, ser o melhor aluno. Mais uma vez acreditei nas histórias de minha avó, ousando acreditar ser, à exemplo da Família Correia, inteligente. Ingressei na licenciatura em Geografia da UECE para dar o melhor de mim. A tarefa não foi fácil, mas consegui manter o rumo.
Concomitantemente à realização das disciplinas, já no terceiro semestre do curso, experimentei o ambiente de sala de aula como professor, especificamente em um curso supletivo noturno. Nele fui recepcionado pelo Professor Almeida, geógrafo formado pela Universidade Federal do Ceará e a exercitar suas habilidades profissionais como professor e proprietário do curso. O referido resolveu arriscar ao me contratar. Do meu lado fui levado a desenvolver a habilidade do autodidatismo para “enfrentar” a sala de aula. Se, de um lado, faltava experiência e conhecimento, de outro, abundava vontade em acertar. A relação com este personagem de minha história foi profícua, tendo me indicado, anos após, para substituí-lo como professor em uma escola particular: Colégio Castelo Branco, antigo estabelecimento religioso, sito no antigo Boulevard Dom Manuel, e responsável pela formação da elite da cidade em seus tempos áureos. Embora à minha época tenha se popularizado, significou uma importante experiência e cujo desdobramento foi o de identificação plena com o magistério.
Enfoco a tônica da desvalorização do magistério não somente no sentido de criticar os governos ou a ausência de políticas de qualificação desta área e dos profissionais a ela associados. O objetivo é o de compreender como um profissional cheio de sonhos buscou maximizar suas chances de sucesso profissional. A saída foi a associação entre as variáveis magistério e especialização em dada área do conhecimento. Inicio minha descoberta da Geografia, ou melhor, de uma possibilidade não apresentada no exemplo de meus familiares, formados na lógica do antigo Normal (curso de formação de professores do ensino básico). À tônica dada ao Professor acrescento a de Professor de Geografia.
A formação como Professor de Geografia pareceu-me razoável e as possibilidades de inserção no mercado se ampliavam para além do domínio do ensino básico, com a descoberta do magistério superior. Este novo horizonte me foi apresentado na universidade por professores especiais, a se destacarem na motivação dos jovens geógrafos em formação. Dentre eles indicaria Luzianeide Coriolano. A referida professora soube apresentar uma bibliografia atualizada e nos convencer da ideia de passarmos por um processo de renovação e no qual tínhamos uma contribuição a dar, tanto na defesa de uma sociedade justa como na efetiva atuação enquanto profissional geógrafo. Mais uma vez tenho reforçado o ideal do magistério e a essa altura do ensino superior.
Nesta época percebo ser fundamental, na construção de meu perfil como professor, o investimento na dimensão da pesquisa, intento não fácil, posto dispor de fragilidades na formação como licenciado. O caminho encontrado foi o da realização de estudos de pós-graduação. A oportunidade se apresentou na Universidade Federal do Ceará (UFC), com ingresso no “Curso de Especialização Nordeste Questão Regional e Ambiental” em 1989, concebido pelo Prof. José Borzacchiello da Silva e coordenado pela Profª. Maria Geralda de Almeida. Consistiu em atividade fundamental em meu aperfeiçoamento. Pautado na temática Regional e a adentrar na compreensão da dinâmica da regionalização e do regionalismo no Nordeste, suscita a descoberta de bibliografia ampla e a impor um posicionamento científico e político face ao mundo.
De meu posicionamento científico destaco formatação de meu primeiro projeto de pesquisa, associado à temática urbana e com objeto de estudo circunscrito no Centro de Fortaleza, especificamente o Comércio Ambulante. A vivência na cidade e as inquietações nela contidas foram as determinantes desta escolha, enveredando, neste momento, em movimento exploratório a englobar tanto pesquisa de campo como bibliográfica. Neste último domínio é que travo maior conhecimento de obras de Milton Santos e a versarem sobre Dimensão Temporal e Sistemas Espaciais (1979) e o Circuito Inferior da Economia (1985). Um conhecimento ampliado ao participar como aluno ouvinte de curso de especialização que ministrou em 1989 na Universidade Estadual do Ceará. Foi a oportunidade de dialogar, pela primeira vez, com professor conhecido através de seus escritos. Neste mesmo domínio recordo do como, a partir de desafio lançado pelo Prof. José Borzacchiello da Silva, ousei produzir trabalho associado à temática da especialização e publicado na primeira revista da Associação de Geógrafos do Brasil – Seção Fortaleza (Revista Espaço Aberto), com o título “Para Além das Dicotomias no Ensino de Geografia...” (DANTAS, 1989)(1).
Do posicionamento político destaco participação nas reuniões da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Fortaleza, dado a culminar em atuação efetiva na gestão da associação como primeiro secretário (biênio 1988-1990). Nesta associação me envolvi diretamente com o estudo da problemática urbana, dado muito referendado pelas associações profissionais do gênero da AGB, no momento da reforma constitucional. Tratava-se de um movimento em escala nacional e no qual estabelecíamos contatos com colegas do Brasil inteiro e, também, de outras categorias profissionais. Localmente apresentou-se possibilidade de conhecimento e aprendizado com colegas da UFC: José Borzacchiello da Silva, Maria Clélia Lustosa Costa, Maria Geralda de Almeida e Vanda Claudino Sales.
É a partir do posicionamento científico e político face ao mundo que a administração se impôs na minha vida. Lembro-me do quão foi difícil minha primeira aproximação (1993-1996), como Coordenador da Graduação em Geografia, posto ter, à época, restrições a envolvimento em atividades administrativas. Trabalhava bem com a ideia do tripé: ensino, pesquisa e extensão, mas a administração não era uma meta. Isto se explica pela influência anarquista em minha formação, dado a me levar a acreditar que meu aprimoramento não passava pelo exercício do poder, em nenhuma instância. Os meandros do destino me conduziram à administração e significou experiência gratificante, ao possibilitar conhecimento mais amplo da UFC e da própria Geografia, bem como ter a oportunidade de, em um passado recente, ter atuado como Coordenador da Área de Geografia na CAPES.
Como a vida é sempre permeada de meandros, não segue uma linha reta, o individual (pessoal) entrou em choque com o institucional, dado a culminar em necessidade de capitulação de meus anseios face às demandas institucionais.
CONCLUSÃO
No constructo evidenciado minha alma foi forjada como a de um professor que produz conhecimento, adentrando nos meandros de uma geografia urbana a refletir sobre as transformações empreendidas nas cidades e face às demandas por espaços de lazer e recreação, fenômeno que, no concernente às cidades litorâneas, se concentram, sobremaneira, nos espaços metropolitanos. Esta mise em valeur justificaria a transferência de espaços de sociabilidade clássicos (continentais) às zonas de praia, tanto às cidades polo, como o tratado GOMES (2002) no caso do Rio de Janeiro, como aos municípios litorâneos metropolitanos, que abordo, com maior ênfase, no caso do Nordeste.
Do até então apresentado evidencio tentativa de manutenção do rumo indicado já em 2005, no Encontro Nacional da ANPEGE em Fortaleza. O da apreensão das transformações ocorridas nas cidades litorâneas tropicais na passagem do século XX ao século XXI, conforme texto apresentado naquele evento, quando afirmei:
"Com o veraneio marítimo, o efeito de moda do morar na praia e o turismo litorâneo associado aos banhos de sol, as zonas de praia das cidades litorâneas tropicais são redescobertas. Se anteriormente falávamos de eclipse relativo do mar, atualmente ele é descortinado em sua totalidade, apresentando-se como verdadeiro fenômeno social. A cidade e seus citadinos redescobrem parte esquecida em suas geografias, denotando necessidade de releitura de arcabouço teórico metodológico até então empregado na análise urbana. Resta-nos suplantar tradição nos estudos empreendidos, aquela de descartar, veementemente, o lado mar, direcionando o olhar para a parte continental e em consonância com o enfoque empreendido por aqueles que estudam as cidades continentais, matrizes do saber urbano e evidenciadas na bibliografia básica do gênero.
Se nos anos 1980 Claval (1980) evocava a contribuição dos especialistas da vida marítima na construção de uma teoria unitária, (...) atualmente esta constatação torna-se mais evidente e adquire outra dimensão, aquela relacionada a uma rede urbana paralela à zona costeira e à transformação das cidades litorâneas em marítimas. De cidade portuária, representativa da época colonial até primeira metade do século XX, as cidades litorâneas tropicais tendem a se constituir, a partir do final do século XX, em cidades turísticas, reforçando tendência de valorização dos espaços litorâneos empreendido pelas elites locais, com adoção de práticas marítimas modernas. A análise permeada por reflexão em torno da construção do conceito de maritimidade, notadamente nos trópicos, apresenta-se como uma possibilidade de apreender as transformações em voga e de compreender a essência da cidade litorânea que se torna marítima no século XXI (DANTAS, 2006)."
O texto acima significou uma tomada de postura científica face as relações entre o litoral, o mar e o marítimo, e o processo de metropolização. O Nordeste tem sido campo profícuo de análise dada a dinâmica de seu litoral, em constante transformação, com investimentos de monta (do estado e da iniciativa privada) que alteram sobremaneira sua geografia. A escolha até o presente se mostra acertada, indicando novos horizontes de pesquisa face à universalização da maritimidade como um fenômeno social.
Do apresentado e reflexo de vivências múltiplas experimentadas, interessante indicar elementos em construção, resultantes dos diálogos e trocas estabelecidos com os professores Maria Clelia Lustosa Costa, Maria Elisa Zanella e José Borzacchiello da Silva e a diversificarem minhas linhas de abordagem. No caso das duas primeiras e em função de demandas sequenciadas de gestores do município, adentro em discussão sobre a temática da vulnerabilidade (DANTAS, E. W. C.; COSTA, M. C. L.; ZANELLA, M. E., 2016). No relativo ao segundo, adentro em discussão sobre a produção científica na área da Geografia Urbana brasileira, alimentada por material ajuntado no período de estada na CAPES (DANTAS, E.W.C; SILVA, J. B., 2018).
REFERÊNCIAS
ABREU, Maurício de Almeida. A apropriação do território no Brasil colonial. In: de Castro, Iná Elias et al. (orgs.). Explorações Geográficas - percursos no fim do século. Rio de Janeiro : Bertrand Brasil, 1997. p. 197-246
ABREU, Maurício de Almeida. Pensando a cidade no Brasil do passado. In: SILVA, J. B.; COSTA, M. C.; DANTAS, E. W. C. (orgs.), A cidade e o urbano: temas para debates. Fortaleza : EUFC, 1997. p. 27-52.
ALEDO, A. De la tierra al suelo: la transformación del paisaje y el Turismo Residencial. Arbor Ciencia, Pensamiento y Cultura. CLXXXIV, enero-febrero, p. 99-113, 2008.
ANDREU, Hugo, G. Un acercaimento al concepto de Turismo Residencial. In: MAZÓN, T.; ALEDO, A. (Ed.). Turismo Residencial y cambio social. Alicante: Universidad de Alicante, 2005.
AUDINET, Laetitia; GUIBERT, Christophe; SEBILEAU, Arnaud. Les “Sports de Nature”. Paris: Édition du Croquant, 2017.
Barroso, Gustavo. Praias e várzeas. Rio de Janeiro/Lisboa : Livraria Francisco Alves/Livrarias Ailland & Bertrand, 1915.
Barroso, Gustavo. Terra de sol - costumes do Nordeste. Rio de Janeiro : B. de Aquila, 1912.
CARLOS, Ana Fani Alessandri. A (Re)produção do Espaço Urbano. São Paulo: Tese de Doutorado em Geografia, USP/FFLCH, 1986.
CARLOS, Ana Fani Alessandri. Espaço-tempo na metrópole. São Paulo: Contexto, 2001.
Castro, José Liberal de. Fatores de localização e de expansão da Fortaleza. Fortaleza : Imprensa Universitária da Universidade Federal do Ceará,1977.
CLAVAL, Paul. La géographie culturelle. Paris: Nathan, 1995.
CLAVAL, Paul. Conclusion. In: PERON, Françoise; RIEUCAU, Jean (orgs.). La maritimité aujourd'hui. Paris : Éditions L'Harmattan, 1996.
CLAVAL, Paul. La Fabrication du Brésil. Paris: Belin, 2004.
CORBIN, Alain. Le territoire du vide. Paris: Aubier, 1978.
CORMIER-SALEM, Marie-Christine. Maritimité et littoralité tropicales: la Casamance (Sénégal)". In: PERON, Françoise; RIEUCAU, Jean (orgs.). La maritimité aujourd'hui. Paris : Éditions L'Harmattan, 1996.
DANTAS, Eustógio Wanderley Correia. Cidades Litorâneas Marítimas Tropicais: construção da segunda metade do século XX, fato no século XXI In: SILVA, José Borzacchiello; LIMA, Luiz Cruz; DANTAS, E. W. C. (orgs.) Panorama da Geografia Brasileira 2. São Paulo: Annablume, 2006. p. 79-89.
DANTAS, E. W. C.; ARAGAO, R. F.; LIMA, E. L. V.; THERY, H. Nordeste Brasileiro Fragmentado. In: SILVA, J. B. da; DANTAS, E. W. C.; ZANELLA, E. Z.; MEIRELES, A. J. A. (Orgs.). Litoral e Sertão. Fortaleza: Expressão Gráfica, 2006.
DANTAS, E. W. C.; FERREIRA, A. L; CLEMENTINO, M. L. M. (Orgs.). Turismo e imobiliário nas metrópoles. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2010
DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. A Cidade e o Comércio Ambulante. 2. ed. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2014.
DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. Coastal Geography in Northeast Brazil. Springer, 2016.
DANTAS, E. W. C.; COSTA, M. C. L. ; Zanella, Maria Elisa . Vulnerabilidade socioambiental e qualidade de vida em Fortaleza. 1. ed. Fortaleza: Imprensa Universitária - UFC, 2016. v. 1. 128p .
DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. Mar à Vista. Fortaleza: Edições UFC, 2020.
DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. Maritimidade nos Trópicos. Fortaleza: Edições UFC, 2008.
DANTAS, Eustogio Wanderley Correia. Metropolização Turística em Região Monocultora Industrializada. Mercator, v. 12, n.2 (n. especial). p. 65-84, 2013.
DEMAJOROVIC, J. et. al. Complejos Turísticos Residenciales. Estudios y Perspectivas en Turismo, v. 20, p. 772-796, 2011.
DESSE, Michel. L'inégale maritimité des villes des départements d'Outre-mer insulaires. In: PERON, Françoise; RIEUCAU, Jean (orgs.). La maritimité aujourd'hui. Paris : Éditions L'Harmattan, 1996.
DUHAMEL, Philippe. Géographie du Tourisme et des Loisirs. Paris: Armand Colin, 2018. ELIAS, Norbert. La civilisation des mœurs. Paris : Calmann-Levy, 1973.
FERNÁNDEZ MUNOZ, Santiago; TIMON, D. A. B. El Desarrollo Turístico Inmobiliario de la España Mediterránea y Insular frente a sus Referentes Internacionales (Florida y Costa Azul). Cuadernos de Turismo, n. 27, p. 373-402, 2011.
GOMES, Paulo César Costa. A Condição Urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
GUIBERT, Christophe. L’univers du surf et stratégies politiques en Aquitaine. Paris : L’Harmattan, 2006.
GUIBERT, Christophe; SLIMANI H. Emplois sportifs et saisonnalités. L’économie des activités nautiques. Paris: L’Harmattan, 2011.
LEFEBVRE, Henri. La Vida Cotidiana en el Mundo Moderno. Madrid: Alianza Editorial, 1972.
LEFEBVRE, Henri. Espacio y Politica. Barcelona: Ediciones Penisula, 1976.
LEFEBVRE, Henri. De L’Etat. Paris: Union Générale d’Editions, 1978.
LEFEBVRE, Henri. El Derecho a la Ciudad. Barcelona, Ediciones Peninsula, 1978.
LEFEBVRE, Henri. La Production de l’Espace. Paris: Anthropos, 1986.
NIEVES, Raquel Huete. Tendencias del Turismo Residencial. El Periplo Sustentable, n. 14, p. 65-87, 2008.
NIJMAN, J. Miami. Philadelphia: Universsity of Pennsylnania Press, 2010
PEREIRA, A. Q. Coastal Resorts and Urbanization in Northeast Brazil. 1. ed. Basel, Switzerland: Springer International Publishing, 2020.
PEREIRA, Alexandre Queiroz. A Urbanização Vai à Praia. Fortaleza: Edições UFC, 2014.
PERON, Françoise; RIEUCAU, Jean (orgs.). La Maritimité aujourd'hui. Paris: Éditions L'Harmattan, 1996.
SANTOS, Milton. O Espaço Dividido. Rio de Janeiro: F. Alves, 1979
SANTOS, Milton. Espaço & Método. São Paulo: Nobel, 1985.
SEBILEAU, Arnaud. Les Figures de l’Empiètement dans une commune du littoral. In: GUIBERT, Christophe; TAUNAY, Benjamin. Tourisme et Sciences Sociales. Paris: L’Harmattan, 2017.
SERRES, M. Hermes - uma filosofia das ciências. Tradução Andréa Daher. Rio de Janeiro: Graal, 1990.
TORRES BERNIER. E. El Turismo Residenciado y sus Efectos em los Destinos Turísticos. Estudios Turisticos, p. 45-70, 2013.
TROCHET, Jean René. Géographie historique. Paris: Éditions Nathan, 1998.
URBAIN, Jean-Didier. Sur la plage. Paris: Éditions Payot, 1996.
VASCONCELOS, Pedro de Almeida. Os Agentes Modeladores das Cidades Brasileiras no Período Colonial. In: Castro, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORREA, R. L. Expressões Geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
VASCONCELOS, Pedro de Almeida. Salvador. 1. ed. Ilhéus: Editus, 2002.