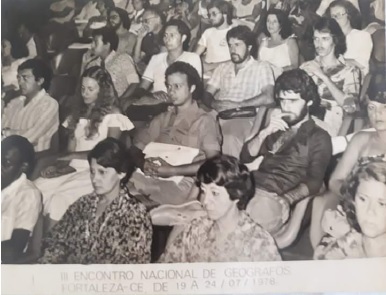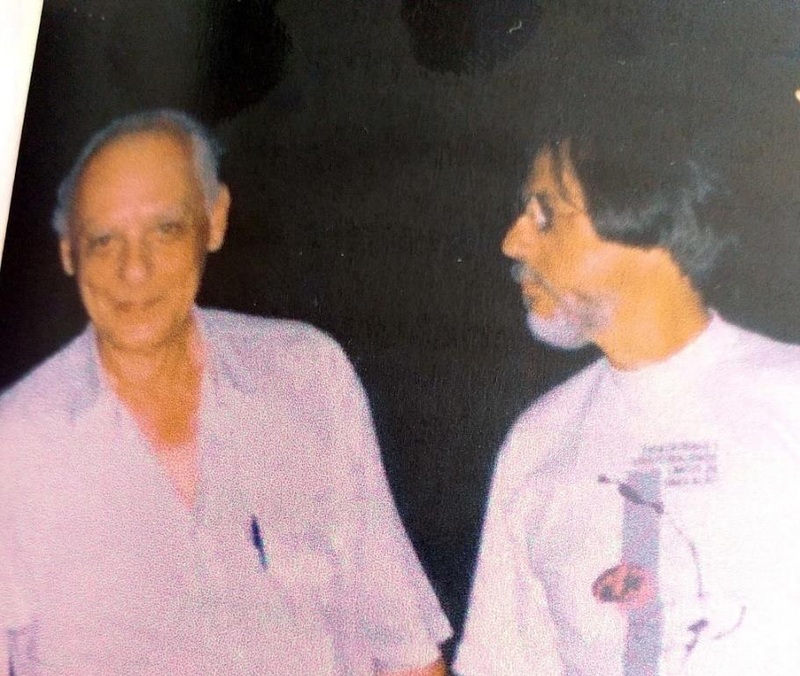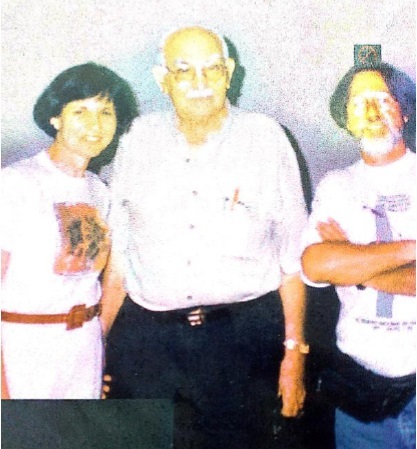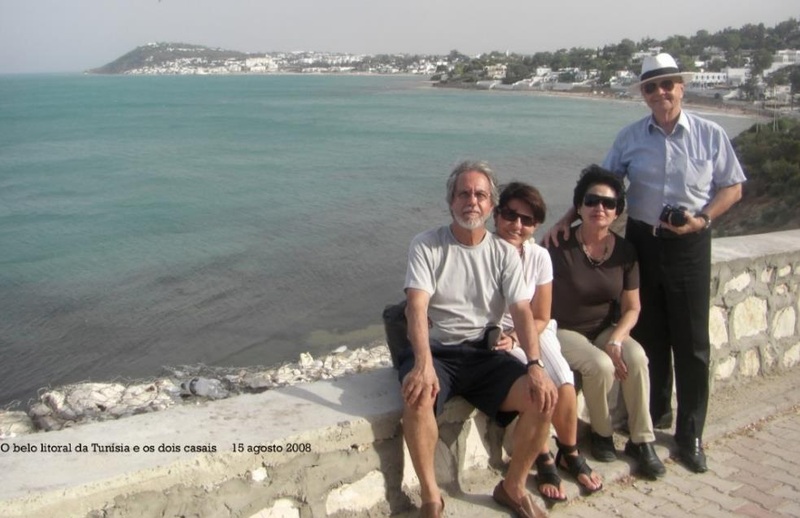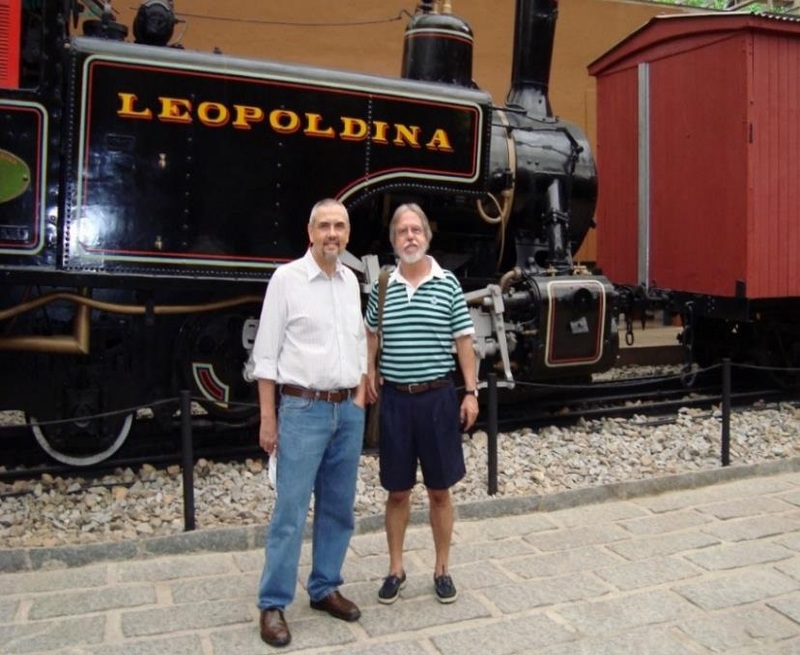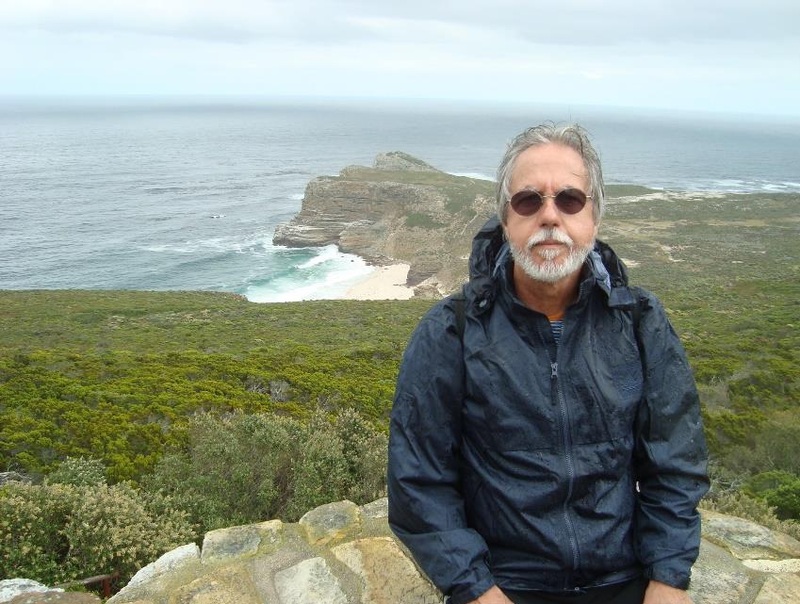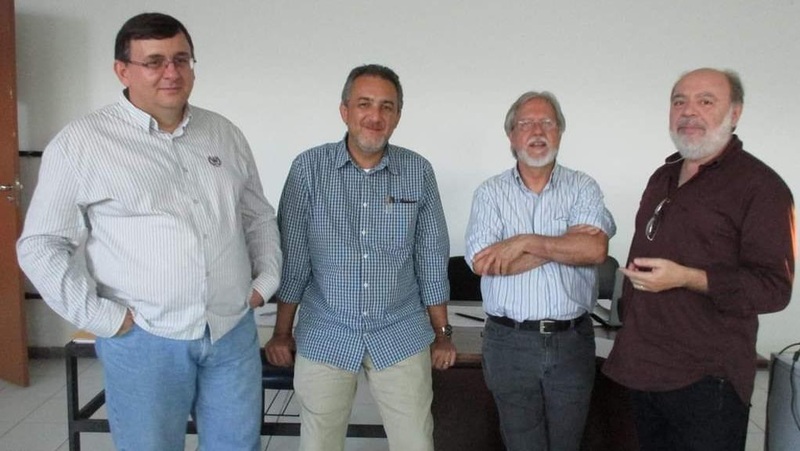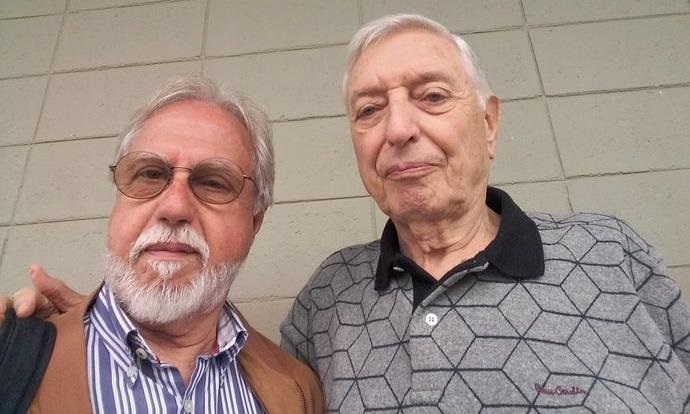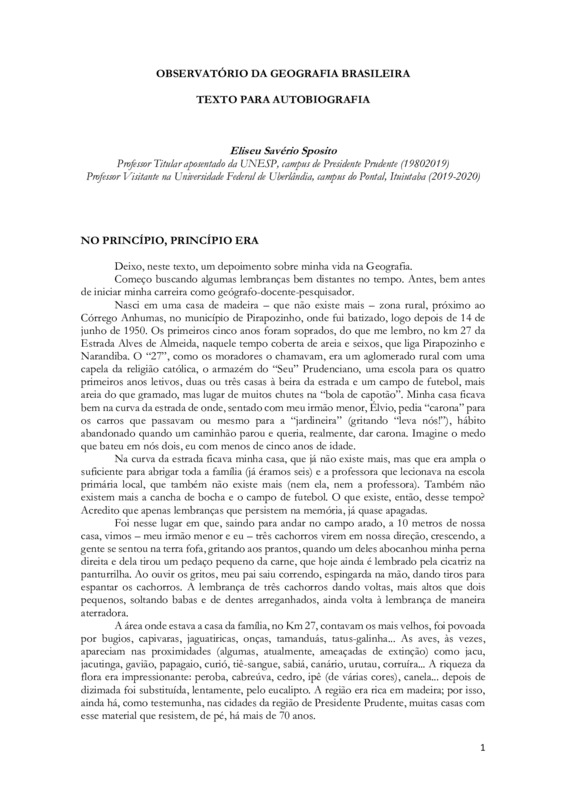-
Título
-
ELISEU SAVERIO SPOSITO
-
Nome Completo
-
ELISEU SAVERIO SPOSITO
-
Nascimento
-
14 DE JUNHO DE 1950
-
História de Vida
-
AUTOBIOGRAFIA - Eliseu Savério Sposito
Professor Titular aposentado da UNESP, campus de Presidente Prudente (1980-2019)
Professor Visitante na Universidade Federal de Uberlândia, campus do Pontal, Ituiutaba (2019-2020)
NO PRINCÍPIO, PRINCÍPIO ERA
Deixo, neste texto, um depoimento sobre minha vida na Geografia.
Começo buscando algumas lembranças bem distantes no tempo. Antes, bem antes de iniciar minha carreira como geógrafo-docente-pesquisador.
Nasci em uma casa de madeira – que não existe mais – zona rural, próximo ao Córrego Anhumas, no município de Pirapozinho, onde fui batizado, logo depois de 14 de junho de 1950. Os primeiros cinco anos foram soprados, do que me lembro, no km 27 da Estrada Alves de Almeida, naquele tempo coberta de areia e seixos, que liga Pirapozinho e Narandiba. O “27”, como os moradores o chamavam, era um aglomerado rural com uma capela da religião católica, o armazém do “Seu” Prudenciano, uma escola para os quatro primeiros anos letivos, duas ou três casas à beira da estrada e um campo de futebol, mais areia do que gramado, mas lugar de muitos chutes na “bola de capotão”. Minha casa ficava bem na curva da estrada de onde, sentado com meu irmão menor, Élvio, pedia “carona” para os carros que passavam ou mesmo para a “jardineira” (gritando “leva nós!”), hábito abandonado quando um caminhão parou e queria, realmente, dar carona. Imagine o medo que bateu em nós dois, eu com menos de cinco anos de idade.
Na curva da estrada ficava minha casa, que já não existe mais, mas que era ampla o suficiente para abrigar toda a família (já éramos seis) e a professora que lecionava na escola primária local, que também não existe mais (nem ela, nem a professora). Também não existem mais a cancha de bocha e o campo de futebol. O que existe, então, desse tempo? Acredito que apenas lembranças que persistem na memória, já quase apagadas.
Foi nesse lugar em que, saindo para andar no campo arado, a 10 metros de nossa casa, vimos – meu irmão menor e eu – três cachorros virem em nossa direção, crescendo, a gente se sentou na terra fofa, gritando aos prantos, quando um deles abocanhou minha perna direita e dela tirou um pedaço pequeno da carne, que hoje ainda é lembrado pela cicatriz na panturrilha. Ao ouvir os gritos, meu pai saiu correndo, espingarda na mão, dando tiros para espantar os cachorros. A lembrança de três cachorros dando voltas, mais altos que dois pequenos, soltando babas e de dentes arreganhados, ainda volta à lembrança de maneira aterradora.
A área onde estava a casa da família, no Km 27, contavam os mais velhos, foi povoada por bugios, capivaras, jaguatiricas, onças, tamanduás, tatus-galinha... As aves, às vezes, apareciam nas proximidades (algumas, atualmente, ameaçadas de extinção) como jacu, jacutinga, gavião, papagaio, curió, tiê-sangue, sabiá, canário, urutau, corruíra... A riqueza da flora era impressionante: peroba, cabreúva, cedro, ipê (de várias cores), canela... depois de dizimada foi substituída, lentamente, pelo eucalipto. A região era rica em madeira; por isso, ainda há, como testemunha, nas cidades da região de Presidente Prudente, muitas casas com esse material que resistem, de pé, há mais de 70 anos.
Quando fui me alfabetizar, a família mudou-se para Pirapozinho. Isso foi em 1957, quando fui matriculado no primeiro ano do curso primário. Eu tinha seis anos de idade (“primeiro ano, cabeça de pano”). Nossa casa, na rua Rui Barbosa 474, que ficava a 30 metros dos muros da escola, não existe mais, o que possibilitava que minha mãe me levasse o sanduíche (muitas vezes duas fatias de pão caseiro recheadas com açúcar ou com banha de porco) na hora do recreio. Não me lembro da minha primeira professora, mas de uma substituta – Zilda Marafon – porque, nesse ano, as mudanças foram várias. Não tive problemas, mesmo com as mudanças de docentes, em minha alfabetização. Minha professora do terceiro ano, dona Climenes, e o professor do quarto ano (Seu Djalma) ficaram indeléveis na memória. No primeiro e no terceiro anos fiquei com a maior média de toda a classe (no terceiro ano, ganhei um livro com instrumentos musicais de presente) No segundo e no quarto ano, fiquei em segundo lugar. No quarto ano senti-me injustiçado porque eu sabia que tinha “tirado” nota maior, mas a Cristina Mori ficou com os louros.
Comecei o curso ginasial no CELSA (Colégio Estadual Lúcia Silva Assumpção) em 1961. Tinha dez anos de idade. Eu era pequeno perante os “veteranos”, com idades de 12 a 15 anos, que me olhavam de cima para baixo, não me deixavam participar dos jogos de futebol (a não ser como goleiro), mas precisavam de mim para melhorarem suas notas em várias disciplinas.
Dois acontecimentos marcaram minha vida no ginásio. O primeiro foi editar, com os recursos da época, a revista “O Repórter Mirim”, junto com meu amigo, que hoje vive no Japão, Vergílio do Espírito Santo. Foram vários números entre 1962 e 1963. Infelizmente não tenho, aqui, nenhum exemplar para mostrar. Como eu já desenhava bem, fazia todas as ilustrações da revistinha e, com uma velha máquina de escrever Remington, datilografava cuidadosamente as páginas; feita a capa, pintada com lápis de cor, o grampeador dava o acabamento final. O segundo acontecimento que destaco foi a influência de meu professor de geografia, Rodolfo Horle, que me incentivou a fazer o curso de Geografia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente (a FAFI, onde entrei em 1971, que atualmente é o campus de Presidente Prudente da UNESP).
Tive professores fracos de Matemática e Latim, mas professores entusiasmados de História (Dona Ivanice), Francês (Dona Rosário), Desenho (Dona Hilda), Língua Portuguesa (Achelon), além do de Geografia. Fiz muitos desenhos com tinta guache em cartolina nas aulas de desenho, e mais tarde com o Cilinho, desenhista autodidata, que tivera paralisia infantil, mas dominava com maestria o lápis e o pincel.
Vez ou outra podia, depois de pedir insistentemente dinheiro para meu pai, assistir a algum filme no Cine Vera Cruz (1), do Sr. Mourão, que era lembrado com assobios e palavrões toda vez que o filme arrebentava, o que era muito comum. Naquele tempo não se falava em ar condicionado e, mesmo assim, assistir às “matinês” (não sei por que, sempre no período da tarde), para torcer para o mocinho contra o bandido. Roy Rogers era o preferido, mas havia outros cowboys que “faziam a cabeça” da garotada. As lições, no final dos filmes, era de que o bem sempre vence e que o crime não compensa. Depois vieram os documentários de futebol do Canal 100, com jogos das equipes cariocas, enaltecendo o Maracanã e destacando os “arquibaldos e geraldinos” (aqueles que ficavam nas arquibancadas e na geral – parte de baixo dos degraus do estádio onde todos ficavam de pé). O cine Vera Cruz também não existe mais. A esquina está lá, com outra função. A destruição criadora esteve presente na minha vida desde o início.
Nesse tempo, minhas férias eram dias de alegria no sítio do Palope (cognome de meu pai, que mesmo tendo o sobrenome Sposito, ficou com uma corruptela do nome de sua mãe, minha avó, Rosa Palopoli). Foi lá que ouvi muitas histórias, contos e “causos” (contados pelo Baiano ou por meu avô, Quim Bié – de Joaquim Gabriel da Fonseca), foi lá que via o saci girando nos redemoinhos, que chupava manga nos mais altos galhos da árvore, que plantava abacaxis para saciar minha vontade por vitamina C, que trabalhei no arado com o Sereno (cavalo baio e arisco), o Preto (cavalo manso que sabia o caminho de volta para casa) e a Girafa (mula branca e alta, de difícil manejo), que vi muitos “camaradas”, nordestinos ou japoneses, ararem a terra e colherem batata, café e banana. Andava “de pé no chão”, ora na areia quente do meio-dia de janeiro, ora no frio orvalho da manhã em julho, depois de alguma geada qualquer. Meu avô, que na realidade era apenas o companheiro de minha avó (porque o pai de meu pai havia voltado para a Itália e lá falecera, muitos anos antes), gostava de falar de suas andanças por trem pela “Paulista Velha” (estrada de ferro que passava por Jaboticabal, Olímpia, Catanduva etc), desfilando corretamente o “rosário” de cidades, em sua ordem no sentido capital-interior, e falar os números e os nomes do jogo do bicho, que ele entendia muito bem. Antes de dormir, o “programa” era deitar na areia, na frente da casa, ver estrelas e ouvir os “causos” do Baiano, um preto de meia idade, que também não existe mais, que contava, entre muitos, a história do “Reino dos Corpos sem Alma”, e falava de suas andanças pelas cidades da “Paulista Nova”, entre Marília e Flórida Paulista.
Lá pela metade da década de 1960 eu já ouvia Chico Buarque, Beatles, o pessoal da Jovem Guarda ou da Tropicália e muita música sertaneja. Vivi os anos sessenta entre meus dez e vinte anos de idade. Não é preciso ficar repetindo o impacto do golpe militar de 1964 que teve, mesmo no longínquo Oeste Paulista.
Minha avó, em um forno a lenha, cozinhava a comida mais gostosa do mundo, a omelete (fritada, para nós) cujo aroma guardei por muito tempo na memória olfativa, e derretia a banha que depois conservava os alimentos e servia para untar as panelas. A pamonha e o curau, comida obrigatória na época da colheita do milho; as mangas eram de fim de ano; as bananas “davam” o ano inteiro; a jaboticaba pretejava os troncos uma vez por ano, e por aí ia a vida, fluindo sem contar os dias que precisavam correr para as crianças crescerem. As férias no sítio foram obrigatórias, trabalhando ou não, até meus dezoito anos.
Meu pai vendeu o sítio em 1978; minha avó faleceu em 1984, minha mãe em 2007 e meu pai em 2009. Muito do que marcou minha vida pode ser lembrado ou visto em uma ou outra fotografia. Aí me lembro do filme “Avalon”, no qual o principal personagem, ao constatar que suas casas não existiam mais, fica na dúvida se ele mesmo existia ou existira.
De posse de um diploma da Escola Normal de Pirapozinho, tornei-me “professor primário”, disse para meu pai que não trabalharia mais na roça. Assim, em 1969, com meus dezoito anos cumpridos, comecei a lecionar em uma escola rural, que também não existe mais, que tinha as “turmas” em quatro filas, uma para cada um dos anos. Tive que trabalhar com quatro séries ao mesmo tempo. Não sei se hoje teria a habilidade para isso, mas naquele tempo, de idade próxima às dos alunos, pude interagir sem problemas com eles por três meses. Eu ia a pé, da cidade à escola, por três quilômetros, de manhã, por volta de 7h e voltava ao meio dia, muitas vezes com alguma prenda que uma ou outra aluna trazia para o professor. Quinze minutos antes da “hora do recreio” escalava três alunas ou alunos que iam fazer o leite que acompanharia a merenda que a turma tinha trazido de casa. Um barril de leite em pó ficava num pequeno reservado, ao lado da sala de aula, fruto do programa Aliança para o Progresso, forma de investimento na alimentação de alunos das escolas primárias, resultado de acordo entre Brasil e Estados Unidos, na época da guerra fria, cujo intuito era soltar algumas migalhas para que as pessoas não caíssem “no conto do comunismo”. Depois, fui “assinar ponto” no grupo escolar em que me alfabetizei para melhorar minha possibilidade de assumir aulas no ano seguinte. Tinha que ficar na escola das 8h às 10h para uma eventual substituição. Eu era o único homem dos “substitutos”. Não tinha muita conversa porque as colegas, que já tinham televisão em casa, ficavam o tempo todo falando das novelas da TV Tupi (As pupilas do senhor reitor; Nino, o italianinho) ou de um seriado (Penélope). Aproveitei e li o que podia na biblioteca da escola. Aí tomei conhecimento de livros como Moby Dick, A ilha do tesouro, As viagens de Gulliver, As aventuras de Tom Sawyer, Viagem à Lua, entre tantos outros – alguns livros que se tornaram filmes, que eu vi nessa época ou mais tarde. Enfim, grande parte da literatura juvenil passou por meus olhos em 1969. Enquanto eu lia clássicos da literatura juvenil, muitos gibis e fazia meu Curso Normal em Pirapozinho, alguns alunos da antiga FFCLPP (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente) esconderam-se por causa da repressão militar, outros fugiram, e dois ou três simplesmente desapareceram. Aqueles que foram apanhados, apanharam.
Enquanto a repressão militar já mostrava suas garras e seus dentes, eu me formava professor primário (P-I, como se falava na época) no colégio das freiras. Meus professores eram, principalmente, jovens egressos da FFCLPP, dos cursos de Ciências Sociais e Pedagogia. Todos idealistas, entusiastas. Lembro-me de Leny, Nilcéia, Júnia, Neuzinha... e da madre Olga, tão simpática mas tão pequena que quase cabia na palma da mão.
Nesse tempo, participei do TLC (Treinamento de Líderes Cristãos), movimento carismático ligado à Igreja Católica, originário da Espanha, que foi me mostrando, aos poucos, a necessidade que algumas pessoas têm de crescer e aparecer às custas de outras. A canção-símbolo desse movimento, De colores, hoje ecoa em minha cabeça entoada pela belíssima cantora greco-francesa Nana Mouskouri (“De colores / se visten los campos en la primavera / de colores / son los pajaritos que vienen de afuera / de colores es el arco-iris que vemos lucir / y por eso, los grandes amores, de muchos colores / me gustan a mi”). Fiz retiro no seminário de Presidente Prudente, ouvi muitos conselhos (felizmente segui poucos), cantei, com os outros, Na tonga da mironga do kabuletê, Tarde em Itapoã. Havia muito cinismo no ar... Eu já havia me desiludido com a Igreja Católica quatro anos antes quando observei, em Pirapozinho, que os mais fervorosos religiosos eram aqueles cuja moral era questionada na cidade.
Foi nesse tempo que vi Paulo Autran declamar “As mãos de Eurídice” e o Coral Santo Inácio de Loyola encenar “Morte e vida severina” (“esta cova em que estás / com palmos medida / é a terra que querias / ver dividida; não é cova grande / nem larga nem funda / é a parte que te cabe / deste latifúndio...”). A revolta com a repressão, a busca de justiça social, de liberdade individual, já estavam presentes no meu cotidiano escolar.
Fizemos (2) passeata quando quiseram (nem sei mais quem “quiseram”) “tirar” o padre Diógenes do Curso Normal porque ele era adepto e entusiasta da Escola de Summerhill, surgida na Inglaterra (condado de Suffolk) em 1921, que pregava a liberdade total no processo de ensino-aprendizagem em termos democráticos, apoiando-se em pedagogias alternativas segundo as quais a criança deve ter liberdade para escolher e decidir o que aprender de acordo com seu próprio ritmo. O padre, logicamente, foi taxado até de comunista sem, no entanto, acredito, nem saber quem foi Karl Marx.
Alguns adeptos da autoajuda já faziam suas palestras contra a insatisfação crescente, principalmente entre os estudantes, com a repressão que vinha de fora e de dentro das famílias. Os ecos dos anos sessenta estavam, finalmente, chegando na nossa terra e mostrando suas garras, colando-se em algumas pessoas. As canções de protesto continuavam importantes nas nossas rodinhas de domingo à noite, na Praça da Matriz, quando se buscava entender as mensagens, algumas cifradas, que seus compositores queriam “passar” para as pessoas.
O Brasil que se urbanizava foi palco para a criação da bossa nova (o jazz brasileiro, para o resto do mundo), a partir da batida sincopada do samba de João Gilberto, alimentada pelo romantismo de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Na onda do rock’n’roll, a Jovem Guarda, comandada por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderléa cantava a tristeza e a ingenuidade da juventude. Mas essa mesma juventude vai se encantar também com as canções de protesto e com a tropicália. A tropicália, que notabilizou os baianos (Caetano, Gil, Gal e Bethânia), trouxe como novidade a introdução dos metais e do som elétrico à música popular brasileira. Essa prática vai se consolidar com os trios elétricos baianos. Uma outra característica da tropicália foi procurar aproximar, musicalmente, os países latinoamericanos, cantando seus costumes e fragmentos de sua história.
As canções de protesto podem ser identificadas por: 1) ter letras engajadas politicamente, elaboradas por compositores que explicitavam sua posição política, mesmo que não fossem filiados a partidos políticos; 2) tratar dos temas considerados sociais, desde os costumes, a migração, a cidade, a pobreza, a propriedade da terra, a América Latina etc.; 3) ter como alvo, preferencialmente, o regime político vigente (a ditadura militar que governou o Brasil entre 1964 e 1985).
Eu também fui um garoto que amou muito os Beatles, The Ventures, Bob Dylan e Elvis Presley e amou pouco os Rolling Stones. Não tenho nenhuma medalha de guerra no peito (3), mas um coração que bate nos ritmos das canções dessa turma e dos filmes assistidos no Cine Vera Cruz, que se tornou apenas um nome enfraquecido na memória.
Nas horas de inspiração que vinha não sei de onde, motivado pelas canções de protesto, pela Jovem Guarda e pelos Beatles, já compunha algumas canções que foram gravadas somente em 2011, 2018, 2019 ou 2020, nos discos “Cenário”, “Meu canto geral’, “Viver no campo” e “Samba, bossa nova e algo mais,” disponíveis no Spotify.
Todas essas tendências marcaram bastante a minha vida. Hoje, os CDs que tenho e que guardo com carinho, trazem gravadas, junto com minhas lembranças, as canções que eles e elas fizeram para mim.
Voltando ao que falava antes, no ano seguinte, ministrei aulas no período da manhã, na Escola Estadual de Primeiro Grau Maria José Barbosa Castro, para a turma do quarto ano. Naquele tempo, ser professor era uma honra e dependia muito dos méritos de cada um. No horário do recreio, lia quando podia ou conversava com o “servente da escola”, José Tomé Sobrinho, meu amigo por muito tempo, até seu falecimento não sei quando. Pude ver o Brasil tricampeão, com vários primos, no velho sofá de courvin, na TV Colorado, em branco e preto, comprada com meu salário. O percurso para a escola era feito diariamente e eu passava em frente ao CELSA (escola onde fiz o ginasial), quando compus minha canção “Se a memória não me falha” (que está no CD “Cenário”), pois cruzava, todos os dias, com uma moça que nunca mais vi. Para ganhar alguma coisa mais, fiz a seleção e trabalhei na aplicação dos questionários do Censo Demográfico de 1970, na zona rural, ao norte de Pirapozinho, no Bairro do Km 25, na estrada para Presidente Prudente.
Cursar Geografia estava no meu horizonte desde o segundo grau, como já afirmei, quando acompanhava as aulas de Geografia, mesmo que o professor se limitasse aos mapas coloridos, aos fatos mais banais e à descrição dos territórios. Não havia, ainda, em meus sonhos futuros, nada que apontasse para o trabalho na Universidade; a palavra pesquisa ainda não estava escrita em meu glossário do cotidiano nem em minhas aspirações profissionais.
A GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA, COMEÇO DO TEMPO NÃO IMAGINADO
Em 1971 iniciei efetivamente o curso na FFCLPP. Em agosto, fiz concurso para desenhista e fui aprovado. Passei a trabalhar e estudar na mesma faculdade. Trabalhava de manhã e à noite, seguia o curso à tarde. O curso era seriado e se alternava, de ano a ano, entre os períodos da manhã e da tarde. As disciplinas duravam o ano todo. A partir daí, já não viajava os vinte quilômetros que separavam Pirapozinho de Presidente Prudente diariamente, mas mudei-me para a Pensão Portuguesa, na Rua Dr. Gurgel, onde dividia quarto com um outro jovem do qual só me resta vaga lembrança.
Agora já estou falando da faculdade. Durante o curso de Geografia, alguns acontecimentos merecem ser lembrados porque tiveram seu papel em minha vida acadêmica. Participar, desde o primeiro ano, das “excursões” foi uma agradável novidade. Conhecer, ainda em construção, as usinas hidrelétricas Capivara e Ilha Solteira; fazer entrevistas e aplicar questionários em Ribeirão Preto, Piracicaba, Mococa; percorrer os três planaltos do Paraná, desde Londrina até Paranaguá; ter a aula de campo no barranco da SP-270, no município de Maracaí para conhecer os folhelhos; visitar Pedrinhas e outros tantos lugares que se apresentavam como diferentes paisagens para o início da leitura geográfica que, aos poucos, foi se tornando familiar.
As aulas de Cartografia e Topografia, aos sábados, ministradas por Marcos Alegre, com o ambiente da descontração e da prática constante do desenho; as aulas de Geografia Econômica, com as provocações teóricas, já nessa época, do Armen Mamigonian; as aulas eruditas de Antropologia Cultural, com Max Henri Boudin, que aprovava todo mundo com nota máxima e não fazia chamada, mas que, para os poucos que permaneciam, eram momentos especiais para a descoberta de novas palavras; a racionalidade da Idade Média e do Renascimento pelo Dióres Santos Abreu que, lendo seu jornal e não vendo meus colegas “colarem”, sabendo que eu havia obtido a maior nota na primeira prova, na segunda, ao ver minha nota 4,0, apenas comentou que eu “dormira sobre os louros”.
As aulas de campo de Geologia, com o José Martín Suárez (Pepe), sempre com seu “martelito” e escalando vertentes, eram incompreensíveis para todos os que viam naquilo apenas mais uma observação de barrancos; a dureza e seriedade da Ruth Kunzli, na Antropologia Física, medindo nossos crânios e narizes, classificando nosso sangue (desde aquele tempo eu sei que sou O+) e reprovando a maioria da classe; a Climatologia, do Hideo Sudo, e a dificuldade para fazer os exercícios de balanço hídrico; a história da Terra, com o Alvanir de Figueiredo, e o desenho das eras geológicas num rolo de papel higiênico, para mostrar a insignificância do quaternário em apenas um centímetro de papel.
Como desenhista da FFCLPP, pude organizar gráficos e cartogramas das teses de muitos professores. Esse testemunho está presente na bibliografia produzida na faculdade, com as teses de geógrafos como José Ferrari Leite, Márcio Antonio Teixeira, Dióres Santos Abreu, Armando Garms, Hideo Sudo, e de professores de outros cursos como Thereza Marini, Wilson de Faria, Maria de Lourdes Ferreira Lins, José Arana Varela...
Em 1972, quando se realizou em Presidente Prudente o I Encontro Nacional de Geógrafos, elaborei todos os cartogramas do Guia de Excursões publicado pela AGB e fiquei de plantão para as eventualidades do acontecimento, como fazer cartazes, cartogramas e avisos de última hora. Por causa disso, não acompanhei todos os trabalhos que se desenvolveram no Anfiteatro I, mas pude ver que o tema predominante discutido foram os grandes projetos do governo militar (rodovia transamazônica, grandes hidrelétricas), mesmo que estivesse emergindo, claramente, o embate metodológico e ideológico entre a geografia neopositivista e a marxista. Assim, a “administração” estudantil da academia já tinha a minha contribuição.
Enquanto graduando da Geografia, fui presidente do Centro de Estudos Pierre Deffontaines. Durante a gestão, foi importante a realização de cursos de extensão, com as presenças de Juergen Langenbuch, Amália Inés de Lemos, entre outros. Nessas ocasiões, os professores que vinham de fora expunham suas ideias e, aos poucos, os estudantes de Geografia foram vendo que não havia somente uma tendência geográfica ou apenas um centro de referência, que era a Universidade de São Paulo.
Durante o ano de 1974 eu monitorei as aulas práticas de Topografia, quando os alunos, manuseando os velhos teodolitos, faziam as anotações nas suas pranchetas, durante um ano, para completar a poligonal do terreno onde estava a então FAFI. Num sábado de novembro, a Carminha se aborreceu com as colegas que não anotaram os ângulos e a diferença altimétrica da mira (régua graduada que auxiliava nas medições verticais). Como eu era o responsável pelo acompanhamento das aulas, fui, no final daquele sábado, à sua casa para me desculpar por não ter verificado o trabalho das colegas. Ela chegava, com a família, da feira. Depois dessa conversa, combinamos uma saída para o dia 21 de novembro. Aí começou o romance que já dura 46 anos. Durante esse tempo aconteceram tantas coisas boas que a minha memória (humana, e não RAM ou ROM) não conseguiu registrar em sua maioria.
Em 1975, já formado, participei, durante todo o ano, de um curso de especialização intitulado “O Extremo Oeste Paulista”, quando pude ver mais de perto e em detalhes, o território do hoje Pontal do Paranapanema. Ainda não havia os sem-terra. O algodão, que sucedera o café, já havia se esgotado e as pastagens se espalhavam por toda a área. A experiência de colonização da Fazenda Rebojo mostrava sinais de fracasso. A imensidão das quase planas pastagens do município de Sandovalina, a nascente cidade de Rosana, com poucas casas e roças em suas quadras, eram exemplos que ainda hoje têm sua presença na área.
Enquanto desenhista da FFCLPP eu tinha, na sala de trabalho, amplo espaço para, juntamente com outros colegas (lembro do Mauro Bragato, deputado estadual por São Paulo desde 1978, do Macarrão, do Donaton, eles alunos e de professores como Carlos Tartaglia), principalmente das Ciências Sociais, passar algumas noites, ao lado da caneta de nanquim e da máquina de escrever elétrica IBM, com esfera (grande novidade naquele momento), montando os números de Carcará, cujo cognome era pega, mata e come (nome que eu criei), nosso jornal estudantil que, inspirado nos semanários Opinião e Movimento, expunha as nossas versões dos fatos que mais tocavam nossas preocupações.
Essas atividades “clandestinas” quase me custaram o emprego. Fiquei sabendo, muitos anos depois que, em reunião da congregação da FFCLPP, lá pelos idos de 1975, mais ou menos, foi colocada, em pauta, minha demissão “a bem do serviço público”, porque eu fazia jornais estudantis, durante a madrugada, em minha sala de trabalho. Havia, sim, uma pedra no caminho. Felizmente, só vim a saber dessa caça muito tempo mais tarde.
Esse ano foi bem movimentado. Curso de especialização, quase demissão... também foi minha primeira experiência como candidato a uma vaga na faculdade, na área de Cartografia. Recém formado, não tinha qualquer expectativa. Compuseram a banca Gil Sodero de Toledo e Manuel Seabra, da USP, além de Marcos Alegre, “da casa”. Segundo Gil, ambos queriam “apostar” em mim porque eu tinha habilidades com mapas e, com vinte e cinco anos, teria ainda muito tempo para a profissão. A Congregação (naquele tempo não havia o concurso nos moldes atuais, pois era uma entrevista a partir do currículo do candidato que dava as informações para a banca tomar suas decisões) optou por contratar um mestrando da USP, que se constituiu num dos maiores fracassos docentes do Departamento de Geografia.
Nesse ano, houve outro acontecimento importante para a minha vida. Esteve em Prudente, apresentando sua tese, defendida no ano anterior, Armando Corrêa da Silva. Por sugestão de Armen Mamigonian, conversei com ele para ver se eu seria recebido para uma entrevista porque eu pleitearia uma vaga no mestrado da USP. Ele foi atencioso e, mesmo não se lembrando de mim, um ano depois, quando fui me apresentar, selecionou-me com mais outros seis candidatos, entre doze. Daqueles sete mestrandos, apenas eu e Amélia Damiani concluímos a dissertação.
Em 1977, seis meses antes de meu casamento, tive que enfrentar uma encruzilhada tríplice. Teria que me mudar para São Paulo para continuar o mestrado. Solicitara, à FFCLPP, afastamento por dois dias da semana, com horário especial de trabalho. Havia prestado concurso na Caixa Econômica Federal, com mais uns 50.000 candidatos. E havia sido contemplado com uma bolsa da FAPESP. O que fazer? Por qual saída optar? Para desespero de meu futuro sogro, optei pela bolsa da FAPESP. Ele queria que eu optasse pelo emprego na Caixa Federal, mais garantido e com salário equivalente ao dobro do valor da bolsa.
Fui ao prédio da Caixa, na Praça da Sé, assinar minha desistência da vaga para que um outro candidato pudesse usufruir o emprego. É inesquecível o desespero da funcionária que não queria me deixar assinar o papel da demissão, dizendo que eu iria me arrepender, que eu “desse uma voltinha”, “pensasse um pouco mais”... Depois de meia hora perambulando pela praça, eu, que fora para a sede da Caixa com a decisão tomada, ficara indeciso pela atitude de uma outra pessoa. Voltei imediatamente, assinei a demissão, deixando a funcionária ainda de olhos arregalados, dei meia volta, desci as escadas e nunca mais voltei àquele prédio. Junto com aquele papel de desistência, ficou um futuro que eu nunca conheci, do que não me arrependo.
MESTRADO, DOUTORADO
A matriz que todos seguiam, predominantemente, para se elaborar dissertações e teses, era a estrutura das monografias regionais, baseadas na Geografia Regional francesa. Primeiramente, descreviam-se os aspectos físicos da área estudada, em seguida eram abordados os aspectos demográficos para, finalmente, se descrever os aspectos econômicos. Na conclusão, tentava-se, nem sempre se conseguindo, “amarrar” essas três partes, geralmente enfocadas separadamente.
Essa era uma característica da produção do conhecimento geográfico de então. A outra, era escolher um tema da área de origem ou onde habitava o mestrando ou doutorando. Esse problema também a mim se apresentou. E a escolha caiu, claro, em duas pequenas cidades do Oeste de São Paulo, ainda conhecida regionalmente como Alta Sorocabana. As cidades foram Pirapozinho (sede do município onde nasci), situada a vinte quilômetros ao sul, e Álvares Machado, a dez quilômetros a oeste de Presidente Prudente.
O outro problema foi escolher a base teórica. Repetir as descrições da população, do comércio ou da zona rural dos municípios não agradava nem a mim, nem ao orientador. Mas ainda ressoavam os ecos do êxodo rural e a evidenciação, na escala regional, dos trabalhadores boias-frias. Decidiu-se, então, estudar o movimento da população das duas pequenas cidades. Como? Medindo e descrevendo a perda de população? Aí a pergunta se inverteu: ao invés de estudar por que as pessoas migram, resolvemos, eu e o orientador, tomar a decisão de eu estudar por que elas permanecem em suas cidades.
Mais uma pergunta compareceu: quais as teorias que poderiam, inicialmente, direcionar as investigações. A decisão também não foi fácil. Depois de algumas conversas, resolvi investigar como as pessoas percebiam seu espaço e, a partir daí, tentar buscar as explicações do porquê elas se fixavam no seu território, evitando se deslocar temporária ou definitivamente. A opção foi pela teoria de campo de Kurt Lewin, cuja contribuição na Psicologia Gestaltista privilegiava, com seu conceito de espaço vital (4), a posição do indivíduo em relação às formas (residência, bairro, rua, cidade, por exemplo) de seu espaço vivido. Da Geografia da Percepção afastei-me, posteriormente, completamente, por absoluta falta de interlocução com as pessoas que adotaram essa tendência como temática. Por ser, a teoria de campo de Kurt Lewin de caráter estruturalista, ela se adequou, em grande parte, à outra teoria à qual recorri para compreender o espaço urbano de Pirapozinho e Álvares Machado: os dois circuitos da economia urbana que, elaborada por Milton Santos nos anos 1970, havia chegado recentemente ao Brasil, em seu livro “O espaço dividido”, de 1978.
Entre essas decisões e a defesa, casei-me com a Carminha, em 4 de fevereiro de 1978. Na véspera, eu desci do ônibus da Andorinha, na estação rodoviária de Presidente Prudente e contei a ela que havia esquecido num táxi, em São Paulo, minha carteira com os três mil cruzeiros que eu havia recebido pela rescisão de meu contrato (equivalentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) enquanto desenhista da UNESP, que serviriam para os primeiros meses seguintes.
Era carnaval e o nosso casamento foi uma festa só. Desde a cerimônia na Igreja de Santa Rita de Cássia, em Presidente Prudente, até a festa no Centro do Professorado Paulista. Das palavras do padre, não me lembro nada. O registro de tudo foi feito em câmera super 8... Lembro Lupicínio: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa, quando começa a pensar...
À meia noite, nós dois partimos, em um velho ônibus da Andorinha. Em São Paulo, passamos os três dias de lua de mel no Hotel Piratininga, lá perto da Estação Júlio Prestes. Na terça-feira de carnaval fomos buscar a minha carteira na casa do taxista que, felizmente, comunicou-se deixando seu endereço. Estava tudo certinho: documentos e dinheiro. Como agradecimento, demos um terço do dinheiro para o honesto taxista porque sua casa, na Freguesia do Ó, era realmente precária.
Alguns dias depois, tomei um ônibus da Real Expresso para Ijuí, para ministrar aulas concentradas para professores leigos, na FIDENE, atualmente UNIJUÍ, que se tornou importante ponto de apoio para nossas excursões geográficas com alunos de graduação, nos anos seguintes. Nessa universidade trabalhei até 1980, indo duas vezes ao ano, nos períodos de férias. Lá também trabalhavam os amigos Dirce Suertegaray, Helena e Jaeme Callai.
No dia 20 de julho de 1980, fomos contratados, Carminha e eu, pela UNESP, campus de Presidente Prudente, naquele tempo IPEA – Instituto de Planejamento e Estudos Ambientais. No início do ano, depois de um capítulo conturbado (demissão de Armen Mamigonian, transferência de quatro outros professores para a UNESP de Rio Claro), foram abertas cinco vagas para concurso. Com meu currículo, naquele momento mestrando na USP, consegui a primeira colocação, quando também foi escolhida Alice Asari (que depois se transferiu para a UEL, onde se aposentou) e, em seguida, a Carminha. As outras duas vagas foram preenchidas logo depois.
Em 20 de agosto de 1981, nasceu o Caio. Com cara brava. Primogênito. Nasceu por meio de cesariana, por impaciência do pediatra. No berçário, era a alegria dos avós porque foi o primeiro neto do lado dos Beltrão. Caio demorou para falar mas, quando o fez, já articulava bem as frases. Uma característica sua é inesquecível: ele conjugava os verbos como no italiano: eu ‘tavo, eu querio... Quando eu perguntava a ele: “Topas?”, ele respondia: “Topos!” Cabelos loiros, foi chamado por sua primeira professora de “príncipe”. Na França, passou pela escola de estrangeiros, conhecendo jovens de vários países. Aprendeu bem o francês, o que o ajudou no vestibular da UNESP, pois fez Desenho Industrial em Bauru.
Voltando um pouco ao tema da pós-graduação, o resgate da história do Oeste Paulista, a aplicação de questionários e a interpretação dos dados à luz das duas teorias adotadas, foram as atividades predominantes na elaboração da minha dissertação de mestrado, defendida na Universidade de São Paulo, em 19 de maio de 1984.
A defesa que contou, na banca, com os professores Pasquale Petrone e Marcos Alegre (presidida por meu orientador, Armando Corrêa da Silva), transcorreu tranquilamente, se se considerar o que ocorrera nos seis meses anteriores. Em setembro de 1983, a dissertação estava pronta. Nesse mês, o orientador teve um surto e foi internado em um hospital psiquiátrico, onde permaneceu por aproximadamente três meses. Resolvi não entregar a dissertação à Seção de Pós-graduação da FFLCH/USP. Aguardei novidades. Passou-se o Natal, passou-se o réveillon, nas férias de janeiro a situação permaneceu indecisa. Em fevereiro, entreguei os exemplares. Ele havia saído do hospital e reiniciava suas atividades no Departamento de Geografia. A defesa, como já foi anotado, ocorreria somente em maio. A partir de fevereiro, tudo transcorreu bem.
De volta para casa, Armando (a quem presto minha sincera homenagem) me convidou para um café em seu apartamento, onde ele costumava discutir aquilo que eu escrevera, entre 1978 e 1982. Tudo estava destruído (a estante, a TV, a cama, a máquina de escrever...), exceto o piano. Neste momento, imagino estar ouvindo My way, canção de Paul Anka imortalizada por Frank Sinatra, entoada pelos dedos cansados do Armando. Era o seu way of life, era o my way do Armando. A sensação de lembrar desses acontecimentos é estranha e, ao mesmo tempo, agradável. É bom lembrar daquilo que realizamos, daquilo que compartilhamos com as outras pessoas, com suas virtudes e suas limitações. Em nossos encontros de orientação, eu ouvia o Armando falar duas, três horas. Quando ele se cansava, depois de vários cafezinhos, algumas bolachinhas ou mesmo um almoço em algum restaurante da Rua Fradique Coutinho, em São Paulo, ele me ouvia por quinze minutos e aprovava tudo o que eu havia escrito. Às vezes, depois de algumas semanas, chegava uma carta com sugestões de leituras voltadas para a temática da dissertação.
Faz bem para a alma a sensação de lembrar que o Ítalo, com seus 4,200 kg, nasceu no dia 29 de outubro de 1984. Gordíssimo. Alegre. Sorriu com poucos dias de vida fora do útero da mãe. Seu avô Ernesto o chamava de “Maguila”. Nas festas, sempre o mais alegre e o mais animado. Sempre próximo à mesa dos doces. Mais tarde, revelou-se bastante curioso: sempre com uma pergunta sobre um ou outro assunto. Lia e lê bastante. Sua vontade era chegar à altura de 1,90m. Na França, depois de três meses de angústia, adaptou-se muito bem, fez vários amigos, jogou no Saint Mandé F.C., como o Caio. Saiu de lá falando francês sem sotaque, para espanto dos próprios franceses.
Em 1985 fiz uma pesquisa sobre a localização industrial em Presidente Prudente, como parte do plano trienal, que foi publicada, posteriormente, na Revista de Geografia da UNESP.
Foi nesse período que, entusiasmado com as possibilidades de mudanças políticas na política municipal, engajei-me, juntamente com alguns colegas da UNESP (entre eles a Carminha), na investigação direta para a elaboração de políticas de transporte e habitação para a cidade de Presidente Prudente. Como trabalho acadêmico, a experiência foi excelente, mas como resultado prático, de intervenção política, mostrou-se um fiasco pois o poder público local (na figura do prefeito Virgílio Tiezzi) simplesmente “engavetou” todas as propostas (no relatório já estava a proposta de corredor de ônibus, baias para as paradas, linhas e pontos de parada com melhor distribuição etc). Mesmo que a vontade de mostrar as diferentes possibilidades de intervir, politicamente, na solução de certos problemas urbanos, tenha sido grande, a roda viva dos compromissos assumidos pelo então prefeito inviabilizou completamente qualquer tentativa de estabelecer planos para a circulação e, um pouco menos, para a habitação. A frustração foi muito grande!
Voltemos à UNESP. Institucionalmente, exige-se, ligado ao plano trienal de atividades, um trabalho de investigação. Escolhi a localização industrial para verificar como se comportavam os padrões clássicos de localização na área urbana da cidade e se havia alguma evidência específica do lugar, no ano que “separou” a defesa do mestrado e a aprovação na seleção do doutorado na USP.
Nesse período, como presidente da AGB local, organizei uma atividade que merece ser registrada: um curso de extensão universitária ministrado por Carlos Fantinati, da UNESP de Assis, que articulava a literatura brasileira com a descrição das paisagens: Guimarães Rosa, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Mário Palmério, entre outros, tiveram seus escritos “dissecados” para que neles os participantes pudessem ler as paisagens de diferentes áreas do Brasil.
Em 1986, iniciei as disciplinas do doutorado. A orientação, desta vez, cabia ao Ariovaldo Umbelino de Oliveira (que, diga-se de passagem, orientou várias pessoas de Presidente Prudente). Para acompanhar as disciplinas, foi preciso viajar, semanalmente, durante o período letivo, de Presidente Prudente a São Paulo. A cada dia que passava, parecia que os 560 km iam se tornando mais longos. Os nomes das rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco já causavam arrepio nos últimos meses, porque o cansaço, durante um ou dois dias, na USP, dificultava um pouco o acompanhamento das aulas. Depois do lanche no restaurante do português, só sobrava o gramado da FFLCH para repousar. Eis aí um mérito dos estudantes que migravam, diária ou temporariamente, para a USP para realizar o mestrado ou o doutorado: era preciso resistir cada um à sua maneira... a cada um as distâncias de suas cidades, de cada um a resistência possível.
Depois de dois anos de indecisão sobre qual tema estudar no doutorado, optei, depois de algumas conversas com o Ariovaldo, por estudar como se produz e como e quem se apropria da renda fundiária urbana em Presidente Prudente. Nesse momento, não havia nenhuma angústia teórica. Eram os autores marxistas, que já falavam da renda fundiária urbana, alguns estrangeiros como Christian Topalov, Alain Lipietz e Samuel Jaramillo, outros brasileiros, como Ignácio Rangel, Cláudio Egler, João Sayad e o próprio orientador. Lá atrás, na base de todos eles, o velho e eterno Karl Marx.
Tive acesso ao cadastro urbano da Prefeitura Municipal. Essa fonte de dados foi fundamental para a organização e o mapeamento dos proprietários urbanos. Com isso, pude detectar quem eram os grandes especuladores e quais eram as principais áreas de especulação real ou futura. Como a referência era, fundamentalmente, os terrenos vazios, o seu mapeamento, em cor amarela (no cartograma que reside na cópia que tenho da tese), deu um tom melancólico ao cartograma, quebrado apenas com as cores azul, referente aos domicílios realmente ocupados e vermelha, que se referia a comércio e serviços. Como as áreas verdes na cidade se restringem ao Parque do Povo, uma faixa no sentido NW-SE quebrava a monotonia da figura.
Uma das conclusões que mais me agradam, após ter exposto como, quando e por quem é apropriada a renda fundiária urbana, foi a constatação da existência de uma espécie de “muralha” não construída ao redor da cidade, constituída pelas glebas loteáveis que estava à espera do momento para realizar a renda e passá-la ao seu proprietário. Essa “muralha” lembra o caráter “quase medieval” que aparentava a propriedade fundiária em Presidente Prudente, cercando a cidade e definindo seus momentos de expansão horizontal.
Os colóquios com o Ariovaldo corriam diferentemente daqueles que fiz com o Armando. Eram, agora, realizados na USP, em sua sala da FFLCH. A discussão passava, inicialmente, pelo texto da tese para, depois, os assuntos do cotidiano universitário merecerem alguma atenção. Algumas vezes, depois de passar a noite inteira no ônibus, indo de Presidente Prudente para São Paulo, aguardar das nove da manhã até às quatro da tarde para ser atendido, sentado no corredor, tomando cafezinho, lendo alguma coisa, encontrando um ou outro colega pós-graduando... Esse era o ritmo da USP, mas quando a reunião começava, as conversas eram longas e agradáveis, falando-se dos escritos da tese, de leituras por fazer ou da vida universitária.
Na minha defesa, estiveram presentes Jayro Gonçalves Melo, que focalizou o papel do poder público; Roberto Lobato Corrêa, cuja importância na Geografia brasileira dispensou seu inexistente título de doutor, analisou o espaço urbano; Manuel Gonçalves Seabra, que deu uma aula sobre O Capital e alguns desdobramentos da análise marxista da cidade e Armando Corrêa da Silva, que chegou atrasado e não havia lido a tese mas que, no final, informou que faria 27 perguntas, fez 13, das quais eu respondi apenas quatro, que na realidade eram aquelas mais diretamente envolvidas com o tema da tese. Ao encerrar a sessão, Ariovaldo, o orientador, afirmou que estava começando a se desligar das orientações em Geografia Urbana porque iria voltar-se, doravante, a se preocupar mais com as questões agrárias.
Desde as disciplinas do doutorado tenho procurado me pautar, ao realizar investigações empíricas ou discussões teóricas, na dialética como método e no materialismo histórico como doutrina.
Entre o mestrado e o doutorado, mais precisamente em 1986, fiz concurso para professor assistente na FCT/UNESP. Fizeram parte da banca os já citados, neste texto, Pasquale Petrone e Marcos Alegre, aos quais somou-se Olímpio Beleza Martins. A prova didática teve como ponto sorteado a mobilidade da população brasileira que eu enfoquei, historicamente, como continente de força de trabalho, a exemplo do que, muito mais tarde, fui conhecer na obra de Gaudemar, publicada, na França, em 1977. Durante a aula, desenhei na lousa, com giz de diferentes cores, o mapa do Brasil com setas, circunferências e ângulos, para mostrar os fluxos de população em diferentes épocas. No dia seguinte, um apagador eliminou aquele desenho tão bem feito.
Os momentos de maior euforia pelas defesas e concurso foram, para mim, também momentos de grande tristeza. É impressionante o que a reação das pessoas pode provocar na gente. Após cada um desses acontecimentos, eu passava pelos corredores da faculdade e me sentia muito só. Não havia qualquer reconhecimento ou mesmo contentamento, mesmo que forçado, por parte da maioria dos colegas de departamento. A vontade de ir embora, de fazer concurso em outra faculdade, enfim, de buscar algo novo era recorrente, após cada um dos concursos.
Ao lembrar dessas frustrações, vêm à mente as figuras de Armen Mamigonian e de Dióres Santos Abreu, aqueles que realmente incentivaram e sempre cobraram a continuidade da carreira acadêmica. Os outros, alguns mais, outros menos, no cafezinho, no futebol, nas happy hours na padaria do Gilberto, que sempre achava uma maneira de aumentar o número de cervejas consumidas, demonstravam uma ponta de crítica que denotava, inconscientemente, uma forma de arrefecer os ânimos para a pesquisa, para a carreira. Nunca as opiniões eram claramente explicadas; ficava apenas um ar de reprovação pelo “pouco tempo” para fazer a carreira (veja lá, foram seis anos para mestrado e seis anos para doutorado), em bloquear a possibilidade de continuar estudando, com insinuações de a gente sempre querer fazer a “tese do século”.
Lembro-me que nesse momento eu soube, em um dia qualquer que já se perdeu na memória que, numa comparação entre a vida acadêmica no Brasil e nos Estados Unidos, chegou-se à seguinte conclusão: lá, a maior causa do stress é a necessidade de se produzir, incansavelmente, artigos para se publicar; no Brasil, a maior causa é aquilo que se diz e o que não se diz nos corredores da academia. Eu senti isso na pele, no coração, na cabeça, nos olhos...
Fazendo este texto, veio-me mais uma reflexão. O que é a autocensura? Ao fazer este depoimento, será que estou sendo severo com os colegas? Será que tudo não passa de fruto de minha imaginação? Ou será que, inconscientemente, estou minimizando os conflitos psicológicos que ocorrem diariamente nas relações profissionais? Espero estar me distanciando um pouco do autoengano pois procuro, sim, minimizar o que as pessoas fazem, quando o sentido visto em suas ações é negativo. No entanto, não posso esquecer e simplesmente ignorar o que ocorre ou ocorreu. Apenas posso dizer, com tranquilidade que, se a realidade é mais rica que a imaginação, às vezes a imaginação é mais sensível e mais afiada que a faca do churrasco de alguns fins de semana... Podemos perdoar, mas não precisamos esquecer. Não estou fazendo um texto que retrate minha vida como geógrafo? Pois é, vamos, então, avivar, pouco a pouco, a memória. E ela tem que contar, necessariamente, com as lembranças que permaneceram.
Outra reflexão: na medida em que vamos chegando mais próximos do presente, os detalhes das lembranças se ampliam, mas ao mesmo tempo, a preocupação com a sua interpretação também se torna maior. Os acontecimentos ainda estão “quentes” na memória e poderão ter outros desdobramentos, além daqueles que podemos ver com clareza no momento da narrativa.
Uma boa batalha que enfrentei foi quando me tornei diretor da Revista de Geografia da UNESP. Defendi a proposta de tornar a revista mais conhecida, com lay out da capa mais agradável à vista... Aí a reação do Odeibler foi rápida. Procurou me desautorizar na fase de impressão do número dez da revista! Em uma reunião no prédio da Avenida Rio Branco, em São Paulo, onde então funcionava a Editora da UNESP, tive que expor, veementemente, todo o seu autoritarismo para todos os membros da Comissão Editorial, “lavando a alma”. Conclusão: algumas pessoas conseguem, a vida inteira, complicar e atrapalhar o decorrer dos fatos.
Outra experiência interessante foi ser presidente da ADUNESP (Associação dos Docentes da UNESP), seção de Presidente Prudente. O ano de 1988 foi marcado por intensa movimentação sindical por aumento de salário. Acredito que, sempre que reivindico algum cargo (sem qualquer paranoia), surge, do outro lado, uma oposição que persiste em fazer algum teste. Quando me candidatei à presidência da ADUNESP, isso ocorreu, como ocorreria, posteriormente, quando da candidatura à coordenação do Curso de Geografia ou da Pós-graduação.
No Anfiteatro I da Faculdade de Ciências e Tecnologia, em maio de 1988, fui sabatinado, juntamente com outros membros da diretoria, dos quais estava, ao meu lado, na mesa, a Luiza Helena Christov. Qual era o nosso compromisso sindical, qual nossa visão de universidade, qual era não sei mais o quê... Nunca mais, pelo que me lembro, qualquer outro candidato foi sabatinado publicamente.
O mandato de nosso grupo foi bastante movimentado. Uma greve de 75 dias marcou o final do ano de 1988. Eu ficava mais dentro do ônibus, indo e voltando de São Paulo, do que em minha própria casa. As intermináveis reuniões, as “questões de ordem”, a falta de objetividade dos companheiros, eram regadas a café e água. Quantas vezes passamos o dia com apenas um sanduíche! Só no final do dia, lá pelas sete ou oito horas da noite, quando o primeiro “caía”, é que os outros se davam conta de que a resistência física tem limites. Aí, novamente o ônibus de volta para, no dia seguinte, expor, em assembleia, tudo o que havia sido discutido em São Paulo.
A democracia é complexa. Ouvir “as bases” é necessário para dar respaldo às tomadas de decisões nos fóruns das entidades. Por outro lado, ficar ouvindo as bases coloca os representantes da entidade num círculo vicioso que limita qualquer margem de pronunciamento ou negociação. Os limites, muitas vezes, emperravam as discussões por uma, duas semanas. Mas era preciso exercitar, ouvir, ser cobrado pelos colegas, tentar alguma saída. As universidades públicas ainda não tinham sua cota fixa do ICMS (hoje as universidades paulistas têm sua autonomia financeira: sua receita é igual a 9,57% da arrecadação do estado – vitória homologada em janeiro de 1989). Assim, o grande inimigo era o governador do estado.
Uma vez, numa manifestação próxima ao Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, quando o governador era Orestes Quércia, enfrentamos, silenciosamente, a tropa de choque. À direita e à esquerda, os muros; sob os meus pés, o asfalto quente; em frente, o olhar arregalado dos soldados (que eram obrigados a ouvir o grito de guerra “você aí do lado, também é explorado”) com seus cassetetes e escudos, mirando aqueles “vermelhos” que queriam melhores salários. Nesse ir e vir – ora avança a tropa, ora avançam os manifestantes – aparecem os deputados que fazem as negociações (o senador Eduardo Suplicy devia estar por lá, nesse dia...), estabelecem uma pauta para uma próxima reunião com o governador, o pessoal sai aliviado. Os manifestantes que foram de Presidente Prudente entram numa Kombi que eu dirijo, já noite, pela Rodovia Castelo Branco lembrando, aliviado, que a esperança ainda existe, que da próxima vez o governador vai mudar, vai ouvir o sindicato etc.
Uma prática que tivemos, em nosso mandato, que atualmente quase não se vê mais na minha unidade, é a prestação pública das contas da associação, em tabelas que eram fixadas nos murais existentes.
São os anos noventa que agora entram em pauta. Eu já tinha o título de doutor. Candidatei-me para ser coordenador do Curso de Geografia e vi, mais uma vez na minha frente, a oposição cuja base ideológica era mais obstaculizar as propostas de avaliação, de mudanças curriculares, de reorganização dos trabalhos de campo e de cumprimento de horários docentes. Perder faz parte da vida, mas perder para uma chapa que tinha, como cabo eleitoral, alguém chamado Miguel Gomes Vieira, o energúmeno que já trabalhou (será que trabalhou?) no meu departamento, foi realmente frustrante.
Esse acontecimento serviu para acirrar alguns ânimos e criar uma dicotomia do departamento que teve muitas consequências por um bom tempo. Estou lembrando essa situação porque ela foi fundamental para os problemas que tivemos (agora, no plural, porque envolve toda a família) para obter o afastamento para realizar o nosso pós-doutorado na Universidade de Paris I, a Sorbonne-Panthéon, mais precisamente no Institut de Géographie, na Rue Saint-Jacques. Uma dificuldade foi ver quem assumiria as aulas, dentro da perspectiva da divisão mais adequada no departamento, fazendo com que aqueles que, durante anos, se esquivavam das salas de aula, tivessem a hombridade de substituir dois colegas (eu e Carminha) que iriam realizar o terceiro pós-doutorado do departamento.
A outra dificuldade foi a prepotência do professor Antonio Christofoletti que, não tendo mais como atrapalhar meu afastamento, pediu-me, por telefone, para citar as bibliotecas e livrarias que eu poderia visitar na França, como estava declinado em meu projeto entregue ao departamento e enviado ao CNPq que já havia, por sua vez, aprovado minha bolsa. Quando eu lhe pedi para registrar por escrito, em seu parecer, essa absurda exigência, ele simplesmente se calou e, alguns dias mais tarde, meu afastamento foi aprovado pela CPRT (Comissão Permanente de Regime de Trabalho).
A vida tem, por causa das inconsistências das pessoas, suas contradições burocráticas. Nós já tínhamos (Carminha e eu) sido premiado com bolsa do CNPq, já estava com passagem marcada para Paris, mas ainda não tinha a aprovação de meu departamento. Somente quando, espontaneamente e sem nenhuma obrigação, os colegas Bernardo Mançano Fernandes, Sérgio Braz Magaldi e Raul Borges Guimarães comprometeram-se a assumir nosas aulas, o afastamento foi aprovado. Dois minutos depois!
Mas as coisas boas também acontecem. Depois de realizar curso de francês por dois anos com a professora Lilian Coimbra, passamos nos exames da Aliança Francesa, em São Paulo, e fomos contemplados com bolsa da CAPES. Como havíamos, também, solicitado bolsa para a FAPESP, recebemos a sua aprovação. Aí, o dilema era dos melhores: por qual bolsa optar? Somadas e subtraídas todas as vantagens e desvantagens, optamos pela bolsa do CNPq, órgão ao qual eu já estava vinculado, desde 1993, como pesquisador (atualmente 1B).
No dia 18 de outubro de 1994 cheguei em Paris. Carminha, Caio e Ítalo chegaram quinze dias depois, já com apartamento alugado na Rue Jeanne d’Arc, em Saint Mandé, a cem metros do Bois de Vincennes.
Depois de passar uma semana na Maison du Brésil, na Cidade Universitária, acertamos o aluguel com Monsieur Schoenfeld, gastando por volta de R$ 1.500 mensais (naquele ano, por causa do Plano Real, 1 real equivalia a 1 dólar!). A vida é cara em Paris. Se optasse por pagar menos, teria que morar mais distante ou em piores condições. Como não há opção sem perda, preferimos pagar mais para ficar mais perto de Paris e das futuras escolas das crianças do que ficar mais longe, com aluguel mais barato mas com maiores gastos em transportes e perdendo mais tempo para deslocamentos.
A convivência com Jacques Malezieux e André Fischer foi excelente. Embora não tivesse obrigação, acompanhei suas disciplinas no Institut de Géographie durante o semestre letivo de dezembro de 1994 a maio de 1995, participei de aulas de campo pelas áreas de industrialização fordista no norte de Paris e pela Normandia, principalmente Rouen. Pude ajudar alguns alunos franceses em preparar seminários sobre o Nordeste brasileiro, pude falar um pouco sobre o Brasil e suas contradições em uma aula para estudantes de segundo ano de Geografia. Publiquei, na revista do CRIA (Centre de Recherches sur l’Industrie et l’Aménagement), Notes de Recherches, as principais conclusões de minha tese, defendida em 1990, e algumas ideias sobre a industrialização de São Paulo. Esse tema eu expus numa das reuniões do CRIA, quando estiveram presentes alguns amigos que ficaram na França: Thierry Rebour e Jean-Paul Hubert, entre outros. Também aí estava, nesse dia, Georges Benko.
Na École de Hautes Études en Sociologie, cuja biblioteca foi, por mim, “varrida” de ponta a ponta na busca de textos que ajudassem meu projeto de pesquisa intitulado “Fluxos e localização industrial”, acompanhei o curso de Cornelius Castoriadis (que vinha sempre com seu boné marrom, de pele de castor, e seu casaco encardido pelo tempo), que falava durante exatos 110 minutos ao lado de um gravador, e deixava os últimos dez minutos para os debates. Quando completava duas horas de aula, despedia-se, levantava-se e desaparecia pela porta lateral.
Como havíamos vendido nosso velho Del Rey 84 no Brasil, com o dinheiro compramos, na França, um Citroën 85, mais barato. Com esse carro pudemos fazer inúmeras e ótimas viagens pela França, pela Espanha, por Portugal, pela Itália... segundo as contas dos filhos, visitamos, no total, quatorze países. Algumas viagens tiveram, inclusive, objetivos especiais. Fomos visitar a cidade dos ancestrais Parra e Vasquez, da Carminha, o pequeno vilarejo de Rubite, na Andaluzia, com 500 habitantes, onde não chovia havia vinte anos. Fomos visitar, no sul da Itália, mais precisamente na Calábria, a vila de onde veio meu avô Vicenzo Sposito, Cropalati. Na primeira cidadezinha, fomos muito bem recebidos, com alegria, almoço em família, muita conversa. Na segunda, apenas uma senhora, que não era Sposito mas era mulher de um deles, com sua netinha, ofereceu-nos um cafezinho e disse se lembrar, vagamente, que sua mãe falava que alguns parentes tinham ido fare l’América, há mais de quarenta anos.
Durante o período de estágio, participei de vários eventos científicos. Na França, marcou bastante o Festival de Geografia de Saint-Dié-des-Vosges, na Lorena. Nesse festival que, apesar do nome, é um evento científico, premia-se anualmente um geógrafo eminente com o prêmio Vautrin Lud. Se em 1994 havia sido laureado Milton Santos, em 1995 testemunhamos a premiação de David Harvey, cuja palestra, na última noite do evento, num auditório no alto de uma torre de estilo futurista, assistimos. Meninos, eu vi! Por causa desse evento recebi, por vários anos, correspondência da Mairie da cidade dando notícias do festival. Por isso, fiquei sabendo que o geógrafo premiado, em outubro de 2000, foi Yves Lacoste.
O TRABALHO NA GRADUAÇÃO
Ministrar aulas na graduação foi consequência direta de meu contrato com a UNESP, campus de Presidente Prudente, assinado em 20 de julho de 1980 (onde permaneci até 2 de abril de 2019, quando me aposentei, depois de 50 anos de trabalho). A atribuição de disciplinas, no Departamento de Geografia, seguiu critérios diferentes ao longo do tempo. Entre 1980 e 1987 (período aproximado), ela era definida pelos “mais antigos” e comunicada aos “mais novos”. Em outras palavras, o tempo era referência hierárquica entre os professores do departamento, critério definido pelos “mais antigos” que se davam o direito de tomar as decisões que orientavam as atividades letivas de todos. Pode se dizer, ironicamente, que “o tempo definia a posição”. Posteriormente (e resultado de uma proposta que fiz aos colegas do departamento e que foi aperfeiçoada em pouco tempo), foi elaborado um ranking para a atribuição de aulas, privilegiando, por ordem, o trabalho de docência na graduação, as publicações e as atividades de extensão e administração (três últimos anos). As aulas no nível de pós-graduação não contavam porque houve reação de vários colegas que não estavam, ainda, credenciados no Programa de Pós-Graduação em Geografia. O ranking vigeu até meados da década de 2010 quando (na minha avaliação), por força daqueles que não tinham participação na pós-graduação (mais uma vez), ele foi abolido e as aulas passaram a ser atribuídas em reunião departamental (em formato de plenária). Isso gerou algumas distorções, como a sobrecarga de alguns e a quantidade menor de trabalho de outros, voltando ao que citei anteriormente, na década de 1980: uma hierarquização pela titulação e pelo tempo de serviço. Ter critérios claros e baseados na dedicação de cada um, portanto, deixou de ser referência acadêmica.
As disciplinas que ficaram sob minha responsabilidade foram, por ordem de vezes que ministrei, Metodologia Científica em Geografia, Geografia Econômica, Evolução do pensamento geográfico, Geografia Regional do Brasil, Trabalho de campo, Geografia Urbana, Pesquisa em Geografia Humana, Espaço e indústria, e Geografia Social e Política. As disciplinas obrigatórias eram oferecidas em dois períodos (diurno e noturno) e as facultativas eram oferecidas em apenas um período, geralmente o noturno.
A interação com os alunos merece uma rápida avaliação. Quando fui contratado, tinha idade e linguagem próxima dos alunos porque trabalhava do alto de meus trinta e poucos anos. Com o tempo, o distanciamento entre mim e os alunos foi se tornando, aos poucos, maior. Se antes eu estava próximo a eles nas aulas, nos trabalhos de campo, nos churrascos e em algumas reuniões festivas, a partir do início do século XX eu não era mais próximo a eles, mas passei a ser homenageado em Semanas de Geografia. Esse distanciamento foi fator decisivo para minha aposentadoria. Não ministro mais aulas no nível da graduação, apenas da pós-graduação.
O TRABALHO NA PÓS-GRADUAÇÃO
Em 1992, credenciei-me para ministrar disciplina e orientar, no Curso de Pós-graduação em Geografia da FCT/UNESP. A disciplina, Metodologia Científica em Geografia, que ainda hoje assino (estamos em 2020), foi básica, ao longo desses últimos oito anos, para as principais ideias contidas no ensaio que apresentei ao concurso de Livre Docência e que se tornou, em 2004, o livro publicado pela Editora da UNESP, Geografia e Filosofia, meu livro mais consultado entre os que publiquei.
Os primeiros orientandos, bastante polêmicos, como José Gilberto de Souza, hoje na UNESP de Rio Claro e já livre-docente, e Adilson Rodrigues Camacho, na UNIP, em São Paulo, juntamente com o William Rosa Alves (orientando da Carminha), que foi professor na UFMG, formavam um grupo heterogêneo em busca de algum norte (ou sul) para suas dissertações. As suas dúvidas eram, mutatis mutandis, as mesmas que eu tivera quando iniciei o mestrado na USP.
Entre 1992 e 1994 exerci a função de coordenador do Curso de Pós-graduação. Por força da função, participei da CCPG (Comissão Central de Pós-Praduação), que se reunia mensalmente no prédio da UNESP, na Praça da Sé, em São Paulo. Foi uma experiência muito gratificante porque o pró-reitor de então, Antonio Manuel dos Santos Silva, dera um caráter de reflexão à sua equipe, privilegiando mais as ideias que os papéis.
Depois da volta da França, algumas dissertações foram duramente forjadas mas, outras, voltaram a dar a sensação de se ajudar um mestrando a fazer uma leitura científica da realidade. Assim, o estudo do mapa, com forte dosagem piagetiana, da Ângela Katuta, as belas descobertas feitas pela Ana Dundes em sua análise do discurso desenvolvimentista e da industrialização de Presidente Prudente, ou a análise do papel da indústria de cimento no desenvolvimento regional de Mato Grosso do Sul da Márcia Ajala de Almeida, foram excelentes dissertações.
Os orientandos do doutorado também já me deram bastante satisfação, mesmo antes das suas defesas. O trabalho com maquetes, de Mafalda Francischett, buscando uma metodologia para o ensino da Cartografia, contribui para os cursos de graduação. A análise histórica da colonização em Silveira Martins, realizada por Marcos Saquet, que realizou estágio-sanduíche na Itália, mostra a desterritorialização dos italianos de Trento e sua reterritorialização no Rio Grande do Sul. Em 2000, João Márcio Palheta da Silva, que estudou as relações de poder e a gestão do território em Carajás, passou a ser meu orientando.
A lista de orientados está detalhada no meu CV Lattes, acessível a todos na página do CNPq. Mesmo assim, posso agrupar as orientações por temas e por décadas. Na primeira década do século XX, a cidade foi estudada em diferentes recortes. No nível de mestrado, pelo recorte das cidades pequenas, o estudo de Paulo Fernando Jurado da Silva sobre a região de P. Prudente foi base para um livro que escrevemos juntos. O trabalho informal, com Marcelino Andrade Gonçalves; a migração de brasileiros para o Japão, com Denise C. Bomtempo; o ensino de Geografia, com Carolina Busch Pereira e Juliano Ricciardi Floriano Silva; a logística e os transportes, com Roberto França da Silva Junior; o pensamento geográfico, com Flaviana G. Nunes, Túlio Barbosa e Jônatas Cândido; eixos de desenvolvimento, com Cássio A. de Oliveira e Adilson A. Bordo, foram temas abordados. Mas o tema mais estudado foi a indústria, principalmente relacionada com as cidades médias; aí tive os alunos Eliane Carvalho dos Santos (estudo sobre Catanduva), Elaine C. Cícero (calçados em Birigui), Alex Marithetti (polos tecnológicos), Ítalo F. Ribeiro (Vale do Paraíba), Renan E. Borges (Uberlândia), Agda M. da Silva (tecnologia e indústria), Leandro Bruno Santos (multilatinas), Maria Terezinha S. Gomes (cidades médias e indústria), foram alguns destaques. No nível de doutorado houve, também, uma lista grande de temas que podem ser agrupados assim: na Geografia Econômica, de maneira geral, Cláudia Montessoro (trabalho informal em Anápolis), Sandra L. Videira (rede bancária), Ana C. Dundes (região de P. Prudente), Paulo F. Jurado da Silva (tecnologia). Na Geografia Urbana, José M. de Queiroz Neto (Altamira e a usina Belo Monte), Estevan Bartoli (Parintins); na Geografia da População, orientei Lirian Melchior (migração dekassegui), Adriano A. de Sousa (território e mobilidade social) e Xisto Serafim de Souza Jr. (cidade e movimentos sociais), Oscar Benítez González (Puebla, México), Yolima Devia Acosta (Villavicencio, Colômbia). Na Geografia Política, Dayana Marques (eixos de integração na América do Sul). Mas os dois temas mais estudados foram o pensamento geográfico, com Fabrício Bauab (conceito de natureza), Antonio E. Garcia Sobreira e José Vandério Cirqueira (ambos estudando a geografia libertária), Antonio H. Bernardes (tecnologia), José M. Chilaúle Langa (geografia em Moçambique) e Guilherme dos S. Claudino (o pensamento geográfico brasileiro) e, com igual densidade, a indústria: Denise Bomtempo (indústria em Marília), Edilson A. Pereira Júnior (indústria no Ceará), Leandro Bruno Santos (multilatinas), Elaine C. dos Santos (produção flexível no Brasil).
Apesar de ter orientado teses e dissertações em várias temáticas geográficas, foi a indústria e o pensamento geográfico que as orientações foram mais numerosas. Além disso, houve, também, a supervisão de vários pós-doutorados: reestruturação urbana e indústria em São Paulo (Luciano A. Furini e Clerisnaldo R. Carvalho), conceito de território (Lucas L. Fuini), cidades médias e consumo (Cleverson A. Reolon, Wagner B. Batella e Lina P. Giraldo Lozano), pensamento geográfico sobre a cidade (Rosana Salvi) e fragmentação socioespacial (Késia Anastácio Silva e Vanessa Lacerda Teixeira).
Os temas de meus orientados de mestrado e doutorado foram, também, aqueles que pautaram os estudos de iniciação científica, que chegaram ao total de 72 alunos.
O papel de orientador tem suas características específicas. Orientar é, juntamente com o mestrando ou doutorando, fazer uma leitura de um recorte da realidade com olhos e bases diferentes. A linguagem, se é fundamental para a comunicação entre as pessoas e é a mediação mais importante do ser humano com o mundo, contém problemas em suas decodificações. Um texto, ao ser lido por diferentes pessoas, transmitirá diferentes mensagens, mesmo que a intenção do autor tenha sido apenas aquela de expor suas ideias da maneira mais clara possível. No confronto entre interpretações, faz-se o debate. Fazendo-se o debate, surgem as ideias que vão permeando aquilo que chamamos de trabalho científico. Outro aspecto importante do papel do orientador são suas relações diretas com o orientando. Não é preciso se envolver com as particularidades da vida de cada um, mas é preciso fazer, também, a leitura do cotidiano do orientando para que seus problemas e euforias não interfiram na produção intelectual.
Além de orientar e de ministrar disciplinas, o trabalho na pós-graduação também solicita criatividade. Sempre olhando para a frente, em 1998, juntamente com Messias Modesto dos Passos (que adora a poeira vermelha das estradas), reunimos um grupo de 14 alunos para um trabalho de campo (pioneiro) na Europa. Depois de seis sessões de aulas teóricas, cujo tema era o título da disciplina (Globalização e seus impactos: regionalização ou (des)regionalização? que hoje vejo como inadequado para os objetivos pretendidos), partimos para o velho continente, separadamente. Eu permaneci, entre 22 de abril e 12 de maio, como professor visitante da Universidade de Salamanca. Os demais participantes desse trabalho de campo foram diretamente para Coimbra, iniciando por aí as aulas.
Durante minha estada em Salamanca, quando fiquei alojado no Palácio Fonseca, um edifício de estilo medieval que abriga visitantes da universidade, ministrei aulas para a graduação, uma palestra na Universidade de Valladolid e realizei alguns percursos pelo “casco histórico” da cidade e por áreas da província de Castela e Leão. O contato com os professores Valentin Cabero Diéguez, José Luís Sánchez Hernández e José Luís Alonso propiciou discutir o que é desenvolvimento regional, eixos de desenvolvimento e o papel político do intelectual.
As coisas foram se adensando quando os outros participantes da expedição chegaram a Salamanca, de trem, na madrugada do dia nove de maio. Alugamos um ônibus e fomos até Peña de Francia e La Alberca, ao sul de Salamanca e, partindo para a França, passamos pelos vestígios das minas de ouro romanas, pela área dos maragatos, pela cidade de León e percorremos, a pé, vinte quilômetros pelo desfiladeiro de Picos de Europa, nas Astúrias. Aí a companhia de Miguel Luengo Ugidos, com sua pressa geomorfológica, foi importante para a explicação dessa cadeia montanhosa com rochas do cambriano e do terciário.
Na França, onde eu e Messias dirigimos duas vans Renault durante dezessete dias, estivemos em Bordeaux, onde nos recebeu Pierre Laborde, que mostrou as características do aménagement do território na Aquitânia, pelas mudanças no espaço urbano, pela industrialização e pelo turismo na duna du Pilat. Em seguida, estivemos na Bretanha onde, recebidos por Robert Bariou (da Universidade de Rennes) e Françoise Le Henaff, pudemos verificar como se gere a água nas áreas pantanosas da região e a importância do sal de Guérande.
A viagem terminou em Paris, entre primeiro e sete de junho, com a ajuda de André Fischer e Jacques Malezieux, que mostraram os espaços fordistas da periferia norte e as transformações urbanas decorrentes da construção do Estádio de França (onde a nossa seleção canarinha amarelou, na decisão final, com a França, na Copa de 1998), a ville nouvelle de Cergy-Pontoise e os espaços pós-modernos do bairro La Défense.
Rever Paris (ou rêver Paris?) foi, no mínimo, agradável. Andar pelas ruas, fugir correndo da sua persistente chuva, ver o céu nublado, ver a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, utilizar o metrô, revisitar Saint Mandé, o Bosque de Vincennes, o Jardim de Luxemburgo, o silencioso Instituto de Geografia, os restaurantes italianos e chineses do Quartier Latin, a livraria da PUF, foi, mais que reconhecimento de lugares conhecidos, motivos para matar a saudade de três anos que transcorreram entre voltar ao Brasil depois do pós-doutorado e esse momento.
A teimosia continua. Em 1999, motivados por outra disciplina (Dinâmica econômica e novas territorialidades), depois de algumas sessões teóricas, eu e Carminha organizamos uma viagem pela Argentina e pelo Chile. Como ela não pôde ir incorporaram-se, ao grupo de 16 mestrandos e doutorandos, Dióres Santos Abreu e Arthur Magon Whitacker. Partimos de Presidente Prudente no dia 6 de setembro em um ônibus-leito da Viação Garcia, às sete horas da manhã.
Em Buenos Aires fomos recebidos por Horácio Bozzano. Um percurso de quatrocentos quilômetros, em um dia, pela Grande Buenos Aires, mostrou as características e a complexidade do espaço urbano daquela metrópole.
A etapa seguinte foi percorrer mil quilômetros, numa planura pampeana sem igual, entre Buenos Aires e Mendoza. Recebidos por duas geógrafas da Universidade de Cuyo, percorremos um território semiárido e, por isso mesmo, testemunha de uma beleza áspera e empoeirada.
Daí, para Santiago, foi atravessar os Andes. Depois de passar pelos trâmites burocráticos de fronteiras, fomos surpreendidos por uma nevasca e ficamos presos, durante vinte horas, dentro do edifício da alfândega chilena, no Paso de los Libertadores, a 3.900 metros de altitude, numa temperatura de 15 graus negativos. Se foi preocupante, a “aventura”, ao mesmo tempo, foi inusitada e ficou gravada na memória não a ferro e fogo, mas a neve e frio. A descida pelos Caracoles foi inolvidable.
As aulas de campo em Santiago, na descida para tocar as águas do Pacífico, a vista de Valparaíso e as imagens de Viña del Mar foram o ponto de chegada no oeste do cone sul. Durante os quatro dias em Santiago, Oscar Sobarzo (atualmente professor na Universidade Federal de Sergipe) foi incansável em nos acompanhar nas aulas, durante o dia, e nos jantares, durante a noite. Sem ele, a viagem não seria, seguramente, tão organizada como foi. Nesse trabalho de campo conhecemos dois amigos que, ainda hoje, participam da ReCiMe (Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias), da qual participo desde sua fundação, em 2006: Federico Arenas Vásquez e Cristian Enriques.
Tive a oportunidade de passar, três vezes, dois meses fora do Brasil, todas as três vezes com a Carminha, que também foi estudar e trabalhar: em Paris (em 2009) para um tempo de estudos junto à Universidade de Paris – Dauphine, em parceria com Christian Azaïs; em Coimbra (2012), em parceria com Rui Jacinto, dividindo uma casa na Vila Verde (a 20 km de Coimbra), com João Lima Sant’Anna Neto e Eda Góes; e em Lleida, na Universitat de Lleida, na Catalunha, em parceria com Carmen Bellet. Essas atividades me possibilitaram a finalização do livro sobre as cidades pequenas, que dividi com meu ex-orientando Paulo Fernando Jurado da Silva, e obter dados para pesquisa comparativa entre Lleida e Presidente Prudente que resultou em trabalho sobre o comércio e consumo nessas cidades, escrito a seis mãos, com Carmen Bellet e Maria Encarnação Sposito, que foi apresentado no evento City, urbain retail and consumption, realizado em Nápoles, em 2013.
Em algumas ocasiões de minha vida profissional pude proferir palestras e participar de atividades que considero importantes, como a abordagem da industrialização em São Paulo na Universidade de Turim, recebido por Giuseppe Dematteis e Claude Raffestin (Territorio, urbanizzazione, industrializzazione. Ricerche brasiliane e italiane a confronto.Dinamica economica dello Stato di San Paolo. Assi di sviluppo e città intermedie, 2006); a exposição da política sobre a avaliação do livro didático no Brasil para geógrafos da Universidade de Jongköping, na Suécia (Social representations and the transformations of knowledge.The evaluation of the didactic books in the Brazilian Fundamental School, 2007); um debate sobre o método científico na Universidade de Puebla, quando fui recebido por meu ex-orientado de doutorado Oscar Gabriel Giménez Benítez (2009); uma fala sobre o método científico na Universidade de La Habana, a convite de Eduardo San Marful (2011); a exposição da carreira de Milton Santos, na Universidade de Avignon, onde a equipe de Presidente Prudente foi recebida por Loïc Grasland (2010); debates em Coimbra como parte do GEOIDE - Geografia, Investigação e Desenvolvimento, grupo constituído por pesquisadores da Universidade de Coimbra e na UNESP (Estado de São Paulo: eixos de desenvolvimento, reestruturação das cidades e localização industrial, 2012); a parceria com Diana Lan, da Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, no projeto Reestructuración productiva e indústria, 2014); a apresentação dos resultados do projeto temático Lógicas econômicas e práticas espaciais contemporâneas, com a Carminha, na City University of New York, como parte da FAPESP Week (Social inequalities in middle cities: segregation, self-segregation and sociospacial fragmentation, 2018); a participação no 3rd Brazil-Japan Seminar on Cultural Environments Lifetime of urban, regional and natural systems, quando apresentei o trabalho Ther urban system, centralities and the use of urban space in middle cities in Brazil (2018), entre outras. Para registrar, até novembro de 2020, participei de 267 eventos científicos, ora como espectador, ora como convidado (em mesa redonda ou proferindo palestra), ora apresentando trabalhos.
Minhas atividades de orientação sempre foram verticalizadas pois tive orientandos da graduação, nos níveis de iniciação científica e aperfeiçoamento, no mestrado e no doutorado, seja strictu ou lato sensu. A quantificação dessas atividades dá uma noção do que tenho feito ao longo dos vinte anos na universidade.
No nível de graduação, orientei 26 trabalhos de conclusão de curso, 72 em iniciação científica, nove em aperfeiçoamento e 21 em outras atividades. No nível de pós-graduação, meus orientandos somam, até o momento, 37 no mestrado, 29 de doutorado e nove supervisões de pós-doutorado. Alguns deles foram orientados no nível da graduação (iniciação científica ou aperfeiçoamento). Na pós-graduação lato sensu, orientei cinco monografias (5).
Duas teses merecem destaque. Em 2012, a tese de Edilson Alves Pereira Junior – atualmente professor na Universidade Estadual do Ceará (Território e economia política - uma abordagem a partir do novo processo de industrialização do Ceará) recebeu o Prêmio CAPES-TESE. Por essa razão, ele recebeu verba para desenvolver uma pesquisa e eu recebi uma quantia (R$ 3 mil) para participar de evento científico. No ano seguinte, a tese de Leandro Bruno Santos – hoje docente na Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes (Estado, industrialização e os espaços de acumulação das multilatinas) recebeu menção honrosa da CAPES porque eu não poderia (como eu soube confidencialmente) ser contemplado com o mesmo prêmio em dois anos seguidos. Enfim, provincianismos decorrentes de nossa herança social de dividir os louros não levando em consideração o mérito, mas o compadrismo.
No final das contas, foram 190 estudantes (esse número pode variar, ainda) que já receberam, nos diferentes níveis de orientação, minha contribuição para a sua formação, dos quais, vários deles trabalharam em dois níveis, pelo menos. Nesse rol não estão algumas coorientações nem aqueles alunos que, orientados por outro colega, tiveram bolsa em meu nome (a essa situação, chamamos de “barriga de aluguel”).
Sobre essa relação com os alunos, os temas de monografias, estágios, dissertações e teses foram e ainda são diversificados, como já escrevi anteriormente. De maneira mais condensada, três grandes grupos podem ser identificados. Um deles pode ser definido como de ensino de Geografia. O livro didático, a formação do professor de Geografia, pesquisa-ação, metodologia de ensino da Geografia, mapas, percepção do espaço, por exemplo, foram alguns assuntos trabalhados pelos alunos. O outro bloco, com número maior de estudantes, é aquele que, mesmo tratando da indústria ou da regionalização, tem nos aspectos econômicos, sua principal transversalidade. Assim, Distrito Industrial, setor hoteleiro, vazios urbanos, tecnologia, desenvolvimento, transporte urbano, globalização, industrialização, trabalho informal, turismo, expansão urbana, autoconstrução, imigração e território, foram outros temas escolhidos pelos estudantes que pude, com eles, aprender nas práticas de orientação. A esse grupo pode ser associado o projeto temático, financiado pela FAPESP (entre 2006 e 2011), intitulado O novo mapa da indústria no estado de São Paulo, que rendeu várias orientações e um livro publicado pela Editora UNESP.
Um terceiro bloco pode ser identificado com as pesquisas e orientações ligadas à cidade. Esse direcionamento foi motivado pela participação em dois projetos temáticos (também financiados pela FAPESP) coordenados pela Carminha. Seus títulos: Lógicas econômicas e práticas espaciais contemporâneas: cidades médias e consumo (2011-2016) e Fragmentação socioespacial e urbanização brasileira: escalas, vetores, ritmos, formas e conteúdos (FragUrb), com duração prevista entre 2018 e 2023.
Alguns alunos tiveram suas pesquisas ligadas ao GAsPERR (Grupo de Pesquisa Produção do Espaço e Redefinições Regionais) (6), cuja fundação, em dezembro 1993, propiciou, para mim e para os outros colegas do grupo, uma experiência coletiva muito importante porque suas atividades, ao longo dos já transcorridos 27 anos, que teve três seminários de avaliação, oito volumes do boletim Recortes, quatro edições do banco de dados Conjuntura Prudente, dois livros contendo as memórias do grupo (Região, cidade e poder e Dinâmica econômica, poder e novas territorialidades) e três edições do Seminário do Pensamento Geográfico (1991, 1994 e 1997).
Outras atividades que considero importantes também foram desenvolvidas. Atualmente como pesquisador 1B do CNPq, trabalhei (como bolsista, desde 1992) em temas ligados à industrialização e desenvolvimento regional, sempre pautando-se pela referência da cidade e do urbano: A logística industrial, os fluxos e os eixos de desenvolvimento. Um enfoque considerando as cidades de porte médio: Redes urbanas, cidades médias e dinâmicas territoriais. Estudos comparativos entre Brasil e Cuba; Lógicas econômicas e práticas espaciais contemporâneas: cidades médias e consumo; Reestructuración productiva en ciudades medias de Argentina y Brasil; Lógicas econômicas e dinâmicas urbanas: cidades médias e localização de atividades; Commerce alimentaire et polarités urbaines: outils d ‘analyse et méthodes d’interprétation; Estratégias econômicas e dinâmicas espaciais: leitura das cidades médias pela ótica da quarta revolução industrial foram os principais.
Por sete anos e quatro meses fui coordenador da área de Geografia na FAPESP, função na qual substituí o saudoso Antonio Carlos Robert de Moraes. As reuniões semanais para examinar as demandas de bolsas (iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e jovem pesquisador) e auxílios (projeto temático, principalmente) levaram à formação de outro círculo de amigos das universidades no estado de São Paulo, nas áreas (além da Geografia) de História, Sociologia, Direito, Filosofia, Antropologia e Ciência Política. Debater os critérios para a concessão de bolsas e auxílios foi mais um aprendizado na minha vida.
Entre 2005 e 2014 participei, como coordenador da área de Geografia ou como representante desta área junto ao Ministério da Educação, do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Essa função, que resultou na avaliação dos livros comprados pelo governo brasileiro para as escolas públicas do Brasil (de ensino fundamental e médio), foi fundamental para minha carreira como forma de contribuir para uma política pública que se tornou exemplo internacional como forma de qualificação do ensino. Os livros eram avaliados anualmente por uma equipe que era composta considerando critérios que considero básicos para se trabalhar em equipe: conhecimento do temário e das teorias da Geografia, compromisso com a qualidade e com os prazos, saber trabalhar em grupo (ou seja, trabalhar em equipe) e dominar a língua portuguesa e ter noções de informática para utilizar o computador da melhor maneira possível. Esse trabalho rendeu artigos e livros que registraram as principais conclusões dessa atividade.
Fui coordenador de publicações da AGB-nacional (durante quatro anos publiquei números da revista Terra Livre – um deles comemorando os 70 anos da entidade, em 2004); fui secretário (2000-2002) e presidente da ANPEGE (2014-2015), quando organizei o XI ENANPEGE em Presidente Prudente, mais uma função importante que me possibilitou conhecer a pós-graduação em Geografia no Brasil; fui membro do Conselho do Programa de Pós-graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia; sou parecerista ad hoc de CNPq, CAPES, FAPESP, FUNDUNESP e de inúmeras revistas do Brasil e do exterior; e membro do conselho editorial de várias revistas no Brasil....
Em 2019 nasceu a Joana, loirinha, alegre, já querendo falar. Convivemos pouco com ela porque mora em Palmas, Tocantins, onde o Ítalo é professor da Universidade Federal do Tocantins e a Maria Amélia é funcionária do Tribunal de Justiça Estadual.
Fazendo uma rápida avaliação das atividades citadas acima, acho que é preciso repensar e selecionar um pouco mais o que fazer. Senão, vão faltar horas no meu dia e dias na minha semana.
Muitas atividades citadas neste texto, eu as dividi com a Carminha. Muita gente pergunta como é a vida de um casal que trabalha na mesma área e no mesmo departamento (por alguns anos na mesma sala). Não há uma resposta simples, como não é simples o nosso quotidiano. Compartilhar a vida e o trabalho não é difícil. Pelo contrário, é muito bom. Há dias em que eu não me encontro com ela na universidade. Há viagens de trabalho, há viagens de lazer. A troca de ideias é importante, mas mais importante é a elaboração de planos: desde uma mudança na decoração da casa, novas plantas no jardim, a situação de cada um dos filhos, os programas de viagens com os netos (como aquela viagem de motorhome de Blumenau a Gramado, com Otto e Theo, que moram com os pais, Caio e Fabiana, em Curitiba – ainda falta uma viagem com a Joana, que ainda tem um ano e meio), as tendências nas eleições (desde a universidade ao município e ao país – que colocou em cena um personagem negativo que, por 23 anos, não fez absolutamente nada na Câmara Federal, cujo nome não declino neste texto mas que todo mundo sabe de quem se trata), o almoço com os amigos... até o que ia fazer e estou fazendo como aposentado (desde 2 de abril de 2019, quando completei 50 anos de serviços prestados, dos quais 43 dedicados ao ensino), tudo se torna motivo para o diálogo e a continuidade do romance iniciado em 1974...
As viagens com os netos, filhos e noras realizadas foram excelentes, para a Chapada Diamantina (2000), Toscana – Itália – e Provença – França (2017), quase para Portugal (em 2020, cancelada por causa da pandemia covid-19) e outras menores. Caio, Fabiana, Otto e Theo moram em Curitiba, para onde é mais fácil o deslocamento. Ítalo, Maria Amélia e Joana moram em Palmas, no Tocantins, para onde é mais difícil ir.
EM QUALQUER PRIMEIRO DIA DO RESTO DA MINHA VIDA
Olhando para trás, relendo o relato contido neste texto, parece que nossa vida é episódica. São flashes que, como partes de uma totalidade, sobressaem-se no conjunto dos dias e das atividades exercidas no dia-a-dia. Admito, neste momento, uma certa dificuldade em articular os episódios, porque algumas “passagens” são mais valorizadas, mais detalhadas do que as outras. O tempo cronológico adquire, por esta razão, novo ritmo: um ritmo ditado pelas diferentes intensidades definidas pelo que fica mais vivo na memória. Essa diferenciação no tempo da memória define a dimensão do tempo vivido e o diferencia dos tempos cronológico, cósmico e dos outros. E essa velocidade, com diferentes ritmos, se pode ser inferida pelo relato daquilo que ficou gravado com maior intensidade, continuará tendo seus ritmos, também, quando dos acontecimentos futuros.
Mesmo aposentado, continuo trabalhando bastante, orientando nos diferentes níveis, ministrando minha disciplina sobre metodologia tanto na FCT/UNESP quanto como professor visitante na Universidade Federal de Uberlândia, campus de Ituiutaba. Em outras palavras, enquanto o tempo passa, as tarefas continuam: as aulas na pós-graduação; as orientações do mestrado e do doutorado; a produção de textos para expor as ideias (ora individualmente ora em trabalho em grupo com outros geógrafos) e contribuir com o conhecimento geográfico, a participação em eventos científicos.
Qualquer que seja a atividade que vou exercer doravante, quero ter tempo para arrumar minhas poesias, músicas e escrever alguma coisa mais livremente, lembrando de fatos da vida pessoal e de pessoas mais próximas, como faz Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Meu pai sempre contou fatos de sua vida, desde Taiaçu até seus dias como pioneiro no velho “faroeste” paulista. Estórias de imigrantes e filhos de imigrantes, de derrubadores de matas, de agricultores frustrados, de pescadores, de jogadores de futebol, de políticos... Isso já está gerando contos que estou escrevendo.
Já pude produzir e gravar quatro discos (Cenário, Meu canto geral, Viver no campo e Samba, bossa-nova e algo mais, disponíveis em plataformas digitais como Spotify, Youtube, Deezer...), registrando 47 canções que compus ao longo da minha vida. E vou continuar a fazê-lo porque há, ainda, várias músicas para registrar.
Enquanto o tempo passa, professorar é preciso; viver, muito mais ainda. Como eu acredito na transformação da matéria, algumas coisas boas ainda vão acontecer, no futuro: a consciência política das pessoas vai mudar (já estou perdendo a esperança porque o que ocorre, atualmente, no Brasil, é um dos maiores desastres políticos de todos os tempos); os dirigentes do Palmeiras vão ser mais sérios; o metrô de São Paulo terá 15 linhas, ligando todos os pontos possíveis da cidade; a ida para São Paulo será num trem de grande velocidade; as cobras e as baratas estarão extintas do planeta; a Lua ficará mais brilhante e bonita nas noites sem nuvens...
Quero, aí por esse tempo, olhar, serenamente, para filhos e netos, fechar os olhos e sentir os átomos do meu corpo, em estado plasmático, tomando direções diferentes, na velocidade impensável do big crunch, em outra dimensão, sugados pelo buraco negro da eternidade, com a certeza de ter viajado pelo sistema solar em alguns infinitesimais anos dos séculos XX e XXI.
Como Drummond termina seu autopoema, eu também me pergunto: a poesia é necessária, mas o poeta, será?
AS GEOGRAFIAS QUE ME FIZERAM (7)
O momento se mostra propício para o que proponho neste texto: fazer uma releitura de alguns textos que produzi nos momentos que considero pilares na carreira de todos os pesquisadores das universidades públicas brasileiras (tempos do mestrado, do doutorado, da titularidade e, no caso das universidades paulistas, da livre docência). Assim, as Geografias que me fizeram ficam delimitadas às etapas da formação de minha carreira porque, na medida em que foram sendo elaboradas a dissertação de mestrado, a tese de doutorado e a tese de livre docência, os produtos foram conduzidos (sem rigor excessivo) pelos temas desses trabalhos. Desde o primeiro texto apresentado em um evento científico e dois outros publicados em revista departamental, a escolha do que estudar foi pautada pelos assuntos mais candentes nas décadas em que as pesquisas foram realizadas. Nessa linha, os primeiros trabalhos escritos tiveram interface com a Demografia.
Para o mestrado, no final da década de 1970, o tema mais importante, por causa das mudanças estruturais que ocorriam no Brasil rural, era a migração, principalmente no sentido rural-urbano. Como o tema estava bem estudado, a proposta foi inverter a questão: ao invés de estudar a migração, foi escolhido explicar por que as pessoas permaneciam nas cidades pequenas. Para abordar essa questão, foi necessária uma interface com a Psicologia. A dissertação mostrou como a Geografia poderia contribuir com a construção de um conceito: horizonte geográfico.
No doutorado, na década de 1980, em que o viés da grande narrativa por meio da crítica ao modo capitalista de produção dominava os estudos geográficos, o foco foi a cidade de Presidente Prudente e, por intermédio da teoria da renda da terra urbana, estudei e expliquei como se produz, como se apropria, em que momentos e qual o papel do Estado no processo de produção e apropriação da renda fundiária urbana. Aqui, a interface fundamental foi com a Economia.
Observando a simplicidade com que o método, as categorias e os conceitos eram tratados na Geografia, para a livre docência a minha preocupação foi elaborar um estudo que mostrasse a importância desses elementos, fundamentais para a produção do conhecimento científico. A tese de livre docência foi publicada (8), posteriormente, em forma de livro e se tornou um dos livros mais vendidos da Editora UNESP, chegando a ter quatro reimpressões. Neste momento, a interface mais forte foi com a Filosofia.
Depois, para o concurso de titular, o tema da aula foi a relação espaço-tempo. A proposta foi, neste caso, de verticalizar dois conceitos-chave da Geografia, confrontando as diferentes definições elaboradas por vários autores consagrados na ciência. O texto resultante da aula foi publicado, alguns anos depois, na forma de verbete, mas sua extensão e densidade equivale, praticamente, a um artigo (9). Embora a Filosofia tenha fundamentado esse estudo, recorri, também, a uma interface com a Física.
A participação em projetos de pesquisa coletivos, as orientações em diferentes níveis (iniciação científica, mestrado e doutorado), a supervisão de pós-doutorados e a participação em eventos (principalmente quando se tratava de trabalhar um tema em mesa redonda), foram outros meios de realizar estudos sobre diferentes temas, levando a uma interface, mais recentemente, com a Sociologia.
As diferentes interfaces citadas são aquelas que privilegio neste texto.
A INTERFACE COM A DEMOGRAFIA
A Demografia foi a referência principal no início de meus estudos. Dois textos foram produzidos durante a graduação. Depois, em 1975, um estudo sobre a população urbana e rural no Estado de São Paulo levou-me a participar do primeiro evento. já em escala nacional. Foi o 7º. Congresso Nacional de Geografia, realizado em São Paulo. A motivação para ir ao evento foi decorrente dos incentivos do meu primeiro orientador na graduação, Prof. Dr. Marcos Alegre. Como eu era desenhista da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente (conhecida como FAFI), o trabalho de produzir os mapas foi consequência dos estudos na graduação e do trabalho cotidiano. O texto, publicado nos anais do evento (10), evidenciam a cartografia, ainda artesanal, produzida em papel vegetal com tinta nanquim. A descrição dos dados demográficos dos censos de 1940, 1950, 1960 e 1970 levaram às conclusões de que: “A corrida para oeste, iniciada pelo café no século XIX, foi tomando conta de todo o território paulista, evidenciando-se mais a partir de 1940, com a criação de inúmeros municípios e o florescimento de capitais regionais, acompanhando essa corrida, as estradas de ferro, convergentes à capital, sempre seguindo os espigões, num alinhamento forçado pelo traçado dos rios. O espaço ocupado, com o enfraquecimento do solo, da agricultura, deu lugar às pastagens, com as densidades rurais provando o fato, diminuindo a partir de 1980 – apenas, no oeste, as 2 regiões mais novas têm boas densidades (Alta Paulista e Alta Araraquarense) – e o aumento nos arredores da capital, evidenciando-se a grande aglomeração populacional, tnato rural como urbana.
Os pequenos centros estacionam ou regridem, acompanhando a queda da população rural, permanecendo com leve crescimento apenas os núcleos médios e com visível crescimento as capitais regionais, rodeadas de pequenos núcleos que se mantêm graças à sua influência monopolizadora, acrescidas da importância administrativa após a divisão do Estado em 11 regiões para esse fim.
As maiores aglomerações rurais, a partir de 1960, são abafadas pelo maior número de esvaziamentos rurais, sem se considerar o Vale do Ribeira, de ocupação anterior a 1940, cujo crescimento urbano foi pequeno e o rural quase estacionário.
O crescimento sensível das cidades do Vale do Paraíba, permitindo prever uma conurbação polinucleada na ligação Rio – São Paulo, acompanhando o traçado do rio, e consequentemente a via Dutra e a estrada de ferro, consequência da recente industrialização da região, motivada por sua posição estratégica” (p. 377).
(AS FIGURAS E QUADROS CONTIDOS NO TEXTO, PODEM SER VISUALIZADOS NO DOCUMENTO ORIGINAL, ENVIADO PELO AUTOR).
A INTERFACE COM A PSICOLOGIA
A migração, tema recorrente na década de 1970, motivou-me a prestar seleção para o Mestrado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), na USP, sob a
27
orientação do Prof. Dr. Armando Corrêa da Silva. A interface entre Geografia e Demografia era evidente, neste caso.
Uma primeira aproximação foi feita sobre as migrações e as pequenas cidades. Em linhas gerais, as causas das emigrações das pequenas cidades poderiam ser assim expressas:
a) posição do centro na hierarquia urbana;
b) distância do centro maior e diferenciação dessa distância por tipo de estrada ou transporte; e
c) magnitude da oferta de serviços por esse centro maior em relação à cidade pequena considerada.
Eu alertava para o fato de que, partindo de uma revisão bilbiográfica para me aproximar do tema das migrações, alguns cuidados deveriam ser tomados:
“Em primeiro lugar, ressalta a importância que a escala de enfoque tem em qualquer proposta de estudo geográfico, tanto no sentido horizontal, que é o universo de abrangência, quanto no sentido vertical, que é representado pela profundidade e especificidade da abordagem.
Em segundo lugar, o apanhado do conceito de migrações não foi - como não deve sê-lo - procurado apenas geograficamente, mas ajudado pela abordagem de outras ciências, para dar um certo caráter interdisciplinar a este trabalho, para superar a compartimentação científica do conhecimento.
Em terceiro lugar, fica a certeza de uma certa evolução no conceito de migração, não apenas no sentido da escala (...), de abrangências cada vez mais específicas, mas principalmente no sentido dos fatores considerados, que vão desde o sistema econômico até ao indivíduo que a esse sistema econômico pertencente e que dão, desde que respeitados, a conceituação mais ampla de migração: movimento de pessoas, de qualquer classe social no espaço geográfico, considerada a história do indivíduo e de sua sociedade, sua formação e o grupo mais imediata a que pertence e que a eles se condiciona”. (SPOSITO, 1983, p. 41)
Mas insistir em estudar um processo (migratório) que pautava muitas dissertações e teses, não me pareceu convincente. Era preciso pensar em algo diferente. Foi a sagacidade do orientador que, nas primeiras sessões de orientação, sugeriu-me inverter a questão como ela estava posta na universidade: ao invés de estudar por que as pessoas migram, por que não procurar entender por que elas permanecem nas cidades, principalmente nas cidades pequenas? Estava lançado o desafio a partir de um tema novo (e inovador) porque não havia, num tempo imediato, base teórica conhecida nem metodologia adequada.
A utilização da teoria dos dois circuitos da economia urbana, elaborada por Milton Santos foi importante para compreender a dimensão econômica das cidades pequenas que eu estudava naquele momento (Pirapozinho e Álvares Machado, no estado de São Paulo) e as situações de emprego, renda, mobilidade e lazer das pessoas. Por meio da aplicação de 500 questionários nas duas cidades, essas referências, depois de tabuladas, foram importantes para a formação do horizonte geográfico conformado no cotidiano das pessoas. Antes, foi preciso identificar, nas cidades, as características dos dois circuitos da economia urbana. O resultado foram vários mapas, então conhecidos como mapas das funções urbanas. Um deles está representado na figura 3.
A solução foi a interface com a Psicologia. Depois de comparar as possibilidades entre as três grandes correntes da Psicologia (piagetianismo, behaviorismo e gestaltismo) por meio da interlocução com outros profissionais, optei pela corrente da Gestalt porque ela tinha, como referência principal, a forma. E a forma já era uma categoria importante para a Geografia, como mostrou Milton Santos posteriormente (11).
Foi preciso, então, recorrer à Psicologia. Utilizei a teoria de campo de Lewin para analisar a localização do indivíduo. Ela “depende também dos níveis de realidade e irrealidade que se modificam à medida que a idade avança. [...] Esses níveis permitem a movimentação do indivíduo dentro do espaço vital – ou de seu espaço geográfico – cuja posição” determina:
a) a qualidade de seu meio imediato;
b) que tipos de regiões psicológicas são adjacentes à presente região, isto é, que possibilidades o indivíduo tem para seu próximo passo.
c) que passos têm o significado de uma ação em direção ao objetivo e que passos correspondem a uma ação afastando-se do objetivo (LEWIN, 1968, p.279, apud SPOSITO, 1983, p. 76).
fui buscar, de maneira rápida e objetiva, na Wikipedia, algumas características da Psicologia da Gestalt:
“A gestalt, ou psicologia da forma, surgiu no início do século XX e (...) trabalha com dois conceitos: super-soma e transponibilidade. Um dos principais temas trazido por ela é tornar mais explícito o que está implícito, projetando na cena exterior aquilo que ocorre na cena interior, permitindo assim que todos tenham mais consciência da maneira como se comportam aqui e agora, na fronteira de contato com seu meio. Trata-se de seguir o processo em curso, observando atentamente os ‘fenômenos de superfície’ e não mergulhando nas profundezas obscuras e hipotéticas do inconsciente – que só podem ser exploradas com a ajuda da iluminação artificial da interpretação. De acordo com a teoria gestáltica, não se pode ter conhecimento do ‘todo’ por meio de suas partes, pois o todo é outro, que não a soma de suas partes: ‘(...) A+B não é simplesmente (A+B), mas sim, um terceiro elemento C, que possui características próprias’. Segundo o critério da transponibilidade, independentemente dos elementos que compõem determinado objeto, a forma é que sobressai: as letras r, o, s, a não constituem apenas uma palavra em nossas mentes: ‘(...) evocam a imagem da flor, seu cheiro e simbolismo - propriedades não exatamente relacionadas às letras.’" (Wikipedia, 2019, acesso em 19/9/2019).
Sobre o conceito de espaço vital e de lugar, eu já alertara na dissertação:
“Não se deve confundir os conceitos psicológico de espaço vital e geográfico de lugar. O primeiro diz respeito aos impulsos, à história e à reação do indivíduo no espaço geográfico, e o segundo diz respeito ao meio natural e cultural que define a 1oca1ização e por extensão a existência da sociedade. Apesar disso, num espaço da pequena cidade, onde a noção sociológica de comunidade está constantemente presente e constantemente atingida pelos impulsos uniformizadores - diferenciadores do sistema capitalista, quando esse espaço é considerado em si como lugar, abriga a noção de espaço vital como o grande espaço de atuação cotidiana do indivíduo. A separação, então, entre os dois conceitos, estabelecida didaticamente, torna-se pequena e até desaparece em certos casos individuais ou mesmo se distancia mais em outros casos, mas não perde o sentido na análise, pois ela é necessária para o entendimento do dinamismo da população dos centros urbanos estudados”. (cap. III).
Sobre as migrações e seu papel no sistema capitalista, quero destacar um esboço teórico que fiz e que acho, mesmo distante no tempo, ainda atual do ponto de vista do estruturalismo marxsta, inspirado na teoria dos dois circuitos da economia urbana de Milton Santos:
“O sistema capitalista, ao se organizar através desses impulsos, não se organiza num lugar especificamente, mas procura distribuir, de acordo com suas adequações, os indivíduos com as funções do momento por todo o território de atuação, eliminando, em muitos casos, uma rugosidade considerável que divide as partes do território (...).
Voltando um pouco para realimentar a conclusão da discussão, deve-se ter em mente o seguinte: os níveis são definidos pelas atividades dos indivíduos e pelas funções das formas, figurações particulares do movimento. E o indivíduo, como forma, está nos diferentes níveis definidos pelas funções das formas. O indivíduo, no momento em que exerce uma atividade, exerce o movimento e, como a forma é uma figuração particular do movimento, o indivíduo também aparece como forma, pois exerce essa atividade. O indivíduo, neste sentido, não está analisado como antropóide uniforme nem sem os dotes naturais do ser humano, mas como agente, consciente ou inconsciente, do sistema capitalista a que pertence. Daí que as funções são o papel exercido dentro de um sistema pelas formas, traduzidas opostamente na cidade e no campo, que dão a estrutura do espaço. As formas estão no espaço; são, portanto, geográficas, pois são a manifestação da interação do homem com a natureza e dos homens entre si. As funções não são geográficas; no entanto, ao se localizar nas formas, e ao mudar de forma ou de lugar e forma, movimentam-se no espaço e fazem parte do espaço. A função da forma está associada ao indivíduo, ao ser que nela se insere. O movimento da função no espaço, mudando de forma e/ou de lugar, é também sua migração; é a migração do indivíduo. Desta maneira, a migração obedece às necessidades da forma exercer sua função. Essa função é determinada, completando o raciocínio, pela divisão do trabalho dada, inicialmente, pela produção de bens necessários para suprir as necessidades naturais do homem - naturalmente surgidas e posteriormente multiplicadas - depois pela relação de propriedade tanto da natureza como dos valores artificiais criados pelo homem”. (cap. I) Mais tarde, Gaudemar teorizou a migração a partir da pessoa como continente da força de trabalho, o que, mesmo sendo de difernte interpretação, está baseada no fato da força de trablaho ser um atributo do indivíduo.
Essas ideias estão superadas do ponto de vista da interpretação e da escala, mas principalmente porque o “êxodo rural” ou a migração a partir das pequenas cidades não são um fato migratório predominante, mas do ponto de vista do marxismo estruturalista, elas continuam valendo.
A INTERFACE COM A ECONOMIA POLÍTICA
No doutorado, a interface com a Economia Política marcou outro prisma das Geografias que me fizeram.
O foco de estudo seria a cidade de Presidente Prudente que, já enfocada pelas dinâmicas da habitação, dos transportes e da verticalização, passou a ser analisada por meio da segregação urbana e da apropriação da renda fundiária urbana. Autores como Karl Marx, como seria óbvio, mas Christian Topalov, Tom Bottomore, Jean Lojkine, Samuel Jaramillo, José de Souza Martins e Ariovaldo de Oliveira auxiliaram na compreensão dos três tipos de renda que, até o momento, são os esteios da teoria. Mesmo que seja difícil a sua apreensão empiricamente, na atualidade, há outras ferramentas teóricas para esse fim, como é a proposta da renda absoluta diferenciada (proposta por Rebour, 2000).
De Topalov, no que concerne à renda diferencial, temos a seguinte afirmação: “a renda diferencial é um efeito do preço. Quanto ao preço, é um efeito do custo, mais precisamente da configuração dos custos individuais e do processo de sua transformação num único custo social pela concorrência (p. 95).
Por isso, “como a exploração capitalista da cidade tem por base material a produção de edificações (...) segundo a localização dos terrenos, a taxa de lucro interna da operação variará, a preço uniforme de venda do produto, porque os custos localizados de produção do terreno construtível variarão” (TOPALOV, 1984, p. 97)
Estava lançado o desafio: verificar, em Presidente Prudente, a massa de terrenos vazios, localiza-los no território urbano e confrontar seus preços com outras referências, como os estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, e as áreas não loteáveis (parques, áreas públicas, praças etc), além de verificar como se dava, ao redor da cidade, a apropriação das grandes glebas loteáveis, o que levou-me a deduzir que a cidade de Presidente Prudente era cercada por um ”muro” (lembrando as cidades medievais) que a cercava, mas neste caso o ”muro” era constituído pelas glebas apropriadas por poucos proprietários que decidiam, de acordo com suas expectativas de se apropriar da renda da terra, o momento de lotear parcelas das glebas, transformando-as em terra urbana, fazendo com que seu preço aumentasse, nominal e imediatamente, de oito a dez vezes o preço do metro quadrado. A expansão da quantidade de terrenos vazios nas bordas da área loteada da cidade era acompanhada (legalmente) pela modificação do perímetro urbano, instrumento político municipal de regulação do crescimento da cidade que obedece, no caso da cidade citada, às expectativas dos grandes proprietários de glebas loteáveis.
A localização, a construtibilidade (condições geomorfológicas do terreno como declividade, resistência às construções; condições econômicas, como ser de esquina, forma do lote, tamanho) e as externalidades decorrentes de sua localização (processos de parcelamento do solo urbano, densidade de ocupação do bairro, proximidade de grandes centros de compra etc) foram fatores considerados para a explicação da produção da renda fundiária urbana em Presidente Prudente.
Jaramillo (1982) acrescenta alguns fatores importantes para se entender a produção da renda fundiária urbana: 1) processo de consumo do espaço construído da relação com a atividade comercial; 2) segregação sócio-espacial da cidade; 3) custos para apropriação e consumo habitacional; 4) delimitação de zonas industriais” (p. 42). Desse autor, eu trouxe a ideia de renda imobiliária sem desenvolver com mais profundidade. Essa ideia foi, nos últimos anos, “ressuscitada” por algumas pessoas, que não cabe aqui nominar com detalhes, como se fosse uma grande novidade teórica para se compreender a produção imobiliária na cidade, mas visando a metrópole.
A renda absoluta existe porque existe a propriedade da terra. Essa insofismável condição faz com que a terra, limitada na superfície do planeta, seja apropriada por um número pequeno de pessoas que submetem os outros à condição de não-proprietários. Esse aspecto é tão importante que, para verificar como se dá posse da terra urbana em presidente Prudente, busquei, nos jornais, durante uma década, os preços dos terrenos à venda, considerando aqueles proprietários que tinham mais que um terreno. O pressuposto era de que, com um terreno, o proprietário está exercendo seu direito de morar, de existir, e não de especular com a mercadoria solo. Quem tem mais de um terreno, tem aquele necessário para sua sobrevivência na cidade, mas tem, em suas mãos, uma mercadoria que pode auferir renda no ato de compra e venda.
Com esses passos, estavam lançadas as bases teóricas para a verificação empírica da produção e apropriação da renda. Mesmo assim, ainda quero lembrar que, mesmo que a propriedade do solo seja uma condição inata ao modo capitalista de produção, ela apresenta alguns obstáculos ao capital. Fui buscar em Harvey (1980) esses obstáculos:
1. O solo e a mercadoria têm localização fixa. A localização absoluta confere privilégios de monopólio à pessoa que tem os direitos de determinar o uso nessa localização. É atributo importante do espaço físico que duas pessoas ou coisas não possam ocupar exatamente o mesmo lugar, e esse princípio, quando institucionalizado como propriedade privada, tem ramificações muito importantes para a teoria do uso do solo urbano e para o significado do valor de uso e do valor de troca.
2. O solo e as benfeitorias são mercadorias as quais nenhum indivíduo pode dispensar (...). Não posso viver sem moradia de nenhuma espécie.
3. O solo e as benfeitorias mudam de mãos relativamente com pouca frequência.
4. O solo é algo permanente e a probabilidade de vida das benfeitorias é muitas vezes considerável. O solo e as benfeitorias, e os direitos de uso a ela ligados, por isso, propiciam a oportunidade de acumular riqueza.
5. A troca no mercado ocorre em um momento do tempo, mas o uso se estende por um período de tempo.
6. O solo e as benfeitorias têm usos diferentes e numerosos que não são mutuamente exclusivos para o proprietário (p. 135-136).
Com esses atributos, o solo e sua apropriação se, por um lado, são fundamentos básicos do sistema capitalista, por outro lado tornam-se obstáculos para a formação da renda, principalmente no momento em que a renda pode ser auferida, o que depende de uma relação social, que é o ato de compra e venda.
Mais uma vez, a linguagem cartográfica foi necessária. Ainda sem o domínio do computador, que estava entrando como ferramenta nas pesquisas dos geógrafos, tive que esboçar e desenhar todos os mapas utilizando o papel vegetal e a tinta nanquim. Ainda estávamos iniciando a última década do século XX.
Na minha opinião, a contribuição que trouxe, com a tese, foi explicar, baseando-me tanto em dados empíricos quanto da teoria da renda, que a cidade é produzida em um movimento de diástole (eufemismo necessário naquele momento) que ocorria quando os proprietários ou incorporadores decidiam por expandir o número de lotes vazios na cidade. Para isso, algumas áreas tinham maior apelo que outras. No caso de Presidente Prudente, as zonas sul e oeste eram “a bola da vez”. A terra rural, transformada em terra urbana nessas áreas, exprimiam-se me valores muitas vezes maior do que o metro quadrado das glebas em outras áreas da cidade.
Alguns raciocínios foram catalisadores da dinâmica imobiliária (respeitante a mercadoria lote produzido) em Presidente Prudente: 1) “A dinâmica do mercado fundiário e, portanto, o crescimento territorial da cidade faz-se sob a lógica da produção monopolista” (1,35% dos habitantes da cidade tinham, em suas mãos, 56,3% dos lotes vazios na cidade de Presidente Prudente); 2) “o solo urbano (...) emerge, para a classe dos proprietários de solo, como reserva de valor (...). Concomitante e contraditoriamente, o solo é também continente da renda capitalizada que se realiza no ato de compra /venda; 3) monopolização do território baseada na propriedade como reserva de valor (...) forma a estrutura (...) que vai determinar a dinâmica própria da expansão da malha urbana” (SPOSITO, 1990, p. 141).
Destaco, também, a apropriação da renda pelo poder público via IPTU que se realiza pela transferência de ramo da mais-valia social quando se torna salários dos funcionários públicos. Por outro lado, o poder público também pode utilizar essa arrecadação para exercer seu direito de evicção nos processos de desapropriação de áreas urbanas, fazendo com que elas possam “voltar” para a população da cidade.
Eu afirmei, nas conclusões, que “a renda do solo realiza-se em sua forma absoluta, quando a base mais clara é propriamente a garantia da propriedade privada; na forma diferencial, quando se evidenciam suas relações de localização e construtibilidade; e na forma de monopólio, que muitas vezes se confunde com a diferencial, quando a segregação espacial é estimulada e assumida pelo consumidor do espaço urbano” (SPOSITO, 1990, p. 144).
Por outro lado, “se, em sua forma plena, a propriedade privada, pelo fato de ser continente de capital, imobiliza-o, transformando-se em obstáculo para sua reprodução, quando objeto de especulação liberta-o desse caráter de obstáculo, permitindo sua realização crescente”.
Para concluir, a apropriação da renda fundiária ocorre quando: 1) ocorre o loteamento urbano, transformando a terra rural em terra urbana; 2) pelo recolhimento dos tributos municipais, pelos investimentos públicos em áreas selecionadas da cidade; 3) o papel dos investimentos públicos em áreas diferenciadas da cidade; 4) pela transferência de ramo de parte da mais-valia social (SPOSITO, 1990, p. 146). A apropriação da renda se dá em escala individual (quando ocorre a venda do lote), mas no nível da economia urbana, é “posterior ou concomitante aos períodos de expansão da malha urbana” e, considerando o mercado fundiário, é quando “ocorrem mudanças conjunturais na economia em escala nacional” e, em termos de magnitude, é determinada pela transformação da terra rural em terra urbana ou pela diferença de preço entre o momento de produção do solo, dependendo da localização e da taxa de juros vigente no mercado (p. 147).
Acredito que, com esse estudo, lancei bases para a análise, compreensão e explicação da dinâmica fundiária urbana, sugeri uma metodologia adequada para o estudo da cidade e encontrei uma fonte simples, mas eficaz, para a obtenção da informação geográfica necessária e suficiente para esse tipo de estudo. Todos esses elementos (dos três últimos parágrafos) conformam uma teoria da produção e apropriação da renda fundiária urbana.
A CHEGADA NA FILOSOFIA
Desde o tempo das leituras para a tese, alguma coisa me incomodava, tanto nelas quanto nas conversas que ouvia de geógrafos. Os meus mestres não me alertaram para a importância do método, por isso fui observando que havia confusão (ou, no mínimo, despreocupação) com palavras científicas fundamentais, como método, conceito e categoria. Era preciso, ao meu ver, dar atenção a essa questão fundamental na Geografia porque ela se pretendeu, sempre, como conhecimento científico. A Geografia deu uma guinada importante quando, mais do que procurar seu objeto (que permeou toda a produção d “geografia tradicional”
Começando pelo método, depois de apresentar várias definições trazidas por vários filósofos, e considerando aquilo que estava ora implícito, ora explícito em inúmeras obras, cheguei à proposta de mostrar que há três métodos que comportam todas as ciências e por elas podem ser utilizadas porque dão conta da orientação, ao cientista, na construção do conhecimento científico. Não era, portanto, apenas uma questão semântica, mas de clareza e conteúdo.
O método hipotético-dedutivo representa o que decorreu da proposta cartesiana do método científico. Esse método fundamenta-se na formulação de hipóteses, no exercício do trabalho empírico, na formação das explicações (tanto do ponto de vista dedutivo, do geral para o particular, quanto indutivo, do particular para o geral), e na perspectiva da elaboração do conhecimento como utilidade e possibilidades de previsão. Mesmo que nem sempre se encontre correspondência perfeita entre experimentos e observações, por um lado, e deduções, por outro, a importância desse método reside no fato de que ele abriu caminho para a dessacralização da natureza (aí compreendido o corpo humano) e da certeza de que o conhecimento poderia ser cumulativo porque uma das técnicas utilizadas é a anotação da experimentação e a linguagem matemática.
Por isso mesmo, a doutrina que se fortalece com esse método é o positivismo, até início do século XX e, a partir daí, o neopositivismo. A contribuição de Popper, produto do Círculo de Viena, recuperou a discussão de que a ciência tem uma única linguagem, a matemática. As dificuldades em representar o mundo real é uma dificuldade para o cientista social porque depende da experiência. Assim, seria difícil determinar se um enunciado é verdadeiro ou não pois, se não for verdadeiro, não terá nenhum significado, chegando à conclusão de que a indução não existe. Popper, então, afirma que “um sistema como empírico ou científico se ele for passível de comprovação pela experiência”. Seguindo esse raciocínio, eu afirmei que “a verificação das verdades científicas e o dimensionamento do progresso da ciência só poderão ser feitos através do critério de demarcação que ele chama” de “falseabilidade de um sistema”. Por essa razão, “para ser legítimo, um sistema científico terá que ser validado “através do recurso a provas empíricas, em sentido negativo: deve ser possível refutar, pela experiência, um sistema científico empírico” (p. 42) (12). Em resumo, o método hipotético-dedutivo caracteriza-se pela busca da informação por meio do experimento que se torna verdadeiro se não for falseado, permitindo acúmulo do conhecimento e previsibilidade por meio da ciência. Elaborei, para mostrar a importância da técnica (e da linguagem matemática) sobre o pesquisador, a seguinte representação: Sujeito < Objeto, mostrando que o sujeito se torna menos significativo que a abordagem do objeto, que dependia, também, das convenções elaboradas socialmente, como as medidas, as descrições e a forma de apresentação dos resultados.
O método analítico-dialético tem suas raízes na dialética de Aristóteles, que descobriu que o ser humano tem imaginação e que, invertendo as preocupações socráticas e platônicas (debruçados nas formas eternas ou nas ideias, afastando-se do mundo dos sentidos, para quem as ideias eram mais reais que os fenômenos naturais), deu ênfase no conhecimento empírico por meio da especulação da natureza. Seus ensinamentos eram peripatéticos e, ao invés de professar que o conhecimento era inato e seria necessário, por meio da linguagem, que a pessoa falasse para dar à luz seu próprio conhecimento (um dos atributos de sua alma), Aristóteles partia da observação, classificação, comparação e análise para elucidar o que era conhecimento; ele deu força aos sentidos para produzir conhecimento. Como afirmou Gaarder (1995), a realidade é composta, pela ótica aristotélica, “por diferentes coisas que, tomadas separadamente, são elas próprias compostas de forma e de matéria” (p.126-130).
Hegel faz uma releitura de Aristóteles, trazendo para o plano das ideias sua dialética que, mais tarde, tem leitura revertida por Marx e Engels, que a utilizam para explicar o desenvolvimento da sociedade sob a ótica do materialismo histórico. A dialética é retomada com a ideia de confronto de ideias que se interpenetram, fazendo com que as negações não sejam antinomias mas aspectos que se complementam, levando em conta a historicidade do mundo e a possibilidade de, no processo de conhecimento, buscar-se sempre elevar seu patamar de abstração a um nível mais amplo e com maior compreensão. As leis da dialética estão aí expostas de maneira simplificada. Os sentidos são fundamentais para a produção do conhecimento porque todo conhecimento é humano.
Esse embate histórico levou a uma classificação das divergências: Hegel permaneceu com a dialética idealista e os estudos de Marx e Engels e todos aqueles decorrentes de suas proposições, ficaram conhecidos como da dialética materialista (baseada no pressuposto de que a matéria vem antes da ideia porque esta é decorrente daquela e não o oposto, como professava Engels).
Em resumo, repetimos o que afirmou Lencioni (1999): “Karl Marx e Friedrich Engels conceberam o método materialista dialético, que contém os princípios da interação universal, do movimento universal, da unidade dos contraditórios, do desenvolvimento em espiral e da transformação da quantidade em qualidade” (p. 159). O conceito de práxis torna-se fundamental para o entendimento da dialética como método.
A representação que elaborei para representar a relação sujeito e objeto é a seguinte: Sujeito > < objeto. Esta alegoria mostra a relação dialética entre aquele que produz conhecimento e aquilo que é estudado. Nessa relação, sujeito e objeto se transformam mutuamente, no tempo, a partir do momento que interagem no processo de produção do conhecimento.
Mas utilizar o método não é tarefa fácil nem é resultante de um receituário que se encontra na universidade. O uso do método é complexo porque ele ocorre, plenamente, quando se torna o caminho para a investigação científica em toda sua plenitude. Frigotto (1989), por exemplo, enuncia alguns pontos que merecem atenção na pesquisa em ciências sociais no meio universitário: - “há uma tendência de tomar o ‘método’ como um conjunto de estratégias, técnicas, instrumentos; - “a teoria, as categorias de análise, o referencial teórico, por outro lado, aparecem como uma camisa-de-força; - “a falsa contraposição entre qualidade e quantidade” é resultado de “uma leitura empiricista da realidade e a realidade empírica”; - é preciso pensar na dimensão do sentido “necessário” e “prático das investigações que se fazem nas faculdades, centros de mestrado e doutorado” (p. 83).
O terceiro método (não em termos hierárquicos, mas apenas numa sequência aleatória) é o fenomenológico-hermenêutico. Para mim, é o método de mais difícil apreensão pelos pesquisadores porque ele depende, em primeiro lugar, da exposição das ideias elaboradas na pesquisa por meio da linguagem (composta, complexa e compósita) que não é, necessariamente, um meio de fácil transmissão do conhecimento (o senso comum e o conhecimento religioso podem mutilar o conhecimento científico e filosófico, por exemplo). Ele foi proposto, sob a denominação de fenomenologia, por Husserl que fazia a crítica a toda razão especulativa e idealista. Nestas duas denominações, ele criticava o materialismo histórico por sua forte componente ideológica (porque os escritos de Marx e Engels engendraram revoltas e movimentos de reação dos não proprietários do capital contra os proprietários do capital) e o idealismo por ser apenas o respaldo de ideias que não tinham fundamento científico.
Nunes (1989) afirma que “o projeto fenomenológico se define como uma ‘volta às coisas mesmas’, isto é, aos fenômenos, aquilo que aparece à consciência, que se dá como seu objeto intencional”. Neste ponto, destaco um elemento fundamental para o método fenomenológico-hermenêutico: o conceito de intencionalidade. Esse conceito “ocupa um lugar central na fenomenologia, definindo a própria consciência como intencional, como voltada para o mundo” (p. 88).
Então: considerando a intencionalidade do cientista, para Husserl, a fenomenologia seria o meio de superar a oposição entre realismo e idealismo. É o modo de ser do eu-pensante que deveria ser revelado. A observação, a descrição e a organização das ideias tornam-se os passos metodológicos para esse método. Além disso, a realidade se revelava por meio da redução fenomenológica. Essa estratégia metodológica significa incorporar a experiência do sujeito na produção do conhecimento, na sua relação com o objeto, o que se torna autêntico nessa visão. O mundo é o objetivo e a apreensão dele se faz por meio do pensamento, ou seja, na redução fenomenológica. Mesmo assim, ainda, o mundo é uma abstração. Por isso, esse método se torna útil para os estudos de grupos sociais, com estratégias como a vivência do objeto, a pesquisa-ação, do inter-relacionamento entre sujeito e objeto que, cada um a seu modo, são constituídos por sua própria realidade. O cientista apreende a realidade, portanto, pensando alguma coisa. A figura do pesquisador executa a redução do fenômeno para sua abordagem.
Uma crítica que se faz a esse método é a força da explicação científica. Como é por meio da linguagem que se transmite o conhecimento, como se convence um outro de que o que se expõe é realmente científico?
A alegoria a esse método é a seguinte: Sujeito > objeto. Ela significa a redução fenomenológica e a supremacia do sujeito em relação ao objeto porque este é apreendido a partir da abstração daquele.
Em defesa desse método, comecei a ver, há alguns anos, o crescimento do seu uso (mesmo que, em muitos casos, de maneira simplificada e reducionista) na valorização da pesquisa qualitativa. Nos tempos que podem ser classificados de pós-modernos, quando as grandes narrativas perdem força (embora não desapareçam), as miradas às pessoas, com o fortalecimento da Psicologia e da Filosofia em seus aspectos especulativos, fazem com que a proximidade entre sujeito e objeto e os estudos em escalas locais, de grupos sociais, da pessoa em si, das percepções sociais e outras questões postas em pauta, podem ser a explicação para esse fortalecimento.
Talvez eu tenha que, a partir disso, repensar e revisitar o conceito de horizonte geográfico que, na minha dissertação, elaborei na interface com a Psicologia.
Acredito que outra contribuição que eu trouxe para a geografia foi a necessidade de se ter cuidado com a utilização das palavras conceito e categoria. Não foi resultado das leituras geográficas, mas da interface com a Filosofia. Sobre o conceito, embora eu tenha estudado várias contribuições, foi em Deleuze e Guattari (1992) que encontrei a definição suficiente para ele: “não há conceito simples” porque ele contém algumas características: - “todo conceito tem componentes e se define por eles”, - “todo conceito tem um contorno irregular”, - o conceito é questão de articulação, corte e superposição, é um todo, porque totaliza seus componentes, mas um todo fragmentário”. Além de tudo, “todo conceito remete a um problema”, e os problemas exigem “soluções” pois “são decorrentes da pluralidade dos sujeitos, sua relação, de sua apresentação recíproca” (p. 27-28). Aí estava o suficiente para mostrar a importância, a dimensão e a necessidade de se olhar o conceito como ele é cientificamente, diferenciando-o da ideia e da noção. Diferentemente da categoria, o conceito é uma noção abstrata ou ideia geral, resultado do intelecto humano. Em outras palavras, o conceito não é algo que sempre existiu, mas é construção por meio da especulação científica ou filosófica que se torna um elemento explicativo contido em uma teoria.
A categoria, por outro lado, é a essência ideal da realidade. Ela existe independentemente da produção científica. Ela é componente que não depende do pensamento para existir. Ela está na unidade do método e do discurso. Aristóteles elencou dez categorias (sem as quais não se compreenderia a realidade): sujeito (substância ou essência), quantidade, qualidade, relação, tempo, lugar, situação, ação, paixão e possessão.
Kant elaborou um quadro com 16 categorias que se inter-relacionam em todas as direções e sentidos, complementando-se e se negando.
Cheptulin (1982, p. 258) afirma que a dialética tem as seguintes categorias: matéria e consciência, singular, particular e universal, qualidade e quantidade, causa e efeito, necessário e contingente, conteúdo e forma, essência e fenômeno, espaço e tempo. Observe-se que, com exceção da relação entre singular e universal, as categorias aparecem como pares dialéticos. Nesta lista, há quatro categorias “bem geográficas”: espaço e tempo, conteúdo e forma que, como elementos básicos da realidade, conformaram a proposta de método de Milton Santos (1985): o método seria ancorado nas categorias processo e conteúdo, forma e função.
À categoria e ao conceito juntam-se, no debate dos métodos, lei, teoria, doutrina e ideologia. Não vou discorrer sobre esses elementos do método neste texto. Deixo ao leitor a consulta ao livro Geografia e Filosofia (v. referências).
Para completar a análise do método, quero enfatizar uma mudança paradigmática fundamental que ocorreu, grosso modo, na ebulição do Renascimento europeu. A preocupação, quando do domínio da razão religiosa na Idade Média era explicar por que o mundo existe. Sua origem divina, negando a ideia de caos (a primeira divindade) de Hesíodo, cujas bases para entendimento do mundo era a natureza, como ela se apresentava aos sentidos, engessou a capacidade humana de ir além da obediência e da oração. Quando a pergunta se transforma em como (Como o mundo funciona? Qual a mecânica do universo e como ela pode ser apreendida pela razão?), a revolução no pensamento humano e, portanto, o lançamento das bases da ciência moderna estava dado. A dessacralização do corpo humano (estudos de anatomia humana, descoberta da lógica da corrente sanguínea etc.); a descoberta da perspectiva; a elaboração das leis da mecânica celeste; a descoberta da gravidade universal; a invenção da caravela acelerando as navegações para mares nunca dantes navegados; o uso da pólvora, inventada pelos chineses; a invenção da imprensa, que permitiu a divulgação dos escritos em sua forma original para todas as pessoas, diminuindo a importância da transmissão seletiva ou oral do conhecimento, entre tantos outros fenômenos consideráveis, foram fundamentais para revolucionar o pensamento científico, as artes, a educação, enfim, a visão de mundo se transformou radicalmente.
É importante essa constatação: a mudança de uma pergunta (aqui, mostrada de maneira bem simplificada) provocou a mudança de paradigma e isso provocou uma revolução na forma da humanidade pensar e de produzir conhecimento. Esse fenômeno não pode ser negligenciado por aqueles que pensam a ciência, mesmo que pelos prismas da Geografia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não quero concluir com ideias definitivas. Desde o primeiro parágrafo minha intenção foi abrir o diálogo com o leitor para a releitura de um exemplo (ou uma possibilidade) de produção do conhecimento geográfico intermediado pela inter e pela transdisciplinaridade, retirando a Geografia e o método científico de seus grilhões disciplinares. Mesmo assim, ficou claro que, desde o primeiro texto, ainda nos tempos da graduação em Geografia, teve como principal preocupação a cidade. Desde a cidade pequena, objeto no mestrado à cidade média, no doutorado, outros projetos (muitos trabalhados coletivamente) tiveram esse recorte da realidade brasileira como foco principal. Uma vez na interface com a Psicologia, outra com a Economia Política, aspectos da Demografia permeando vários trabalhos, a Filosofia entrando em cena na livre docência e na prova didática do concurso de titular, eis a cidade presente nas minhas preocupações. Ela veio, ficou e ainda continua ali, no horizonte próximo.
Para terminar, quero registrar que, como nosso ambiente de trabalho é a universidade e o laboratório da Geografia é o mundo, a linha interpretativa que segui, neste texto, mostrou a multiplicidade de possibilidades de se produzir ideias, realizar análises, esboçar explicações, propor delineamentos teóricos e, acima de tudo, contribuir com a interpretação do mundo.
REFERÊNCIAS
CHEPTULIN, Alexander. A dialética materialista: categorias e leis da dialética. São Paulo: Alfa-Ômega, 1982.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é Filosofia? São Paulo: 34, 1992.
FRIGOTTO, Gaudêncio. O enfoque da dialética materislista histórica na pesquisa educacional. In: FAZENDA, Ivani (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 1989. p. 69-90.
JARAMILLO, Samuel. El precio del suelo y la naturalez da sus componentes. Bogotá, 1982 (mimeog.).
LEFEBVRE, Henri. Lógica formal/lógica dialética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983.
LEWIN, Kurt. La teoria del campo em la ciencia social. Barcelona: Paidós, 1968.
NUNES, César A. Aprendendo Filosofia. Campinas: Papirus, 1989.
REBOUR, Thiery. La théorie du rachat: Géographie, Économie, Histoire. Paris: Publications de la Sorbonne, 2000.
SANTOS, Milton. Espaço & método. São Paulo: Nobel, 1985.
SPOSITO, Eliseu S. Espaço. In: SPOSITO, Eliseu S. (org.). Glossário de Geografia Humana e Econômica. São Paulo: Editora Unesp, 2018, p.
SPOSITO, Eliseu S. Geografia e Filosofia. São Paulo: Editora Unesp, 2004.
SPOSITO, Eliseu S. Migração e permanência das pessoas nas cidades pequenas. Os casos de Pirapozinho e Álvares Machado na Alta Sorocabana. USP/FFLCH, 1984 (Dissertação de Mestrado).
SPOSITO, Eliseu S. Produção e apropriação da renda fundiária urbana em Presidente Prudente. São Paulo: USP/FFLCH, 1990 (Tese de Doutorado).
TOPALOV, Christian. Le profit, la rente et la ville. Élements de théorie. Paris: Economica, 1984.
NOTAS
1 - Quem viu o filme Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, vai ter uma imagem muito parecida – anos 1960 – àquela que eu vivi em relação ao Cine Vera Cruz.
2 Este texto, em vários trechos, oscila da primeira pessoa do singular para a primeira do plural, dependendo da necessidade de se narrar fatos individuais ou coletivos
3 - Esta frase é referência à melhor música de todos os tempos, para mim, é C’era um ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, de Migliacci e Zambrini, cantada por Gianni Morandi. Em português, foi gravada pelos Incríveis e Engenheiros do Hawai. Ela reúne a revolta com a guerra do Vietnã, o romantismo nômade dos anos 1960 e o sonho de liberdade que moveu a juventude ocidental nessa época.
4 - O conceito de espaço vital de Kurt Lewin não tem nada a ver com o conceito de espaço vital de Friedrich Ratzel.
5 - Inseri, no texto, algumas informações quantitativas que podem ser observadas, com maiores detalhes, em meu CV Lattes, disponível na página do CNPq.
6 - O GAsPERR está cadastrado na Plataforma dos Grupos de Pesquisa do CNPq e na Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UNESP
7 Transcrevo, aqui, texto publicado na revista Entre-Lugares, da UFGD – Dourados. A referência é: SPOSITO, Eliseu S. As Geografias que me fizeram. Revista Entre-Lugar (UFGD. Impresso), v. 10, p. 13-37, 2020. Acredito que o texto mostra, de maneira bem clara, como fui lendo a realidade e utilizando diferentes teorias.
8 SPOSITO, Eliseu S. Geografia e Filosofia. São Paulo: Editora UNESP, 2004.
9 SPOSITO, Eliseu S. Espaço. In: SPOSITO, Eliseu S. Glossário de Geografia Urbana e Econômica. São Paulo: Editora UNESP, 2018, p. 171-186.
10 SPOSITO, Eliseu S. População urbana e rural em São Paulo. Anais. 7º. Congresso Brasileiro de Cartografia. São Paulo, 1975, p. 367-446.
11 SANTOS, Milton. Espaço & método. São Paulo: Nobel, 1985
12 Aqui, utilizo o texto que escrevi com as citações de Popper
 Foto
Foto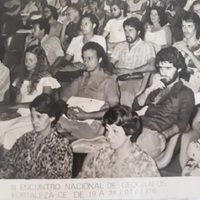 III ENG, Fortaleza, 19 a 24/7/78 – Eliseu S. Sposito, no alto à esquerda.
III ENG, Fortaleza, 19 a 24/7/78 – Eliseu S. Sposito, no alto à esquerda. Olímpio Beleza Martins, Márcio Antonio Teixeira, José Ferrari Leite, Armando Pereira Antônio, Eliseu Sposito, Milton Santos, Maria Encarnação Sposito, na UNESP, campus de Presidente Prudente, 1982.
Olímpio Beleza Martins, Márcio Antonio Teixeira, José Ferrari Leite, Armando Pereira Antônio, Eliseu Sposito, Milton Santos, Maria Encarnação Sposito, na UNESP, campus de Presidente Prudente, 1982. Bernardo M. Fernandes, Eliseu Sposito, Sueli Ângelo, abertura do IX ENG, Presidente Prudente, 1992.
Bernardo M. Fernandes, Eliseu Sposito, Sueli Ângelo, abertura do IX ENG, Presidente Prudente, 1992. Márcio Piñon de Oliveira, David Harvey, Eliseu S. Sposito, em Saint-Dié-des-Vosges, França, 1995 (quando Harvey foi laureado com o prêmio Vautrin Lud).
Márcio Piñon de Oliveira, David Harvey, Eliseu S. Sposito, em Saint-Dié-des-Vosges, França, 1995 (quando Harvey foi laureado com o prêmio Vautrin Lud). Eliseu S. Sposito, Maria Encarnação B. Sposito, Odette Seabra, José Borzacchiello da silva, Margarida Maria Andrade, Silvana Maria Pintaudi, Heinz Dieter Heidemann, Lea Goldenstein, USP, c. 1996.
Eliseu S. Sposito, Maria Encarnação B. Sposito, Odette Seabra, José Borzacchiello da silva, Margarida Maria Andrade, Silvana Maria Pintaudi, Heinz Dieter Heidemann, Lea Goldenstein, USP, c. 1996. Armando Corrêa da Silva, Eliseu S. Sposito, Presidente Prudente, 1998
Armando Corrêa da Silva, Eliseu S. Sposito, Presidente Prudente, 1998 Dióres S. Abreu, Eliseu Sposito, Marcos Alegre, Armen Mamigonian, Messias dos Passos. Presidente Prudente, 1999.
Dióres S. Abreu, Eliseu Sposito, Marcos Alegre, Armen Mamigonian, Messias dos Passos. Presidente Prudente, 1999.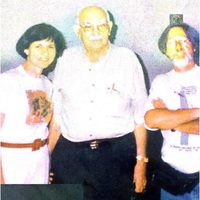 Maria Encarnação Sposito, Manuel Corrêa de Andrade, Eliseu S. Sposito, 2000.
Maria Encarnação Sposito, Manuel Corrêa de Andrade, Eliseu S. Sposito, 2000. Raul Borges Guimarães, Maria Encarnação B. Sposito, Everaldo Santos Melazzo, Sérgio Braz Magaldi, Eliseu S. Sposito, Jayro Gonçalves Melo, núcleo original do GAsPERR, 2001.
Raul Borges Guimarães, Maria Encarnação B. Sposito, Everaldo Santos Melazzo, Sérgio Braz Magaldi, Eliseu S. Sposito, Jayro Gonçalves Melo, núcleo original do GAsPERR, 2001. Jacques Malezieux, Eliseu S. Sposito, Laurent Carroué, Áurea de Miranda Breitbach, Bernard Bret, André Fischer, banca de Áurea Breitbach, Sorbonne, Paris, 2003.
Jacques Malezieux, Eliseu S. Sposito, Laurent Carroué, Áurea de Miranda Breitbach, Bernard Bret, André Fischer, banca de Áurea Breitbach, Sorbonne, Paris, 2003. Com a banca examinadora do concurso de professor titular: José Borzacchielo da Silva, Sandra Lencioni, Eliseu S. Sposito, Ana Fani A. Carlos, Ariovaldo de Oliveira, Pedro Vasconcelos. Presidente Prudente, 2007
Com a banca examinadora do concurso de professor titular: José Borzacchielo da Silva, Sandra Lencioni, Eliseu S. Sposito, Ana Fani A. Carlos, Ariovaldo de Oliveira, Pedro Vasconcelos. Presidente Prudente, 2007 Eliseu S. Sposito, Göteborg, Suécia, 2007.
Eliseu S. Sposito, Göteborg, Suécia, 2007. Eliseu S. sposito, Maria Encanação Sposito. Reunião com orientandos do GAsPERR, 2007.
Eliseu S. sposito, Maria Encanação Sposito. Reunião com orientandos do GAsPERR, 2007. Carla Lanza, Giuseppe Dematteis, Eliseu Sposito, Maria Encarnação Sposito. Presidente Prudente, 2010.
Carla Lanza, Giuseppe Dematteis, Eliseu Sposito, Maria Encarnação Sposito. Presidente Prudente, 2010. Com Renato Pequeno e Denise Elias, Viena, 2012
Com Renato Pequeno e Denise Elias, Viena, 2012 Everaldo Melazzo, Charlei da Silva, Olga Firkowski, Aldomar Ruckert, (?), Solismar Fraga Martins, Eliseu Sposito. Vitória/ES, 2014.
Everaldo Melazzo, Charlei da Silva, Olga Firkowski, Aldomar Ruckert, (?), Solismar Fraga Martins, Eliseu Sposito. Vitória/ES, 2014. Eliseu Sposito, Maria Encarnação Sposito, Rui Jacinto e Isabel Boura. Vale do Douro, 2016
Eliseu Sposito, Maria Encarnação Sposito, Rui Jacinto e Isabel Boura. Vale do Douro, 2016 Carmen Bellet, Eliseu Sposito, Catedral de Lleida, 2009
Carmen Bellet, Eliseu Sposito, Catedral de Lleida, 2009 Eliseu S. Sposito, José Alberto R. Fernandes, Isabel Fernandes. Porto, 2009.
Eliseu S. Sposito, José Alberto R. Fernandes, Isabel Fernandes. Porto, 2009. Eliseu S. Sposito, em frente à estátua de Ibn Khaldun, Túnis, Tunísia, 2008.
Eliseu S. Sposito, em frente à estátua de Ibn Khaldun, Túnis, Tunísia, 2008. Eliseu S. Sposito, Maria Encarnação Sposito, Maria Luísa Santos Abreu, Dióres Santos Abreu. Tunísia, litoral de Túnis, 2008.
Eliseu S. Sposito, Maria Encarnação Sposito, Maria Luísa Santos Abreu, Dióres Santos Abreu. Tunísia, litoral de Túnis, 2008. Visita à Universidade de San Juan, Argentina, com pós-doutorandos e professores do Departamento de Geografia da UNESP, campus de Presidente Prudente, 2008.
Visita à Universidade de San Juan, Argentina, com pós-doutorandos e professores do Departamento de Geografia da UNESP, campus de Presidente Prudente, 2008. João Lima Sant’Anna Neto, José Bueno Conti, Eliseu S. Sposito, Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro. Presidente Prudente, 2008.
João Lima Sant’Anna Neto, José Bueno Conti, Eliseu S. Sposito, Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro. Presidente Prudente, 2008. Carla Lanza, Eliseu S. Sposito, Giuseppe Dematteis e Marcos Saquet, Turim, 2009
Carla Lanza, Eliseu S. Sposito, Giuseppe Dematteis e Marcos Saquet, Turim, 2009 Eliseu S. Sposito, Christian Azaïs, Edilson Alves Pereira Junior, Denise Bomtempo. Paris, 2009.
Eliseu S. Sposito, Christian Azaïs, Edilson Alves Pereira Junior, Denise Bomtempo. Paris, 2009.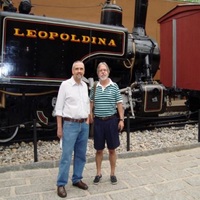 Maurício de Almeida Abreu, Eliseu S. Sposito. Petrópolis, 2009.
Maurício de Almeida Abreu, Eliseu S. Sposito. Petrópolis, 2009. Eliseu Sposito, Cabo da Boa Esperança, África do Sul, 2010.
Eliseu Sposito, Cabo da Boa Esperança, África do Sul, 2010. Dióres S. Abreu, Maria Luisa S. Abreu, Maria Encarnação B. Sposito, Eliseu S. Sposito. Santa Mônica, EUA, final da rota 66, 2011.
Dióres S. Abreu, Maria Luisa S. Abreu, Maria Encarnação B. Sposito, Eliseu S. Sposito. Santa Mônica, EUA, final da rota 66, 2011. Turma do trabalho de campo de Geografia em estância perto de Passo Fundo, 2011.
Turma do trabalho de campo de Geografia em estância perto de Passo Fundo, 2011. Eliseu Sposito, Alessandro Gallo. Roma, Fontana di Trevi, 2013
Eliseu Sposito, Alessandro Gallo. Roma, Fontana di Trevi, 2013 Wanderley Messias da Costa, Eliseu Sposito, Sandra Lencioni. USP, c. 2010.
Wanderley Messias da Costa, Eliseu Sposito, Sandra Lencioni. USP, c. 2010. Maria Encarnação e Eliseu Sposito. Niagara Falls, EUA, 2011.
Maria Encarnação e Eliseu Sposito. Niagara Falls, EUA, 2011. Eliseu S. Sposito, em frente à Catedral de São Basílio, Moscou, 2012.
Eliseu S. Sposito, em frente à Catedral de São Basílio, Moscou, 2012. Márcio A. Teixeira, Leny M. Teixeira, Eliseu S. Sposito e Maria Encarnação B. Sposito, em frente ao Museu Hermitage, São Petersburgo, 2012.
Márcio A. Teixeira, Leny M. Teixeira, Eliseu S. Sposito e Maria Encarnação B. Sposito, em frente ao Museu Hermitage, São Petersburgo, 2012. Eduarda Costa, Nuno Costa, Maria Encarnação B. Sposito, Eliseu S. Sposito. Cabo da Roca. Ponto mais ocidental da Europa, 2012.
Eduarda Costa, Nuno Costa, Maria Encarnação B. Sposito, Eliseu S. Sposito. Cabo da Roca. Ponto mais ocidental da Europa, 2012. Recebendo diploma de aperfeiçoamento na língua inglesa: Eliseu Sposito e Profa. Barbara, Vancouver, 2013.
Recebendo diploma de aperfeiçoamento na língua inglesa: Eliseu Sposito e Profa. Barbara, Vancouver, 2013. Maria Encarnação Sposito, Eliseu Sposito. Santiago do Chile, 2014.
Maria Encarnação Sposito, Eliseu Sposito. Santiago do Chile, 2014. Valentín Cabero Diéguez, Eliseu S. Sposito. Universidade de Salamanca, 2012
Valentín Cabero Diéguez, Eliseu S. Sposito. Universidade de Salamanca, 2012 Planejando trabalho de campo: Eduardo San Marful, Eliseu Sposito, Paulo Jurado da Silva, Havana, Cuba, 2013.
Planejando trabalho de campo: Eduardo San Marful, Eliseu Sposito, Paulo Jurado da Silva, Havana, Cuba, 2013. Eliseu S. Sposito e amigos. Machu Picchu, Peru, 2014
Eliseu S. Sposito e amigos. Machu Picchu, Peru, 2014 Eliseu S. Sposito, Maria Encarnação B. Sposito, Jorge Gaspar, Eda Maria Góes. Porto de Sines, Portugal, 2013
Eliseu S. Sposito, Maria Encarnação B. Sposito, Jorge Gaspar, Eda Maria Góes. Porto de Sines, Portugal, 2013 Eliseu Sposito, Dubrovnik, 2014
Eliseu Sposito, Dubrovnik, 2014 Sérgio Moreno Redón, Eliseu Sposito, Maria Encarnação Sposito, Doralice Sátyro Maia, ruínas maias em El Salvador, 2014
Sérgio Moreno Redón, Eliseu Sposito, Maria Encarnação Sposito, Doralice Sátyro Maia, ruínas maias em El Salvador, 2014 Transmissão da diretoria da ANPEGE (2012-2014) para a diretoria seguinte (2014-2015): João Lima Sant’Anna Neto, Charlei A. Silva, Teresa Paes, Eliseu S. Sposito, Lindon Fonseca Matias, Campinas, 2014.
Transmissão da diretoria da ANPEGE (2012-2014) para a diretoria seguinte (2014-2015): João Lima Sant’Anna Neto, Charlei A. Silva, Teresa Paes, Eliseu S. Sposito, Lindon Fonseca Matias, Campinas, 2014.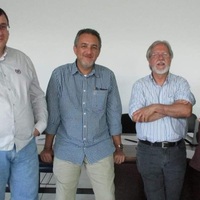 Diretoria ANPEGE 2014-2015: Charlei A. da Silva, Everaldo S. Melazzo, Eliseu S. Sposito e João L. Sant’Anna Neto, Presidente Prudente, 2015
Diretoria ANPEGE 2014-2015: Charlei A. da Silva, Everaldo S. Melazzo, Eliseu S. Sposito e João L. Sant’Anna Neto, Presidente Prudente, 2015 Transmissão para a nova diretoria da ANPEGE (2015-2017): Charlei A. Silva, Dirce Suertegaray e Cláudia Pires, com Aline Coimbra e Eliseu S. Sposito, Porto Alegre, 2015
Transmissão para a nova diretoria da ANPEGE (2015-2017): Charlei A. Silva, Dirce Suertegaray e Cláudia Pires, com Aline Coimbra e Eliseu S. Sposito, Porto Alegre, 2015 Dia de assembleia final da ANPEGE, quando foi eleita Dirce Suertegaray para a presidência da ANPEGE (gestão 2015-2017). Na foto: Márcio P. de Oliveira, Eliseu S. Sposito, Valdir Steinke, Dirce Suertegaray, Charlei A. da Silva, Aline Coimbra, Everaldo S. Melazzo, Presidente Prudente, 2015.
Dia de assembleia final da ANPEGE, quando foi eleita Dirce Suertegaray para a presidência da ANPEGE (gestão 2015-2017). Na foto: Márcio P. de Oliveira, Eliseu S. Sposito, Valdir Steinke, Dirce Suertegaray, Charlei A. da Silva, Aline Coimbra, Everaldo S. Melazzo, Presidente Prudente, 2015. Mesa da Assembleia Geral do XI ENANPEGE. Aline Coimbra, Eliseu S. sposito, Charlei A. Silva, Cornélio Vilarinho, Everaldo S. Melazzo, Valdir Steinke. Presidente Prudente, 2015.
Mesa da Assembleia Geral do XI ENANPEGE. Aline Coimbra, Eliseu S. sposito, Charlei A. Silva, Cornélio Vilarinho, Everaldo S. Melazzo, Valdir Steinke. Presidente Prudente, 2015. Eliseu S. Sposito, Usina de Belo Monte, Pará, 2015
Eliseu S. Sposito, Usina de Belo Monte, Pará, 2015 Eliseu Sposito. Angkor, Camboja, 2016
Eliseu Sposito. Angkor, Camboja, 2016 Eliseu e Carminha, Hanoi, Vietnã, 2016
Eliseu e Carminha, Hanoi, Vietnã, 2016 Workshop ReCiMe. De pé: Mara Lúcia da Hora, Roberto L. Corrêa, Maria José Martinelli, Hélio C. Oliveira, Wagner Batella, François Moriconi-Ébrard, Jacques Demazière, Márcio Catelan, Cathy Chatel, Cleverson Reolon, Federico Arenas, Alexandre, Jean Bitoun, três não reconhecidos. Sentadas à mesa: Maria Encarnação Sposito, Beatriz Soares, Ana Laura, 2017. Sentados abaixo da mesa: Vitor Miyasaki, Eliseu Sposito, Doralice Maia, Arthur Whitacker, Denise Elias, Andréa Porto-Sales, William R. da Silva. Rio de Janeiro, 2016
Workshop ReCiMe. De pé: Mara Lúcia da Hora, Roberto L. Corrêa, Maria José Martinelli, Hélio C. Oliveira, Wagner Batella, François Moriconi-Ébrard, Jacques Demazière, Márcio Catelan, Cathy Chatel, Cleverson Reolon, Federico Arenas, Alexandre, Jean Bitoun, três não reconhecidos. Sentadas à mesa: Maria Encarnação Sposito, Beatriz Soares, Ana Laura, 2017. Sentados abaixo da mesa: Vitor Miyasaki, Eliseu Sposito, Doralice Maia, Arthur Whitacker, Denise Elias, Andréa Porto-Sales, William R. da Silva. Rio de Janeiro, 2016 Nelson Rego, Eliseu Sposito, Rogério Haesbaert, Carlos W. Porto-Gonçalves, ANPEGE, Porto Alegre, 2017
Nelson Rego, Eliseu Sposito, Rogério Haesbaert, Carlos W. Porto-Gonçalves, ANPEGE, Porto Alegre, 2017 Eliseu S. Sposito com o professor Rodolfo Horle, que me incentivou a fazer Geografia (quando estudante secundarista em 1962). Mogi das Cruzes, 2018
Eliseu S. Sposito com o professor Rodolfo Horle, que me incentivou a fazer Geografia (quando estudante secundarista em 1962). Mogi das Cruzes, 2018 Reunião da equipe do projeto temático FragUrb. De pé: Antonio Bernardes, Natália Brito, Cleiton Silva, Julio Zandonadi, Patrícia de Jesus, Maria José Martinelli, Márcio Catelan, Marcus Vinícius, Patrícia Milani, Bruno Vicente, Maria Encarnação Sposito, Igor Catalão, Wagner Batella, Eda Góes, Cleverson Reolon, Vitor Miyasaki, Wagner Amorin, Renata Rizzon, Nécio Turra Neto, Taís da Cruz, Vanessa Lacerda. Sentados: José Sobreiro Fo., Matthew Richmond, Everaldo Melazzo, Jean Legroux, Eliseu Sposito, Alejandro Morcuende, Cláudio Smalley Pereira, Késia Silva, Arthur Whitacker, reitoria da UNESP, São Paulo, 2018
Reunião da equipe do projeto temático FragUrb. De pé: Antonio Bernardes, Natália Brito, Cleiton Silva, Julio Zandonadi, Patrícia de Jesus, Maria José Martinelli, Márcio Catelan, Marcus Vinícius, Patrícia Milani, Bruno Vicente, Maria Encarnação Sposito, Igor Catalão, Wagner Batella, Eda Góes, Cleverson Reolon, Vitor Miyasaki, Wagner Amorin, Renata Rizzon, Nécio Turra Neto, Taís da Cruz, Vanessa Lacerda. Sentados: José Sobreiro Fo., Matthew Richmond, Everaldo Melazzo, Jean Legroux, Eliseu Sposito, Alejandro Morcuende, Cláudio Smalley Pereira, Késia Silva, Arthur Whitacker, reitoria da UNESP, São Paulo, 2018 Encontro da Royal Geographical Society. José Sobreiro Filho, Antonio Ioris, André Berezuk, Tatiana Schor, Maria Encarnação Sposito, Bernardo Fernandes, Eliseu Sposito. Cardiff, 2018
Encontro da Royal Geographical Society. José Sobreiro Filho, Antonio Ioris, André Berezuk, Tatiana Schor, Maria Encarnação Sposito, Bernardo Fernandes, Eliseu Sposito. Cardiff, 2018 Silvia Selingardi-Sampaio, Olga Firkowski, Sandra Lencioni, Eliseu Sposito. Durante II SEMDE, Presidente Prudente, 2018
Silvia Selingardi-Sampaio, Olga Firkowski, Sandra Lencioni, Eliseu Sposito. Durante II SEMDE, Presidente Prudente, 2018 Eliseu S. Sposito apresentando trabalho na FAPESP WEEK, CUNY, Nova York, 2018
Eliseu S. Sposito apresentando trabalho na FAPESP WEEK, CUNY, Nova York, 2018 Representantes dos Programas de Pós-Graduação. Reunião da ANPEGE, UNESP, São Paulo, 2019
Representantes dos Programas de Pós-Graduação. Reunião da ANPEGE, UNESP, São Paulo, 2019 Durante o XVII EGAL, Quito: Arthur Whitacker, Celso Locatel, Bernardo Fernandes, Eliseu Sposito, Diana Lan, Doralice Maia, Carlos Augusto Amorim, 2019
Durante o XVII EGAL, Quito: Arthur Whitacker, Celso Locatel, Bernardo Fernandes, Eliseu Sposito, Diana Lan, Doralice Maia, Carlos Augusto Amorim, 2019 I SINGER, Xinguara, PA: Eudes Leopoldo, Sérgio M. Redón, Jan Bitoun, Iná E. de Castro, Saint-Clair C. Trindade, Kelly Bessa, Olga Firkowski, Eliseu Sposito, Sandra Lencioni, Hugo Serra, Rita de Cássia Cruz, 2019
I SINGER, Xinguara, PA: Eudes Leopoldo, Sérgio M. Redón, Jan Bitoun, Iná E. de Castro, Saint-Clair C. Trindade, Kelly Bessa, Olga Firkowski, Eliseu Sposito, Sandra Lencioni, Hugo Serra, Rita de Cássia Cruz, 2019 Minha querida família, todos Sposito. Da esquerda para a direita: Joana, Maria Amélia, Ítalo, Otto, Eliseu, Théo, Carminha, Caio e Fabiana. Presidente Prudente, agosto de 2020
Minha querida família, todos Sposito. Da esquerda para a direita: Joana, Maria Amélia, Ítalo, Otto, Eliseu, Théo, Carminha, Caio e Fabiana. Presidente Prudente, agosto de 2020 Breve autobiografia
Breve autobiografia